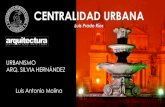Vol. 19, nº 2 · 2017-05-19 · El texto evoca la transición liberal de los 1990 y la reforma...
Transcript of Vol. 19, nº 2 · 2017-05-19 · El texto evoca la transición liberal de los 1990 y la reforma...

Vol. 19, nº 2
ISSN 0104-6276

REVISTA OPINIÃO PÚBLICA
ISSN 0104-6276 (impressa)
Revista publicada pelo Centro de Estudos de Opinião Pública Coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa
Universidade Estadual de Campinas
Editora: Rachel Meneguello
Departamento de Ciência Política Universidade Estadual de Campinas
Editora Assistente: Fabíola Brigante Del Porto Secretaria e Produção Técnica: Regina Celi de Sales Ferreira Assistente: Melisssa Cristina Cestarolli
CONSELHO EDITORIAL
André Blais Département de Science Politique
Université de Montréal
Aníbal Pérez-Liñán Department of Political Science
University of Pittsburgh
Catalina Romero Departamento de Ciencias Sociales
Pontificia Universidad Católica del Perú
Charles Pessanha Departamento de Ciência Política
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fábio Wanderley Reis Departamento de Ciência Política
Universidade Federal de Minas Gerais
Ingrid van Biezen Department of Political Science
Leiden University
Leôncio Martins Rodrigues Netto Departamento de Ciência Política
Universidade de Campinas e Universidade de São Paulo
Lúcia Mercês de Avelar Instituto de Ciência Política
Universidade de Brasília e Universidade de Campinas
Marcello Baquero Departamento de Ciência Política
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Maria Laura Tagina
Escuela de Política y Gobierno Universidad Nacional de San Martín
Marina Costa Lobo
Instituto de Ciências Sociais Universidade de Lisboa
Mitchell Seligson
Department of Political Science Vanderbilt University
Mônica de Castro Mata Machado Departamento de Ciência Política
Universidade Federal de Minas Gerais
Peter Birle
Ibero-Amerikanisches Institut
Ulises Beltrán
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Víctor Manuel Durand Ponte Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Publicação indexada no Sociological Abstracts; HAPI (Hispanic American Periodicals Index); IBSS (International Bibliography of the Social Sciences); HLAS (Handbook of Latin American Studies); Portal QUÓRUM de Revistas Iberoamericanas; SciELO; RedALyC; EBSCO; CLASE- Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades; DOAJ- Directory of Open Access; LATINDEX
ROP é publicada pelo CESOP desde 1993 e está aberta à submissão de artigos científicos. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não expressando a opinião dos membros do Conselho Editorial ou dos órgãos que compõem o CESOP. As normas para submissão de artigos estão em www.scielo.br/op ou no verso da contra-capa deste volume.
Endereço para submissão de artigos:
Para entrar em contato:
[email protected] REVISTA OPINIÃO PÚBLICA
Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, CESOP, Rua Cora Coralina s/n Campinas - São Paulo - CEP: 13083-896 Brasil
tel.: (+55) 19-3521-1709 - 3521-7093/fax: (+55) 19-3289-4309
Tiragem 300 exemplares
visite a ROP em: www.cesop.unicamp.br
www.scielo.br/op

Novembro de 2013 Vol. 19, nº 2
SUMÁRIO
Pág.
Continuidad y cambios en una vieja democracia de partidos – Uruguay (1910-2010)
1. Jorge Lanzaro
2.
235
A dimensão geográfica das eleições brasileiras
Thiago Marzagão
270
Sofisticação política e opinião pública no Brasil: revisitando hipóteses clássicas
Frederico Batista Pereira
291
A afeição dos cidadãos pelos políticos mal-afamados: identificando os perfis associados à aceitação do ‘rouba, mas faz’ no
Brasil
Robert Bonifácio
320
O que pensa quem ‘bate à porta’ de uma Casa que só ‘apanha’? Percepções e orientações dos visitantes sobre o Congresso
Nacional
Ana Lúcia Henrique
346
Impacto da educação cívica sobre o conhecimento político: a experiência do Programa Parlamento Jovem de Minas Gerais
Thiago Sampaio
Marina Siqueira
380
Uma avaliação empírica da competição eleitoral para a Câmara Federal no Brasil
Glauco Peres da Silva
403
Determinantes dos padrões de carreira política dos deputados federais paulistas entre as legislaturas 49ª (1991-1995) e 53ª
(2006-2011)
Wagner Pralon Mancuso
Carolina Uehara
Anita de Cássia Sbegue
Carolina Miranda Sampaio
430
O poder no Executivo: uma análise do papel da Presidência e dos Ministérios no presidencialismo de coalizão brasileiro (1995-
2010)
Mariana Batista
449
TENDÊNCIAS Encarte de Dados: Os protestos no Brasil
Editores de Opinião Pública
475
OPINIÃO PÚBLICA
Campinas
Vol. 19, nº 2 p.235-485
Novembro de 2013
ISSN 0104-6276
ISSN 0104-6276

OPINIÃO PÚBLICA/ CESOP/ Universidade Estadual de Campinas –
vol. 19, nº 2, Noovembro de 2013 – Campinas: CESOP, 2013.
Revista do Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade
Estadual de Campinas.
Semestral
ISSN 0104-6276 (versão impressa)
1. Ciências Sociais 2. Ciência Política 3. Sociologia 4. Opinião Pública I.
Universidade de Campinas II. CESOP

Jorge Lanzaro Instituto de Ciencia Política
Universidad de la República (Uruguay)
Resumo: Este artículo revisita la vieja democracia de partidos uruguaya - la más antigua y una de las pocas de América Latina -
retomando críticamente aportes señeros y propuestas propias, para señalar cambios y continuidades en el correr de cien años.
Tratando de no caer en el excepcionalismo, el texto hilvana referencias comparativas, que encuadran la originalidad del caso
uruguayo y permiten resaltar el potencial que su análisis tiene para la Política Comparada. La primera parte repasa el modelo
genético y los rasgos típicos del régimen, que explican sus ventajas comparativas: los factores originarios, la matriz poliárquica,
el presidencialismo pluralista, una democracia consociational sui generis, hecha de partidos políticos y no de clivajes sociales. La
segunda parte aborda la gran transformación que sigue a la transición democrática de los 1980, mostrando un sistema de
partidos que cambia sin desarticularse, recomponiendo su estructura plural y competitiva. El texto evoca la transición liberal de
los 1990 y la reforma constitucional de 1996, el fin del bipartidismo tradicional, el perfil de predominante que alcanza el Frente
Amplio y su debut con un gobierno de tipo social democrático, comparable a las social democracias “tardías” de Europa
Meridional. En todos estos lances, la centenaria democracia de partidos uruguaya - que en su momento no pudo evitar la
dictadura 1973-1984 - vuelve a hacer la diferencia y al cabo de un proceso histórico largo y gradual, termina acuñando una nueva
norma política.
Palavras-chave: Uruguay; democracia de partidos; sistema de partidos; historia política
Abstract: This article "revisits" the old Uruguayan party democracy - the eldest and one of the few in Latin America- reviewing well-
known contributions as well as my own proposals, to point out persistence and changes during the last century. Trying to avoid
“exceptionalism”, the text interweaves comparative references, which provide a framework for the originality of the Uruguayan
case and make it possible to further highlight its potential for Comparative Politics. The first part reviews the genetic model and
the typical features of the Uruguayan regime, explaining its comparative advantages: the historical background and the polyarchy
origins, pluralist presidentialism, and a sui generis consociational democracy, made up by political parties and not of social
cleavages. The second part deals with the great transformation following the democratic transition of the 1980, arising from the
changes in the party system, which do not prompt its breakdown but instead reshape its plural and competitive structure. This
section reviews the liberal transition of the 1990 and the 1996 constitutional reform, the decline of the traditional two-party
system and the Frente Amplio's development into a predominant party, including its debut with a social democratic government,
which echoes the “late” social democracies in Southern Europe. Through all this, the renewed Uruguayan party democracy -
which at the time could not avoid the dictatorship 1973-1984 - continues to make a difference and at the end of a long and
gradual process, forges a new political norm.
Keywords: Uruguay; party democracy; party system; political history

Introducción1
La democracia uruguaya ha sido históricamente una democracia de partidos. Como tal,
constituye un caso bastante inusual en América Latina. Es una de las democracias de partidos más
antiguas del mundo y una de las más viejas de la región, ya que ha podido persistir desde comienzos del
siglo XX, con dos interrupciones autoritarias y a través de una sucesión de cambios significativos.
La expresión democracia de partidos (Parteiendemokratie, Party Democracy) es la más
adecuada para definir el régimen uruguayo, se emparenta con la idea de “república de partidos” o con la
noción de party government y comporta un juicio positivo: una valoración acorde con las posturas que
consideran a los partidos como actores imprescindibles de la democracia moderna, las cuales se abren
camino desde principios del siglo XX y más nítidamente, a partir de los años 1940, después de las
experiencias autoritarias precedentes2.
El término “partidocracia”, que también destaca la centralidad de los partidos en la civilización
uruguaya (ROMEO PÉREZ, 1984; CAETANO, RILLA & PÉREZ, 1988), tiene en política comparada una
connotación crítica y hasta peyorativa. En esta tecla, la partidocracia se concibe como “una indebida
dominación de las partes sobre el todo” (BOBBIO, 1991); una presencia “intrusiva” en la política y en la
sociedad, o incluso como una “tiranía de los partidos”, que distorsiona las instituciones formales de
gobierno (SARTORI, 1994); resultando “particularmente perjudicial” para la democracia, cuando aparece
en un régimen presidencial (COPPEDGE, 1994). El ejemplo más conocido de este enfoque negativo lo
ofrece el empleo del término “partitocrazia”, que se hizo común en Italia desde fines de los años 1950,
durante la vigencia del sistema de partidos constituido en la segunda postguerra, en una denominación
marcada por sentimientos de “indictment and alarm” (LAPALOMBARA, 1987). En cambio, para caracterizar
el régimen italiano de esa época con una valoración positiva, se ha usado el término “reppublica dei
partiti” (SCOPPOLA, 1991), que remonta la concepción clásica de la república de ciudadanos y se
identifica de hecho con la noción más moderna de la democracia de partidos. En América Latina se ha
hablado de “partyarchy” respecto a Colombia, a Honduras y especialmente a Venezuela, mientras duró el
1 Una versión más breve de este trabajo “Persistence and Change in an Old Party Democracy”, se publicó en Lawson & Lanzaro
(2010). 2 Como es sabido, para las concepciones liberales primarias y en las ediciones constitucionales de los siglos XVIII y XIX, los
partidos eran intromisiones indeseables que las normativas jurídicas debían eventualmente proscribir. Con el advenimiento del
sufragio universal y de la política de masas moderna, desde el tránsito al siglo XX, los partidos pasan a ser vistos como agentes
benéficos y hasta imprescindibles, para organizar el sistema político y poner en obra la democracia. Esta perspectiva se refuerza
al influjo de las crisis políticas de la primera mitad del siglo XX y visto que varios de los regímenes autoritarios de entonces, en
particular los fascismos, renegaban de la democracia representativa y proponían organizaciones de masas de otro tipo. A esas
lecciones negativas se sumaron las enseñanzas positivas de los partidos democráticos que reconquistan legitimidad en las
transiciones que marcan la salida de las dictaduras. Así pues, a partir de los años 1940, las posturas se revierten y llega incluso
a prosperar la idea de que “la democracia moderna es impensable si no es en términos de partidos” (SCHATTSCHNEIDER, 1942).
Algo que Kelsen ya había proclamado en los años 1920, en tiempos de la República de Weimar: “es ilusorio o hipócrita sostener
que la democracia es posible sin partidos políticos” - “la democracia es necesaria e inevitablemente el gobierno de los partidos
(Parteienstaat), (citado por Manin, 1997, p. 211). Con una proyección que trasciende las comarcas europeas, el clásico manual
de Maurice Duverger (1951) se convierte en un referente emblemático de la valoración positiva de los partidos. En la misma
línea se ubica Robertson (1976): “To talk, today, about democracy, is to talk about a system of competing political parties”, así
como el trabajo señero de John Aldrich (Why Parties?, 1995). Para un análisis de las posiciones con respecto a los partidos ver el
repaso erudito de Susan Stokes (1999) y el texto de Hans Daalder (2002), quien propone una excelente sistematización y una
certera crítica anti-crítica. En los debates contemporáneos de Teoría Política, Nadia Urbinati vuelve a hacer una defensa sólida de
la democracia representativa y del papel fundamental que tienen en ella los partidos (URBINATI, 2006). En América Latina, como
en otras regiones, se advierte asimismo que las democracias con sistemas de partidos consistentes, tienden a ser más estables y
duraderas, aun con interrupciones autoritarias (DRAKE, 2009; HARTLYN & VALENZUELA, 1998). Por cierto, a pesar de este
reconocimiento, vuelta a vuelta y particularmente en las coyunturas históricas de cambio, suelen medrar las ideologías anti-
partido, de izquierda y de derecha, en un arco que va desde el “democratismo ingenuo” a las tendencias autoritarias.

sistema de partidos formado a partir del Pacto de Punto Fijo, desde 1958 hasta la crisis terminal de
fines de los 1990 (COPPEDGE, 1994). Recientemente, también el sistema chileno ha sido analizado en
términos críticos como “partidocracia” (SIAVELIS, 2009).
El régimen uruguayo se basa en un sistema de partidos plural y competitivo, de larga vida, que
alcanza un alto grado de institucionalización. El sistema de partidos nació con el país mismo - en la
primera mitad del siglo XIX - y se ubica entre los más longevos del mundo (SOTELO, 1999). Inicialmente
fue un sistema bipartidista, integrado por el Partido Colorado (“colorados”) y el Partido Nacional
(“blancos”), que dominaron la arena política desde las guerras civiles originarias hasta las últimas
décadas del siglo XX. Los dos conjuntos se constituyeron desde un principio como partidos populares
catch-all y tuvieron una fuerte implantación ciudadana, así como una densa red de linkages con los
gremios empresariales y las más diversas organizaciones de la sociedad civil, desde los clubes de fútbol
y los agrupamientos de emigrantes, a las mutualistas o las asociaciones de funcionarios públicos
(LANZARO, 1986; GONZÁLEZ, 1993).
A su sombra y más de una vez como compañeros de ruta, convivían los “partidos de ideas”
(Partido Socialista, Unión Cívica, Partido Comunista), fundados precisamente cuando se asienta la
democracia electoral, a partir del año clave de 1910. Al comienzo y por muchas décadas, fueron partidos
de tipo ideológico, con escasa convocatoria electoral, que obraban como núcleos testimoniales y partidos
“picana” vis à vis los sectores tradicionales. Ganaron cierta importancia política en la transición
democrática que se abre hacia mediados de los años 1930 y especialmente desde los 1940, al
convertirse en “partidos de apoyo” del segundo batllismo, en un cuadro de alianzas o coaliciones
“implícitas”. Intervinieron entonces en la articulación de algunas propuestas estratégicas, como es el
caso, tan relevante, de la norma de 1943 que estableció, en el mismo cuerpo legal, los primeros consejos
de salarios y el régimen de asignaciones familiares. La participación consecutiva en el segmento de
representación corporativa, en los propios consejos de salarios y en la administración tripartita de la
seguridad social, proporciona fuentes de poder - subordinadas, pero significativas - que conquistaron
sobre todo los comunistas y los socialistas, gracias a sus bases en el movimiento sindical (LANZARO,
1986).
Los dos partidos mayores sobrellevaron varios ciclos de crisis y fueron los protagonistas
principales en sucesivas fases de cambio, en una secuencia histórica a lo largo de la cual ambas
colectividades y el sistema en su conjunto tuvieron diversas configuraciones. Sin embargo, a diferencia
de lo que ocurrió durante mucho tiempo, el bipartidismo tradicional no salió ileso de la última coyuntura
crítica. En el correr de los años 1960 y en el marco de la crisis política que terminó llevándonos a la
dictadura, los viejos partidos de ideas pusieron en obra nuevas estrategias y en coalición con sectores
provenientes de tiendas blancas y coloradas, formaron el Frente Amplio (1971), que se constituyó como
congregación unitaria de la izquierda y logró abrir una brecha en el bipartidismo.
A partir de la transición democrática que se inició en 1980, el sistema de partidos recuperó
consistencia y centralidad, pasando por un segundo ciclo de cambios que dio lugar a una transformación
formidable: los partidos tradicionales perdieron terreno, mientras que el Frente Amplio confirmó su
tercería y logró un crecimiento sostenido. En 1999 llegó a convertirse en el partido más grande del

espectro uruguayo y en 2004 conquistó finalmente el gobierno, reteniéndolo por un segundo período en
2009.
Se consolidó así un realineamiento gradual, duradero y de gran envergadura. La izquierda logró
adquirir una posición mayoritaria y el bloque de los partidos tradicionales fue bajando paso a paso su
caudal (Tabla 1). En las elecciones de 1984, que franquearon el regreso a la democracia, los blancos y
los colorados todavía recababan entre ambos el 81% de los votos; diez años más tarde, en las elecciones
de 2004, juntaron el 46% de los votos (porcentaje que se repite en 2009). El Partido Colorado - que
gobernó por períodos que en conjunto suman más de cien años - quedó reducido en la elección de 2004
a un magro 10%, remontando al 17% en 20093. Por ende, el sistema de partidos persiste, en una clave
de continuidad y cambio. Todos sus integrantes siguen en carrera, aunque ha habido una mutación
estructural, que modifica el lugar que ocupan y las funciones que cumplen en el sistema.
Tabla 1
Apoyo Electoral por Bloques 1971-2009
Votos Válidos (%)
Partido Colorado + Partido
Nacional Frente Amplio
1971 81 18
1984 76 21
1989 69 21
1994 63 30
1999 55 40
2004 46 52
2009 46 48
Fuente: Banco de Datos FCS - Área Política y Relaciones Internacionales: http://www.edu.uy/pri.
Este proceso confirma la idea de que una institucionalización fuerte no es sólo la que prevalece en
situaciones estáticas que implican eventualmente el freezing del sistema de partidos (LIPSET & ROKKAN,
1967), sino precisamente la que transita con cierta entereza por una mutación de gran calado, poniendo
a prueba la capacidad de adaptación y de control político de los partidos y de los sistemas de partidos,
ante cambios significativos que alteran las estructuras de competencia y las relaciones con ante cambios
significativos que alteran las estructuras de competencia y las relaciones con la ciudadanía (MAIR, 1997)4.
3 Salvas las distancias, la transformación del sistema de partidos uruguayo podría compararse con la que experimentó Inglaterra
durante las primeras décadas del siglo XX, particularmente después del establecimiento del sufragio universal en 1918: una fase
durante la cual el Partido Laborista fue creciendo, hasta devenir el contrincante principal del Partido Conservador, mientras que
el Partido Liberal pasó a una tercería de caudal bajo, pero se ha mantenido en competencia (con una gran pendiente desde los
años 1930 hasta los 1970, que luego consiguen remontar). 4 Mutaciones significativas en el modelo de desarrollo, la forma del Estado, los medios de comunicación, la estructura política y
el propio sistema de partidos, que suelen ir acompañadas de cambios en el gobierno, el régimen electoral, la organización de los
partidos y sus élites, sus modalidades de reproducción y sus recursos de poder, el tipo de linkages y las pautas de legitimación
… La coyuntura crítica por la que ha atravesado Uruguay y el conjunto de los países de América Latina en las últimas décadas, es

En este sentido, valen las observaciones de Alfredo M. Errandonea (padre), sosteniendo - en
referencia al caso uruguayo - que las mutaciones electorales en democracias pluralistas con ejercicios
efectivos de sufragio universal, pueden ser consideradas como un indicador de estabilidad política, en la
medida que no desbordan las estructuras institucionales y los encuadres de partido (ERRANDONEA, 1972).
La democracia uruguaya ha sido en gran medida obra de los partidos y está ligada a las
vicisitudes del sistema de partidos, sus períodos de prosperidad y sus debilidades, sus crisis y sus
cambios. Esta circunstancia modela nuestro régimen democrático, lo ubica entre los más estables y
duraderos de América Latina - aun contando las interrupciones sufridas en el siglo XX (DRAKE, 2009;
HARTLYN & VALENZUELA, 1998) - y tiene las consecuencias que se asocian usualmente con la política de
partidos plural y competitiva.
Este rasgo fundamental tiende a moderar la concentración de poderes y propone mejores
equilibrios en la distribución de la autoridad pública. En una geometría “madisoniana”, para que los
checks and balances y los cursos del pluralismo político resulten efectivos, la separación de poderes
debe ser apuntalada por dispositivos institucionales apropiados, con diseños orgánicos, reglas e
incentivos conducentes, así como recursos funcionales suficientes (MADISON, 1788; CARROLL & SHUGART,
2007). Pero además de buenos diseños, se requiere de un sistema de partidos plural y competitivo,
cuyas energías aniden en las instituciones y animen efectivamente su funcionamiento, regando en forma
adecuada la vida democrática. Esto delinea una diferencia decisiva entre los regímenes políticos y en el
ámbito particular de América Latina genera una distinción básica entre los presidencialismos con
partidos y los presidencialismos sin partidos (LANZARO, 2011b) 5.
Tal distinción vale en términos históricos a largo plazo y en particular para los dos grandes
ciclos por los que ha atravesado América Latina en las últimas décadas: para catalogar los gobiernos que
llevaron adelante las reformas pro-mercado, de signo neo-liberal (especialmente en la década de los
1990) y también los gobiernos de izquierda que se multiplican a comienzos del siglo XXI (LANZARO, 2006;
2008; 2011a).
La competencia efectiva y el balance de poderes son los factores más relevantes para el
surgimiento y la afirmación de estructuras democráticas poliárquicas en los procesos de fundación de los
sistemas políticos (BARRINGTON MOORE, 1966; DAHL, 1971). En sus análisis sobre la viabilidad y la
estabilidad a largo plazo de las democracias, Robert Dahl identifica las distintas trayectorias que
modelan las transiciones históricas originarias y concluye que la ruta competitiva (“the way of
competitive oligarchy”) es la más propicia para el establecimiento de un régimen de poliarquía duradero
(DAHL, 1971, p. 36). El caso de Uruguay es en este sentido ejemplar.
Considero que este principio competitivo, en obra para la “acumulación primitiva”, es también
válido para las coyunturas críticas sucesivas, que constituyen otras tantas estructuras de oportunidad, en
en este sentido un laboratorio formidable, en el que tales fenómenos se encadenan, de modo que los partidos y los sistemas de
partidos atraviesan por una fase de “darwinismo político” (COPPEDGE, 2001; LANZARO, 2007a). 5 Como enseña Duverger (1951): “Le degré de séparation des pouvoirs dépend beaucoup plus du système des partis que des
dispositions prévues par les Constitutions. ... La séparation réelle des pouvoirs est donc le résultat d´une combinaison entre le
système des partis et le cadre constitutionnel”. En el mismo sentido va la sentencia de Hofstadter: “It is necessary to have more
than ‘a scheme of checks and balances within the government’... So in a republic ‘parties take the place of the old system of
balances and checks’” (HOFSTADTER, 1969, retomando ideas expuestas por Frederick Grimke, en The Nature and Tendency of Free Institutions, 1848).

las que puede haber, una y otra vez, alternativas democráticas y posibilidades de construcción pluralista.
Ese basamento pluralista delinea un patrón decisorio marcado por los equilibrios entre mayorías y
minorías, con metabolismos que tienden a generar eventualmente consensos más extensos o al menos,
disensos más limitados. Los productos políticos suelen ser por ende gradualistas y moderados, mediante
“ajustes incremementales” y por caminos sinuosos (en lógicas de “muddling through”), resultando por
eso mismo más estables y confirmando que las democracias “no se mueven a grandes saltos” (LINDBLOM,
1959).
Esta métrica parece dar algo de razón a los devotos de la ideología del “bloqueo”, que hoy como
ayer, menudean a izquierda y derecha. Sin embargo, más que al “conservadurismo de la democracia”
(HUNTINGTON, 1968), ese canon responde a “la inteligencia de la democracia” (LINDBLOM, 1965) y remite a
la manera como se tramitan por lo general los cambios en los regímenes pluralistas.
Además, la política de partidos competitiva abre posibilidades para la redistribución de poderes
y de bienes en la economía y en la sociedad - mediante intervenciones reguladoras y prestaciones
públicas - a través de compromisos que atienden a los requerimientos de los sectores populares y de las
clases medias, pero al mismo tiempo contemplan los intereses y los riesgos de “escape” de las clases
altas. Por otra parte, las reacciones conservadoras y los empujes liberales, que generan movimientos
pendulares y focos de polarización, pueden pasar por un tamiz de vetos y políticas de ajuste, que
también los hacen relativamente moderados.
Contrariamente a lo que surge de algunos enfoques teóricos, es el pluralismo en la política el
que permite que florezca el pluralismo en la sociedad. Y no al revés. El pluralismo es con frecuencia
analizado a partir de las configuraciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta el número, la pluralidad
y la autonomía de los sujetos que la componen: las “desigualdades dispersas” o un supuesto equilibrio
de los actores sociales y de las organizaciones colectivas, como titulares de intereses y poderes que
compiten entre sí y se relacionan con la autoridad central del gobierno, contraponiéndose a ella y
articulando sus demandas6. Desde una perspectiva que reconoce la centralidad y la autonomía de la
política, cabe sostener en cambio que la competencia efectiva y el balance de poderes entre los partidos
deja mejores márgenes para el pluralismo social, autorizando que el “mundo de las asociaciones” y la
“política de grupos” resulten realmente animadas por actores colectivos plurales, relativamente
autónomos y más enérgicos7.
En fin, el hecho de que el sistema de partidos uruguayo haya sido plural y competitivo desde
sus orígenes, es la clave de la construcción de un presidencialismo de tipo pluralista, que constituye un
caso ejemplar en el campo del presidencialismo latinoamericano (LANZARO, 2001). Sartori (1980) sostuvo
6 Más allá de los avances de Alexis de Tocqueville sobre la “democracia en la sociedad”, esta aproximación remite al paradigma
americano de la “group politics”, que tiene su expresión señera en el trabajo de Bentley (1908) y se abre paso con el aporte
decisivo de Truman (1951) y las producciones siguientes. El enfoque alimentó desde entonces la mainstream en este campo y
logra una irradiación importante, a medida que se extiende la influencia las ideologías teóricas de origen anglosajón. Esta visión
socio-céntrica - de factura sociológica - que empapa los análisis sobre el estado, el sistema político y los partidos, se emparenta
con los postulados economicistas del marxismo, generando de hecho un acercamiento, aparentemente paradójico, que liga a dos
corpus secularmente enfrentados. Los abordajes del neo-pluralismo y del neo-marxismo, cada uno a su manera, pero con similar
convergencia, avanzan en un replanteo algo más “politicista” de las versiones tradicionales del pluralismo y del marxismo. 7 La prueba en contrario puede buscarse sin ir más lejos en México, durante el largo reinado del PRI: con una estructura de
presidencialismo “imperial” y un sistema de partido monopólico, que encuadraba a la sociedad y proporcionaba un ordenamiento
piramidal, mediante una fuerte compenetración del partido, el estado y las redes corporativas, construida hacia fines de los años
1920 y afianzada con el Cardenismo.

que en Uruguay había un sistema de partido predominante, dado que el Partido Colorado permaneció
durante noventa años en el gobierno, de corrido entre 1868 y 19588. Las referencias usuales al Uruguay
“batllista” y especialmente los enfoques sobre el carácter fundacional de la obra de Batlle y Ordóñez -
como “creador de su tiempo” (VANGER, 1963) - hablan también de una cierta primacía histórica y de la
existencia de un sector de punta, por cierto muy influyente. Sin embargo y a pesar de que durante
muchas décadas no hubo alternancia, el sistema de partidos nunca dejó de ser plural y competitivo. La
oposición ha sido constante y organizada. En varios tramos hubo alianzas y coaliciones de gobierno, de
sectores colorados con sectores blancos. Y en general, las resoluciones de gobierno - incluyendo aquellas
que hacen época - resultan de una dinámica de competencia efectiva y son producto del mercado
político, de la rivalidad de iniciativas y de los vetos - impulsos y frenos - de los ajustes ex ante y los
ajustes ex post, el intercambio y la negociación entre partidos y entre fracciones de partido, resultando
en un sistema de compromisos, que riega precisamente las prácticas del presidencialismo pluralista.
Debido a que el bipartidismo tradicional moldea la estructura del Estado y el patrón de los
procesos decisorios, este régimen tuvo por muchos años las características de una peculiar
consociational democracy (LIJPHART, 1969; LANZARO, 1986; 2004). Tales factores políticos fueron
asimismo determinantes para delinear el tipo de desarrollo que se despliega por etapas desde principios
del siglo XX, el cual instaló un modelo estado-céntrico de trazos específicos e inauguró tempranamente
un social welfare “schumpeteriano” que hizo época.
Sin embargo, Uruguay no se salvó de las rupturas autoritarias, que sobrevinieron cada vez que
los partidos fallaron en su productividad política, en sus deberes de lealtad y en los flujos de
cooperación, cuando la pluralidad de poderes pasó a operar en términos de desagregación y de
polarización aguda. El pluralismo es pues la clave de la prosperidad de un tipo de democracia y llegado
el caso, un factor de su propia crisis. De hecho, varias coyunturas críticas atravesaron por una secuencia
de momentos autoritarios y de momentos democráticos, mediante los cuales se procesan los cambios y
surgen nuevos diseños políticos. Es lo que sucedió en el último tercio del siglo XIX, en las fases
fundacionales del estado. Ocurrió también en los años 1930, al abrirse un período de reformas que
impulsó la segunda expansión del Estado y el desarrollo del mercado interno. Es, en fin, lo que sobrevino
a raíz de la crisis política que se despliega desde los 1960, que desembocó en la dictadura más larga y
gravosa de la historia del país (1973-1984).
Luego de la transición democrática, iniciada en 1980, se consolidó otra gran transformación del
modelo de desarrollo, se abrió un ciclo de reformas del Estado y hubo un cambio mayúsculo en la
estructura política: la democracia de partidos recobró su vitalidad y redobló su carácter competitivo,
pero el nuevo sistema de partidos y las modalidades de gobierno que vinieron con él, la reforma
constitucional de 1996 y el nuevo régimen electoral que ella impuso, alteraron las viejas pautas
consociational y rebajaron en cierta medida el pluralismo.
En el cauce de la democracia de partidos restaurada, que pasa en sí misma por una fase de
mutación, se impulsó durante los 1990 la transición liberal, mediante reformas pro-mercado del Estado y
8 La opinión de Sartori fue discutida, con distintos argumentos, por González (1993) y por Mieres (1992). En una tesitura similar
se ubica Fitzgibbon (1957), emparentando al Partido Colorado con el PRI de México, dado que ambos eran difíciles de desplazar.
Almond & Coleman (1960) consideran estos dos casos como posibles ejemplos de la categoría de “partido dominante no
dictatorial”, propuesta por George Blanksten.

de la economía. Debido a la competencia inter e intra partidaria, la transición liberal fue gradualista y
más moderada que en los países de la región donde las reformas de mercado se tramitaron sin partidos
o sin competencia efectiva.
A comienzos del siglo XXI, cuando se verifica un giro a la izquierda en muchos países de
América Latina, Uruguay inaugura un gobierno de tipo social-democrático (2005-2010), del mismo
género que los existentes en Brasil y Chile (2000-2010). Una vez más, la marca de fábrica proviene del
sistema de partidos, estableciendo una diferencia política básica respecto a otros gobiernos de izquierda
de la región y en particular frente a los nuevos populismos (LANZARO, 2008; 2011a-b). Precisamente, lo
que distingue a las experiencias de tipo social-democrático es que se llevan adelante por una izquierda
institucional, en el marco de un sistema de partidos que, a pesar de sus cambios - mejor dicho, a través
de ellos - sigue siendo plural y competitivo.
La llegada del segundo gobierno de la izquierda en 2010 aporta una novedad provechosa que
muestra otra vez las potencialidades de la democracia de partidos y el efecto moderador de las
gramáticas pluralistas. José Mujica llega a la presidencia gracias a que el Frente Amplio renueva su
performance en la elección de 2009 y debido a que él y sus congéneres Tupamaros acomodaron su
comportamiento a la política de partidos y a una competencia electoral exigente, dejando de lado el
pasado guerrillero, las posturas voluntaristas más desafiantes y el populismo radical. Por añadidura, al
comenzar la presidencia, Mujica adopta de motu proprio algunos modales propios de la república de
partidos - contra la que se había alzado en los años 1960 - y repone el antiguo expediente de la
coparticipación, incorporando a representantes de la oposición en los entes públicos.
A cien años de aquel mojón histórico de 1910, el régimen electoral ha tenido una alteración
terminante y vuelve a haber un gobierno mayoritario, compuesto solo por el Frente Amplio. Pero la
democracia de partidos muestra su vitalidad y si bien perdió ciertas características matrices, logra
recuperar - en otro cuadro - alguna de sus más preciosas tradiciones políticas. En virtud de los rasgos
evocados, la trayectoria uruguaya sobresale en la historia y en el paisaje actual de América Latina, donde
- después de la saga de regímenes autoritarios - hay democracias sin partidos o sin sistemas de partidos
y los regímenes políticos muestran carencias de pluralidad y de competencia efectiva.
Las páginas que siguen proponen una “revisita” de nuestra vieja democracia de partidos, su
matriz y su peripecia histórica, retomando aportes señeros y propuestas propias. Se trata de repasar
características raigales, continuidades y cambios, sin caer en el “excepcionalismo” y las miradas
provincianas, hilvanando referencias comparativas, que sirven para encuadrar de otra manera la
originalidad del caso uruguayo y permiten resaltar el potencial teórico que de verdad tiene en la Política
Comparada.
Rasgos Matrices de la Democracia Pluralista
De las armas a las urnas: “the only game in town”
Los partidos tradicionales fueron actores decisivos de la construcción del Estado y adquirieron
una centralidad considerable, de par con la centralidad que el propio Estado tendrá desde un principio
en el Uruguay (BARRÁN & NAHUM, 1984). Los partidos fueron consolidando esa centralidad - en conjunto -
por su vitalidad y en la medida en que acudieron a componer un sistema, entre ellos y de cara a los
demás actores, en un escenario que era propicio para la construcción de poderes específicamente

políticos. A favor de esto obra la debilidad relativa de los poderes de otra naturaleza - oligarquías
económicas, fuerzas militares, iglesia católica (REAL DE AZÚA, 1984) - lo que se debe básicamente a la
ausencia de sociedad campesina o de una civilización indígena, jerárquica y sedentaria, en modos de
producción agrícolas o con enclaves mineros.
Estas circunstancias - que establecen una diferencia genética fundamental en relación a otras
patrias latinoamericanas - moldearon el tipo de implantación colonial y luego las características del país,
que nace como una “nación nueva”. En efecto, Uruguay surge en un territorio relativamente “vacío”, de
“tierras de ningún provecho” y colonización tardía, con baja densidad demográfica y una fuerza de trabajo
móvil - de magro desarrollo cultural y lo que resulta decisivo, sin poderes centralizados fuertes - que era por
tanto más libre y difícil de dominar, mostrando una extraordinaria capacidad de resistencia frente a la
autoridad y a la subordinación laboral9. Estos rasgos están en el origen de las campañas de desplazamiento
y exterminio de los indios, así como del patrón de asentamientos que prevaleció en nuestra comarca, del tipo
de mestizaje y del modo de asentamiento de las camadas migratorias, dando lugar a esa composición
peculiar de “pueblos trasplantados” que retrató Darcy Ribeiro (RIBEIRO, 1969).
De ahí el perfil singular de las estructuras de clase que vendrán y sus magnitudes peculiares de
autonomía (LANZARO, 1986). De ahí también, algunos elementos raigales de nuestra cultura cívica, en
particular, las tendencias al igualitarismo - anteriores a la democracia - que influyen en los modos de ejercicio
de las jerarquías en los diversos ámbitos de la sociedad, en las unidades económicas y en la política. Con
todo esto vino una formidable ventaja comparativa: mayores facilidades para construir poderes
específicamente políticos, armazones de Estado más autónomas y en particular, montajes de partido, que
para mejor - y esta circunstancia es crucial - lograron mantener en alto una competencia plural y
relativamente paritaria, que marca el building originario y la civilización política que distingue al Uruguay.
En efecto, desde sus inicios y antes de que llegara la democracia, los partidos tradicionales
mantuvieron una relación de fuerzas relativamente balanceada, alineados en el clivaje centro-periferia, en
disputa en torno al poder incipiente del estado, cuya construcción va progresando dificultosamente en la
segunda mitad del siglo XIX, por obra de las elites civiles y de los empujes del militarismo. Mal que bien,
en ese período se celebraban elecciones, en base a un régimen mayoritario, falto de garantías y
considerablemente excluyente, que generaba lealtades débiles y era desafiado - una y otra vez - por las
guerras civiles. La secuela antagónica no dejó sin embargo saldos netos de ganadores y perdedores. La
consigna con que había concluido la Guerra Grande en 1851 - “ni vencidos ni vencedores” - se convirtió
en una pauta histórica emblemática, que desde aquella fecha moldea la vida política y el sistema
institucional que se construye. En efecto, las confrontaciones en los campos de batalla resultaron en
derrotas militares, pero no en el exterminio, la marginación o la sumisión terminante del bando
derrotado, que seguía contando políticamente y de hecho mantenía capacidades de resistencia y
potencial de amenaza. Siguiendo una regla universal en la materia, la democracia uruguaya prospera
porque ninguno de los bandos adversarios pudo doblegar plenamente al otro, ni excluirlo: los blancos no
pudieron con los colorados y los colorados no pudieron exterminar a los blancos, ni someterlos, ni
tampoco prescindir de ellos.
9 Ver las indicaciones de Renzo Pi sobre las características originarias de nuestra terra incognita y su población indígena, pobre
en bienes, en sacerdotes y en caciques (PI, 1969).

En este camino hacia la poliarquía pesa por tanto el balance de costos y beneficios - entre
tolerancia y represión o entre tolerancia e insurrección - que lleva eventualmente al reconocimiento y la
aceptación entre contrincantes e incluso a los acuerdos constructivos, con el fin de establecer reglas de
convivencia y de competencia10. En virtud de ello y particularmente a partir de la Paz de Abril de 1872,
los episodios de guerra civil desembocaron en una cadena de pactos de naturaleza constituyente, que
fueron reformulando la institucionalidad pública - al margen de la Carta de 1830 - para albergar a los
representantes de los dos partidos.
En realidad, el Estado sólo llegó a consolidarse como centro político monopólico, en la medida
en que se configuró efectivamente como una estructura plural, con una pauta de corte “madisoniano”,
que dio espacio a las minorías y acotó la “tiranía de la mayoría”, en lo que vendrá a ser una versión del
“estado democrático de partidos” (KELSEN), muy temprana en el horizonte comparado, tanto en lo que
respecta a América Latina, como en lo que respecta a Europa. Esto ocurrió paso a paso, gracias a
sucesivos acuerdos políticos - aunque con discrepancias en el seno de los partidos y sobre todo dentro
del coloradismo - mediante dos arreglos combinados, que procuraban el asentamiento de ambas
colectividades en la institucionalidad que se iba edificando: a) la ampliación progresiva del número de
bancas y de la representación proporcional en la sede parlamentaria; b) conjugada con la
“coparticipación” en las estructuras administrativas del Estado, las cuales se fueron extendiendo,
primero a nivel regional - mediante el reparto de las jefaturas políticas de los departamentos - y en
seguida, a nivel nacional, con los nuevos organismos públicos.
Este proceso será coronado por la Ley de Elecciones Políticas de 1910, que precedió al
establecimiento del sufragio universal masculino (Ley de 1912) y acuñó las bases del régimen electoral
vigente hasta la reforma de 1996, convirtiéndose en una piedra angular del sistema político nacional.
El doble voto simultáneo fue el dispositivo estratégico de este régimen y permitió resolver de
una vez dos grandes nudos de los sistemas político-partidarios: la competencia entre los partidos y al
mismo tiempo la competencia entre fracciones, al interior de los partidos, en un esquema de pluralidad
que se despliega en ambos círculos - inter partidario e intra partidario - en forma concurrente11.
Combinada con las demás medidas de integración política adoptadas antes y después de 1910, esta ley
fue un paso fundamental en la institucionalización del conflicto. De ahí en adelante, la competencia entre
partidos y fracciones de partido pasará de las armas a las urnas y las elecciones irán convirtiéndose en el
mecanismo regio de asignación de autoridad (“the only game in town”, según la gráfica expresión de
Giuseppe Di Palma). Esto ocurría al mismo tiempo que se afirmaba el Estado y que se extendía la
ciudadanía. Luego de una larga gestación y a cuenta de los procesos subsiguientes de consolidación, que
culminan con la Constitución de 1917, puede decirse que la democracia uruguaya quedó inaugurada en
esa fecha. Así pues, el año 2010 ha de tenerse como efemérides de un centenario muy relevante.
10 Tal cual proclama uno de los axiomas de Dahl (1971): “en la medida en que el precio de la supresión exceda el precio de la
tolerancia, mayores son las posibilidades de que se dé un régimen competitivo”. 11 Por esas razones el doble voto simultáneo era defendido enfáticamente por José Espalter, Ministro del Interior del Presidente
Williman (1907-11), cuyo gobierno promovió la iniciativa. Este método - ideado por el belga Jean Borely (1870) y reformulado
por Justino Jiménez de Aréchaga (1884), un gran constitucionalista uruguayo - se ajustaba al designio pacificador de Williman,
que insistía en el propósito de incluir a la oposición y ampliar la representación de las minorías, buscando un mecanismo que
permitiera canalizar las divisiones coloradas y sobre todo, que sirviera para contener la abstención y el fraccionamiento de los
blancos (VANGER, 1983; DIEZ DE MEDINA, 1994). ¡No deja de ser revelador, en términos de civilización política, que el Presidente de
la República se preocupara por la integridad de la oposición y buscara su inclusión institucional!

Un trayecto originario de poliarquía
La matriz pluralista se concreta en una trayectoria de poliarquía, dado que el building del
sistema político fue modelado por el balance de fuerzas y dio nacimiento a una democracia presidencial,
caracterizada por un grado considerable de distribución de los poderes públicos (BARRINGTON MOORE,
1966; DAHL, 1971; LANZARO, 2001). La “democratización fundamental” (MANNHEIM, 1940) se realiza en
Uruguay a comienzos del siglo XX, mediante una serie de medidas relevantes: sufragio universal
masculino, derechos civiles y primeros derechos sociales, garantías electorales, libertad de asociación,
regulación del trabajo asalariado. Con esos componentes, la democratización propone una primera
incorporación popular que es obra de los partidos y que sobreviene cuando las elites políticas ya habían
pactado las reglas básicas de competencia y oposición. El ciclo cumple por tanto con los requisitos de
una gestación poliárquica (DAHL, 1971).
En efecto, en el modelo uruguayo el pasaje de la política de elites a la política de masas - que
es una coyuntura crítica fundamental - no se produce por ruptura, con la participación de actores
desafiantes o de outsiders, sino que se tramita en clave de continuidad y por agentes competitivos que
operan desde el seno del establishment. Los protagonistas principales de la democratización
fundamental y de nuestro enfranchisement fueron las propias colectividades históricas, que - en su
“policlasismo constitutivo” (PÉREZ, 1984) - han sido desde siempre partidos catch-all, con círculos de
notables, pirámides de caudillos, bases en las capas medias y apoyos populares densos. En esta
transición se convierten en partidos de ciudadanos, modernos, adoptando nuevas formas de
organización, con cambios en la profesionalidad y en la estructura de liderazgo. La incorporación popular
no fue protagonizada pues por un solo agente, sino que es de autoría conjunta de los dos partidos, de
sus distintos sectores así como del juego cruzado de caudillos y doctores, en un trámite plural, cumplido
en términos competitivos y balanceados.
Con acierto, los Collier ubican a Uruguay - junto a Colombia - entre los países de América Latina
en los cuales la primera incorporación popular se cumplió por obra de partidos tradicionales, a
diferencia de los casos de incorporación por obra del Estado o por movimientos populistas (COLLIER &
COLLIER, 1991). Sin embargo, adjudican dicho mérito al batllismo, como sector colorado de punta,
cuando en rigor lo que hubo fue una incorporación de tipo competitivo y plural, con el activismo -
conflictivo y a la vez concurrente - de los dos partidos históricos y de sus distintas fracciones.
Esta circunstancia contribuye a explicar que en esa coyuntura histórica no hayan surgido
partidos o movimientos alternativos que organizaran políticamente a la clase obrera y a los sectores
populares, convirtiéndose en abanderados del proceso de inclusión, en clave antagónica. También ayuda
a explicar el hecho de que los partidos de filiación socialista que surgieron por entonces, tuvieran su
origen en las clases medias ilustradas - sin bases obreras orgánicas - y cultivaran una impronta más bien
reformista, exenta de arrestos revolucionarios efectivos, en una sintonía que se acomoda al sistema
presidido por los partidos mayores y no promueve rupturas.
El pluralismo político permitió que prosperara el pluralismo social. En esa arena competitiva,
las colectividades tradicionales afirman la vocación de catch-all parties que tuvieron desde siempre y
más allá de ciertas proximidades, se cuidan de tener relaciones demasiado cercanas o exclusivas con
clases sociales y grupos determinados, en el afán de mantener, en compases balanceados, una

convocatoria abierta y diversificada. En correspondencia, los gremios empresariales, los sindicatos
obreros que empezaban a formarse y las asociaciones de todo tipo, aunque tenían conexiones con
sectores partidarios, tendieron a preservar cierta autonomía y debieron hacer efectiva su participación en
una “group politics” renovada y pluralista. Las instituciones corporativas recién despuntaron hacia fines
de los años 1920 y a partir de la década de 1930, floreciendo desde el recodo de 1942. Por lo demás,
aunque en fases de crisis hubo empujes de corporativización de la política (notoriamente, en el correr de
los años 1920 y de los 1960), en general, la centralidad del sistema de partidos - su institucionalización,
su integración binaria, las lealtades que lo cimentan - lleva a que las acciones corporativas se entablen
mayormente con los partidos y a través de los partidos, sin que accesos de las clases al Estado que
escapen abiertamente a las mediaciones partidarias (LANZARO, 1986; 1992).
La poliarquía originaria tuvo efectos constitutivos a largo plazo y sirvió para fundar una
democracia pluralista duradera. En virtud de ello, el modelo uruguayo se distingue históricamente de
otras configuraciones políticas de América Latina. Por un lado y en el extremo opuesto del espectro, nos
diferenciamos del único caso de hegemonía realizada que ha existido en la región, el cual se erige como
tal gracias a la Revolución Mexicana y a las construcciones institucionales consecutivas - en particular,
las distintas armazones del partido oficial, las organizaciones de masas y las articulaciones corporativas
- dando lugar a un régimen de monopolio muy estable y duradero. Por otro lado, nos diferenciamos de
las situaciones más comunes, de hegemonías fallidas o de pluralismo trunco, con desequilibrio
recurrente de poderes e inestabilidades congénitas, que se encuentran, por ejemplo, en biografías como
la de Argentina o la de Bolivia, que a su vez son muy distintas entre sí12.
Una democracia consociational sui generis
La matriz pluralista engendra una forma peculiar de democracia consociational (LANZARO, 1986;
2000a). Como se sabe, Arend Lijphart (1969) acuñó esta noción para identificar las construcciones
democráticas y los procesos de unificación nacional en sociedades heterogéneas, fragmentadas en “sub-
culturas” políticas antagónicas, a partir de clivajes de índole social (nacionalidad, etnia, religión, clase,
familles spirituelles). Las democracias consociational surgen por lo general en pequeños países, en casos
en los que existe cierto balance de poderes entre las distintas subculturas, mediante acuerdos de elites
que buscan superar la fragmentación y alcanzar estabilidad sobre bases políticas asociativas. Estas
fórmulas se traducen en una composición plural y no suponen un dominio unitario simple, sino que
operan en base al reconocimiento de la diversidad, mediante arreglos apropiados de representación y
participación, con “artefactos anti-mayoritarios” que tienden a consolidar un “cartel de elites”
(DAHRENDORF, 1967). Aunque Lijphart manifiesta que tales arreglos dan lugar a dispositivos
institucionales variados, en rigor identifica democracia consociational con gobierno consociational y más
específicamente con diseños coparticipativos del Poder Ejecutivo. En este sentido, Austria y Bélgica son
los casos más claros. También lo es Holanda, el país de origen de Lijphart y su leading case. En su lista
12 La historia de Argentina en particular - que es para los uruguayos una “otredad” fundamental, espejo y contra-ejemplo
recurrente - ha sido vista como “un cementerio de hegemonías fallidas” (BOTANA, 1995). Pero también cabe detectar en el
trayecto argentino varios momentos de pluralismo frustrado, en ciclos políticos que pueden considerarse como el reverso de
nuestra peripecia, al dejar saldos drásticos de ganadores rotundos - aunque no hegemónicos - con perdedores que pierden por
mucho (MORA y ARAUJO, 1982).

entran asimismo Suiza, el Líbano, Colombia y Uruguay, mientras tuvo Poder Ejecutivo colegiado, al
“estilo suizo” (LIJPHART, 1969)13.
Considero que Uruguay ha sido históricamente un caso de democracia consociational, desde los
procesos fundacionales y más allá de la vigencia del gobierno colegiado, con rasgos sui generis y en
términos más amplios que los que sugiere Lijphart14. El análisis de nuestra experiencia, en el que aquí no
corresponde extenderse (ver Castellanos & Pérez, 1981), contribuye a enriquecer el cuerpo teórico de
esta tipología de democracias. En efecto, en la variedad uruguaya la democracia consociational no se
basa en clivajes sociales, sino que responde a un conflicto específicamente político - protagonizado por
partidos de naturaleza catch-all - que se traba en torno al building del Estado y al clivaje centro-periferia.
El Partido Colorado y el Partido Nacional eran de hecho “patrias subjetivas” (MARTÍNEZ LAMAS, 1930), que
obraban como asociaciones para competir por el poder, a partir de una condición raigal de comunidades
políticas - con sus tradiciones y sub-culturas, en base a identidades especulares, que construyen uno
frente "al otro” (blancos contra colorados, colorados contra blancos) - labrando un antagonismo potente
(PÉREZ, 1988). Como tales componen la nación, el Estado y el sistema político que contribuyen a
edificar, mediante andamientos pluralistas que integran a ambas colectividades y a sus fracciones,
proporcionando la clave constitutiva de la civilización uruguaya.
Esto no resultó en la debilidad de nuestro temple nacional, como a veces se cree y como el
propio Martínez Lamas presumía en 1930. En rigor remite a una modalidad específica de construcción
nacional: a un modo de ser, muy peculiar, cuya vitalidad radica precisamente en el acoplamiento de la
pluralidad y en ese dualismo originario, que mantiene sus perfiles diferenciados y su vocación
competitiva, pero ha de fundirse “dentro de una sola patria objetiva” (MARTÍNEZ LAMAS, 1930). Es más,
ajustándose a una pauta que se encuentra asimismo en otros países pequeños y tal como suele ocurrir
en las democracias consociational, esta circunstancia se convirtió en una condición de viabilidad y de
hecho en un vector de fortaleza, con armazones consensuales internas que nos ubican mejor en el
contexto externo, especialmente frente a los vecinos más cercanos. La contracara de ese principio
constitucional - el precio del pluralismo - es por supuesto cierta morosidad en los procesos decisorios y
la moderación en las políticas públicas.
Si bien el principio asociativo acota los resultados de la competencia en lo que toca a la
distribución de poderes públicos - limitando el juego pleno de ganadores y perdedores - lo cierto es que,
poco después de los primeros acuerdos partidarios de reparto regional, la fórmula se inserta en una
estructura de competencia efectiva. Tanto las autoridades departamentales como las máximas jerarquías
del gobierno nacional se disputan a través de carreras electorales abiertas, que van mejorando en
efectividad y en garantías. Ambas dimensiones se retroalimentan y la competencia efectiva vendrá a
13 Uruguay tuvo casi treinta años de gobiernos colegiados, integrados por representantes de los dos partidos tradicionales (ver
Nota 18). Ello ocurrió en dos períodos: el Consejo Nacional de Administración (1919-1933), que compartía competencias con el
Presidente de la República, en una fórmula de ejecutivo “bicéfalo” y el Consejo Nacional de Gobierno (1952-1967), que era titular
único del Poder Ejecutivo, sin que existiera un Presidente de la República. 14 De hecho, el propio Lijphart maneja la noción con amplitud y afirma que este tipo de democracia surge en realidad a través de
diseños institucionales muy variados, que amplían los márgenes de representación y de participación de diferentes maneras.
Encuentra así componentes de “consociationalism” en otros casos (LIJPHART, 1969, p. 225). Por ejemplo en los EEUU, gracias a
los arreglos que siguen a la Guerra de Secesión y que mejoran ex profeso las posiciones de los representantes sureños a nivel
nacional, particularmente en el Congreso. O bien en Dinamarca, en virtud de prácticas que no implican una política de
compromisos en la sede ejecutiva, sino en la órbita parlamentaria.

consolidar la condición generalista y plural - policlasista, catch-all - con la que ambos partidos
accedieron a la política de masas.
La construcción uruguaya puede ser comparada con la que se establece en Colombia hacia
mediados del siglo XX, dado que - a diferencia de los consocionalismos europeos - se aloja también en un
régimen presidencial y fue gestada igualmente por los dos partidos históricos vernáculos (Conservadores
y Liberales), operando como identidades tradicionales (“odios hereditarios”), con algún corte ideológico
(anti clericales versus clericales), pero sin basarse estrictamente en clivajes sociales (DIX, 1980; HARTLYN,
1988). No obstante, nuestro diseño consociational es más antiguo que el colombiano y se distingue de
éste en muchos aspectos. Por lo pronto, porque en Uruguay, para las instancias nacionales hubo desde
siempre competencia efectiva, mientras que en Colombia se estableció al comienzo un régimen de
paridad y alternancia pactada, acordándose que por dieciséis años (1958-1974), la presidencia fuera
ocupada rotativamente por los dos partidos que conformaron el Frente Nacional15.
La coparticipación, el régimen electoral, la representación proporcional y el requerimiento de
mayorías calificadas para las reformas constitucionales, así como para ciertas leyes y decisiones
parlamentarias estratégicas, son factores decisivos en el proceso de institucionalización del pluralismo y
en la construcción de nuestra singular democracia consociational16.
Representación y coparticipación
Las pautas de representación política y en particular el régimen electoral - con el diseño inicial
que aporta la ley de 1910 - fueron pilares básicos del sistema pluralista que imperó durante el siglo XX.
Como es sabido, en el ancien régime - que fue derogado por la reforma constitucional de 1996 - la
elección presidencial a pluralidad, por mayoría simple de votos, se combinaba con una representación
proporcional casi pura en el Parlamento y con el mecanismo del doble voto simultáneo para todos los
cargos electivos que era una de las singularidades más sobresalientes del sistema uruguayo (GONZÁLEZ,
1991; BUQUET, 2003; LANZARO, 2007b). Según esta regla, las elecciones nacionales y las disputas
internas se ventilaban todas el mismo día y en un solo acto: las fracciones de un partido competían entre
sí, pero al mismo tiempo acumulaban sus votos para competir contra los otros partidos, admitiéndose
múltiples candidatos para todos los cargos nacionales y departamentales, inclusive para la Presidencia
de la República. La fórmula fue una pieza estratégica del acto fundacional que vino a regular la
competencia entre partidos, a la vez que incluía y regulaba la competencia al interior de cada partido.
Este ingenioso dispositivo reforzó la reproducción del bipartidismo y obraba como una medida
de proteccionismo político, tanto de la unidad de cada conglomerado, como de su respectiva pluralidad
interna, permitiendo que el conjunto del partido pudiera disponer de un buen rastrillo electoral. La
apertura de la competencia interna daba herramientas para contrarrestar la “ley de hierro” de las
oligarquías y favorecía la permanencia de los sectores de partido, manteniendo cierta fragmentación y un
15 En el marco del Frente Nacional, la mayor parte de los cargos en el gobierno y en el estado (Gabinete, Senado, Cámara de
Diputados, Suprema Corte, corporaciones públicas, órganos municipales) se repartían en paridad entre los dos partidos. Dentro
del cupo correspondiente, la distribución de cargos se hacía en proporción a las bancas en el Congreso de las distintas fracciones
de cada partido. 16 El sistema uruguayo cuenta con dos piezas constitutivas de todo régimen consociational: i) la representación proporcional, que
es un pilar fundamental, máxime cuando no solo ancla en las cámaras parlamentarias y reconoce la diversidad en el seno de los
partidos, sino que llega también a la administración ejecutiva; ii) conjugada con un principio de compromiso, que busca
ensanchar el consenso y acotar el disenso al decidir sobre cuestiones políticas mayores.

grado variable de diferenciación ideológica17. En cada partido existían usualmente dos o tres fracciones,
que obraban como actores relevantes en la escena política, con márgenes de autonomía considerables,
delineando una suerte de bipartidismo fragmentario (AGUIAR, 1983).
El pluralismo y la proporcionalidad se alojan en las estructuras del Estado y modelan los
procesos de gobierno, merced a la coparticipación en los órganos de la administración ejecutiva y al
requerimiento de intervención parlamentaria, con mayorías especiales, para ciertas resoluciones
estratégicas y también para nombramientos o promociones de alto rango (Suprema Corte de Justicia,
Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fiscales superiores,
oficiales militares, embajadores).
La coparticipación comenzó a partir de la Paz de Abril de 1872, con la distribución de las
jefaturas políticas departamentales, mediante acuerdos que reconocían los baluartes regionales de los
dos partidos y de sus caudillos, asignándoles autoridad pública, posibilidades de patronazgo y de hecho
una condición de “príncipes electores” para la integración de las Cámaras, que eran a su vez electoras
del presidente. Estos pactos tuvieron una vida bastante azarosa, pero hicieron su camino en el building
originario. Su ciclo se fue cerrando a principios del siglo XX, a medida que los departamentos pasaron a
tener autoridades electas en régimen de libre competencia. Posteriormente, la coparticipación se instaló
a nivel nacional. Por dos períodos (1919-33, 1952-67), el Poder Ejecutivo estuvo compuesto por un
cuerpo colegiado, integrado en mayoría y minoría por representantes de los dos grandes partidos y de
sus fracciones18.
De manera más permanente, la coparticipación moldeó la integración de las agencias de
contralor y de los directorios de las empresas y servicios públicos, mediante una distribución de puestos
que instala la proporcionalidad (apportionement) en organismos estratégicos de la administración
ejecutiva descentralizada, más allá de los recintos parlamentarios. Con este régimen, los sectores de
oposición - como tales - lograban una participación directa en la gestión pública, con acceso a los
recursos políticos y a las redes de clientela, por el solo hecho de disponer de representación
parlamentaria y sin la exigencia de apoyos al gobierno, compromisos o coaliciones19.
17 Claro que hubo escisiones, sobre todo entre los blancos, perjudiciales para los partidos y especialmente para los que salían a
la intemperie. En particular, la ruptura del Partido Nacional Independiente dividió a los blancos en dos y dañó adrede al sector
“herrerista”, desde comienzos de los 1930 hasta las reunificaciones de 1954 y 1958, desfigurando el bipartidismo tradicional por
un buen trecho. Recién a partir de 1962, las nuevas coaliciones de izquierda y finalmente el Frente Amplio proporcionaron
estructuras de recepción para los disidentes de filas tradicionales. 18 La idea del colegiado, al estilo suizo, fue propuesta por José Batlle y Ordóñez en sus famosos Apuntes de 1913, con una
integración “monocolor”, en la que todos los cargos de consejero quedaban en manos del partido ganador. Paradójicamente, la
fórmula se adoptó en la Constitución de 1917, pero con una estructura bipartidaria y sirvió para frenar el “avancismo” de Batlle
y Ordóñez. Con un esquema similar, fue usada en 1951 para limitar las potencialidades de Luis Batlle Berres, el abanderado del
segundo batllismo. En ambas ocasiones mediaron reformas constitucionales realizadas por sectores conservadores blancos y
colorados, en contra de dichos liderazgos progresistas, dando lugar al colegiado bipartidista que Lijphart toma en cuenta para
incluir a Uruguay en la lista de las democracias consociational. 19 Aunque los mapas de ruta son muy distintos, este régimen puede compararse con el “proporz” austríaco: una regla de
distribución de los altos puestos de la administración pública, en proporción a la representación parlamentaria, que los partidos
pusieron en obra en la segunda post-guerra, como engranaje de uno de los ejemplares más notables de democracia
consociationa (ProporzDemokratie). En este caso, la coparticipación operaba en el marco de la “Gran Coalición” entre la
Democracia Cristiana y el Partido Socialista, al influjo de parcialidades partidarias que recubrían a su vez otros cortes sociales,
envolviendo en particular las relaciones entre los sindicatos de trabajadores y los gremios empresariales. La regla alcanzaba a las
jerarquías de la burocracia, las empresas nacionalizadas y los servicios sociales (como educación o vivienda), aportando recursos
de patronazgo que beneficiaban a los dos grandes partidos en consorcio. En Costa Rica - como pieza de la bipolaridad que luego
dio paso al bipartidismo - también ha habido experiencias de coparticipación en los directorios de los organismos públicos
descentralizados, que no tienen sin embargo una proyección equiparable. Prácticas similares se encuentran asimismo en
Colombia.

Descentralización y coparticipación fueron condiciones claves para la habilitación del Estado
“ampliado”, cuyo desarrollo se ajustó a los principios políticos originarios y vino a consolidar la
democracia pluralista (LANZARO, 2004a). En efecto, la incorporación de nuevos cometidos económicos y
sociales, no redundó simplemente en un refuerzo de las facultades del Poder Ejecutivo o del Presidente,
en régimen de concentración de la autoridad pública. Por el contrario, a partir de la reforma
constitucional de 1917 y con los acuerdos posteriores (en especial el “Pacto del Chinchulín” de 1931), la
ampliación de las competencias públicas quedó sujeta a una pauta de descentralización y de
coparticipación que modeló el desarrollo de la estructura política del estado a lo largo del siglo XX.
Siguiendo tal principio político-institucional, si bien fue creciendo el número de ministerios y se
multiplicaron sus dependencias - en un modelo jerárquico - buena parte de los cometidos que se fueron
agregando quedaron a cargo de la administración descentralizada, bajo la dirección de cuerpos
colegiados y autónomos, en régimen de coparticipación.
En una suerte de “pluralidad de gobiernos”, se gestó así un archipiélago de centros políticos
sectoriales, con recursos de poder considerables - celosos de su autonomía con respecto a los
ministerios - que controlaban los procesos decisorios en áreas estratégicas de la actividad pública
(bancos, energía, transportes, puertos, comunicaciones, educación, seguridad social, etc.)20.
Junto a estas formas de coparticipación partidaria, desde fines de la década de 1920 habrá
instancias de coparticipación corporativa, no sólo a través de los “anillos” formales e informales, que
enlazan a los agentes de clase con las burocracias estatales, sino además y en pasos importantes de
institucionalización, en base a organismos tripartitos y bipartitos, integrados por representantes del
gobierno, los empresarios y los trabajadores. A partir de los años 1940, este circuito corporativo
especializado - en una posición secundaria frente al Parlamento y al gobierno, a la ciudadanía política y
al sistema de partidos - dio lugar a formas paralelas de representación, abrigó la segunda incorporación
obrera y reforzó la ciudadanía social, aportando nuevos formatos para la inclusión de los sindicatos y de
los cuadros de izquierda que los dirigían.
Estos organismos corporativos, que se fueron multiplicando al prosperar el Estado de bienestar
y la versión uruguaya del keynesianismo periférico, componían el círculo de las personas públicas no
estatales y tuvieron a su cargo la administración de algunas ramas importantes de la seguridad social,
así como varias de las funciones de regulación de la economía y del trabajo (LANZARO, 1986; 1992)21.
Sin perjuicio de este segmento corporativo, Uruguay es un ejemplo sobresaliente de estado de
partidos. A su vez, los partidos tradicionales fueron - en conjunto y desde un principio - partidos de
estado, cuya reproducción (organización, carreras políticas, recursos de poder, pautas de legitimación,
sistema de linkages con los ciudadanos y los agrupamientos sociales) quedó asociada al Estado que esos
20 Las reformas constitucionales de 1966 y de 1996 atenuaron la autonomía de los organismos descentralizados, tratando de
reivindicar la primacía del gobierno central en la conducción política de los servicios. En la década de 1960, esto ocurrió al influjo
del desarrollismo, con posturas inclinadas al planeamiento y al dirigismo centralizado. Posteriormente, al cundir los propósitos
de reforma del estado, dicha tensión se plantea en forma cada vez más tirante, con pulseadas de poder y de hecho con algunos
pasos, más o menos visibles, en favor de la rectoría del centro gubernamental. Esto ha ocurrido en forma palpable al correr los
años 1990, con los gobiernos de inspiración liberal; pero también desde el 2005 y crecientemente, en la primera administración
de la izquierda y durante la segunda. 21 Este tipo de instituciones corporativas no son privativas de los regímenes autoritarios, fascistas o populistas. Al contrario, son
mucho más comunes como piezas constitutivas de los regímenes democráticos, tanto en Europa como en América Latina, en
forma generalizada a partir de los años 1920 y durante la era keynesiana (SHONFIELD, 1965; SCHMITTER, 1974; LANZARO, 1998).

mismos partidos concurrieron a edificar, reformándolo en repetidas coyunturas históricas, como parte
estratégica de los cambios en el modelo de desarrollo y en la estructura política.
La Gran Transformación
En la década de 1960 el modelo político reseñado y el sistema de partidos en que se
sustentaba tuvieron una crisis mayúscula, que condujo a la dictadura. En el curso de la siguiente
transición democrática y en la etapa que se abre a continuación, el sistema de partidos recuperó
consistencia y centralidad, pero experimentó una transformación de gran calado, marcada por el
desarrollo de la izquierda nucleada en el Frente Amplio y el fin del bipartidismo tradicional. Esta
transformación adquiere más vuelo con la transición liberal que se despliega a partir de 1990 y culmina
quince años después, con el estreno de la izquierda en el gobierno nacional.
La transición liberal
Las transiciones democráticas y las transiciones liberales de las últimas décadas en América
Latina varían país a país, debido a distintos factores y en particular según el peso que han tenido en cada
caso los partidos y los sistemas de partidos. El grado de “partidicidad” (partyness) de estos procesos, es
una variable fundamental que se refleja en el rumbo de las transiciones y en los tipos de democracia que
surgen de ellas, así como en la forma de las reformas liberales y en sus resultancias (CORRALES, 2000;
FRANCO & LANZARO, 2006).
Uruguay atravesó por los tres procesos que han signado la historia de América Latina desde los
años 1980 - las transiciones democráticas, la transición liberal y el giro a la izquierda - y en esos tres
procesos los partidos han sido agentes decisivos, siendo a la vez seres mutantes, dado que ellos mismos
y el sistema que conforman experimentan una “transición en la transición” (LANZARO, 2007c).
En efecto, en la transición democrática - que se resuelve en un proceso de reordenamiento del
sistema político y de recomposición de sus principales actores - los partidos tuvieron un desempeño
cada vez más activo, sacaron a luz sus identidades (sofocadas, pero vivas, durante la dictadura) y paso a
paso, fueron recuperando centralidad. Una vez restaurada la democracia, son los partidos los que hacen
punta en la “segunda” transición y la competencia que se traba entre ellos modela la fase de reformas de
corte liberal (LANZARO, 2000a). En este ciclo el Partido Colorado y el Partido Nacional avanzaron las
iniciativas reformistas, sin que mediara - como en otros países - una situación crítica detonante. Más allá
de las influencias del “clima de época”, el proceso fue más bien el fruto de una competencia activa entre
los dos partidos y dentro de los partidos, entre sus diversos sectores, con una tríada de liderazgos rivales
potentes22. Las propuestas más alineadas con las ideologías al uso en aquel momento vinieron de las
alas de centro-derecha de ambas colectividades. Movidos por esa competencia inter e intra partidaria,
blancos y colorados, junto con algunos intelectuales orgánicos, actuaron en esa fase como promotores
de la agenda neoliberal, abogando por la reforma del Estado y de la economía, a través de las campañas
electorales y mediante una ofensiva ideológica que tuvo visos de “revolución cultural” y contribuyó a que
se fuera asentando el giro de época. Desde el gobierno, impulsaron las privatizaciones y
22 A partir de 1989 - que es un año clave y en varios aspectos un parteaguas - el ciclo quedó marcado por la competencia entre
tres liderazgos, todos ellos enérgicos pero de distinto tipo, de sesgos ideológicos diferenciados y de diverso potencial de
gobierno: la contraposición de Jorge Batlle y Julio Ma. Sanguinetti en el Partido Colorado, cruzada con la que despliega Luis
Alberto Lacalle desde el Partido Nacional (LANZARO, 2000a; 2000b).

desmonopolizaciones, los cambios en el Estado, la liberalización de los mercados y los flujos de
mercantilización, delineando nuevas pautas de gestión pública y de regulación económica y social.
La competencia en filas tradicionales - con posiciones distintas y enfrentamientos a veces
acerados - acusó además los efectos de la tercería de la izquierda, que ejerció una oposición cerrada.
Por añadidura, hubo varias instancias de participación ciudadana, con plebiscitos constitucionales y
recursos de referéndum destinados a bloquear las privatizaciones en el sector público. Sin embargo, a
diferencia de lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, los actos de democracia plebiscitaria
no surgen como emprendimientos populistas, ni derivan de la debilidad del sistema de partidos. Por el
contrario, si bien obraron como instancias de alzada con respecto al circuito representativo y a las
resoluciones parlamentarias, obedecieron a las tácticas de los partidos, en particular a las movilizaciones
de veto emprendidas o amparadas por el Frente Amplio, en yunta con la fraternidad sindical.
Debido a estos cruces de competencia política las reformas fueron gradualistas y moderadas,
con un perfil que limitó la liberalización y preservó las funciones del Estado en mayor medida que en
otros países de América Latina (LANZARO, 2000a; FORTEZA et al 2007)23. A más de los frenos surgidos ex
post, hubo ajustes ex ante de las iniciativas políticas e incluso, varias de las reformas aplicadas
resultaron heterodoxas con respecto a los cánones neoliberales24. Si bien los flujos de mercantilización
resultaron importantes y los servicios públicos fueron permeados en cierta medida por las lógicas
privatistas y empresariales, hubo partes considerables del viejo Estado de bienestar que quedaron en pie
y uno tras otro, los gobiernos de distinto pelo pusieron en práctica nuevos paquetes de políticas sociales.
No obstante - con estas características - la coyuntura crítica de la transición liberal tuvo consecuencias
políticas palpables y en el trayecto, se produjo una suerte de “transición en la transición”, con efectos
especialmente importantes en lo que toca al gobierno, el sistema de partidos y las estructuras de
competencia (LANZARO, 2000a; 2007c).
Innovación Política y Reforma Constitucional
A medida que el FA creció como partido desafiante, crecieron también los acuerdos y las
alianzas entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, delineándose una política de bloques. Los
partidos tradicionales se turnaron en la presidencia y fueron estrechando poco a poco su cooperación,
mediante aprendizajes y nuevos experimentos, con pases de compromiso y estrenando coaliciones de
gobierno que tuvieron su versión más potente en el segundo mandato de Sanguinetti, cuando predominó
un liderazgo presidencial orientado hacia el centro. Uruguay se sumó así a la ola de “presidencialismo de
coalición”, que tiene en Brasil su patria privilegiada (ABRANCHES, 1988), pero desde los años 1990 se
extiende por varios países de América Latina, en pleno auge del reformismo liberal y en escenarios
multipartidistas (LANZARO, 2001). Las coaliciones permitieron formar mayorías parlamentarias, sostener
las políticas liberales y promover reformas, que en nuestro caso fueron de todos modos incrementales y
23 En el Índice de Privatizaciones de Lora (LORA, 2001), durante el periodo 1985-1999 - que es el ciclo de alza de las tendencias
neoliberales - Uruguay figura en último lugar entre los 18 países de América Latina, con el valor más bajo de activos públicos
privatizados en proporción al PNB (menos del 0,1%). Brasil está en el tercer puesto (más de 10% del PNB), seguido de Argentina
(justo debajo de 9%), en un ranking encabezado por Bolivia (casi 20%) y Perú (15%). Según el Índice de Privatizaciones
actualizado, en 2009 Uruguay seguía figurando último entre los 18 países de América Latina (LORA, 2012). 24 Particularmente la reforma educativa comandada por Germán Rama (LANZARO, 2004b), pero también la reforma de la
seguridad social, mal vista en su momento por el Banco Mundial (FORTEZA, 2007; MESA-LAGO & BERTRANAU, 1998).

moderadas, merced a la competencia entre los partidos asociados y al contrapunto con la oposición de
izquierda.
En el nuevo escenario político se alteraron las prácticas de coparticipación. En efecto, durante
la primera presidencia de Sanguinetti (1985-90), a la salida de la dictadura, el FA se incorporó a la
coparticipación y tuvo sitios en directorios de varios entes estatales. Fue de hecho un reconocimiento de
la tercería de la izquierda y del papel que ésta había tenido en la transición democrática, obrando como
una de las medidas tendientes a reforzar el proceso consecutivo de consolidación y de integración
política. Cuando el FA creció como fuerza de oposición y se gestaron coaliciones entre los dos decanos
del sistema de partidos, esta disposición cambió y durante tres períodos consecutivos (1990-2005), el
FA fue excluido de la coparticipación. Esta pasó a tener un carácter coalicional, beneficiando solamente a
quienes mantuvieran conductas de proximidad respecto al gobierno. El instituto perdió por tanto sus
trazas históricas, que incluían a la oposición como tal y que habían sido recompuestas en la post-
dictadura, acogiendo el nuevo esquema tripartidista, en una extensión del pluralismo que después se
dejó de lado.
En 1996, a fin de demorar la llegada del Frente Amplio al gobierno y hacerla depender de un
apoyo político mayor, los partidos tradicionales impulsaron una reforma constitucional que desmanteló
el régimen electoral construido a principios del siglo XX. En términos tipológicos, esta fue una reforma de
carácter defensivo, impulsada por una coalición “declinante” (BUQUET, 2007), que operó como una
alianza de “dos contra uno”, típica de los escenarios en tríada (CAPLOW, 1974). No obstante - en virtud
de los balances generados por la competencia inter e intra partidaria y merced a la voluntad política de
los líderes principales de la coalición reformista - esta estrategia buscó regular el conflicto político y
contemplar al adversario, extendiendo el consenso y tratando de limitar el disenso. Tales pautas
modelaron tanto la procesalidad como el contenido de la reforma, que fue elaborada por una comisión
integrada por todos los partidos, contó con el apoyo de dirigentes del FA de primera línea y no solo
atendió a los intereses de los diferentes sectores blancos y colorados integrantes de la coalición, sino
que incorporó buena parte de las demandas históricas de la izquierda. Ello contribuyó a reducir el
agravio de los destinatarios contra los cuales iba dirigida la operación reformista, reforzando su
legitimidad.
La reforma constitucional uruguaya de 1996 quedó pues plenamente encuadrada en la
democracia de partidos - en los marcos de un sistema plural y competitivo, de robustos contrapuntos de
oposición efectiva - adoptando un perfil por cierto muy distinto al que presentan las reformas
constitucionales de corte adversativo y sin núcleos de oposición debidamente organizados, tramitadas en
democracias sin partidos y con ínfulas anti-partido, que han proliferado en las última décadas en algunos
países de América Latina (notoriamente en Bolivia, Ecuador y Venezuela).
El nuevo diseño rompe con los principios vertebrales del ancien régime, ya que elimina el doble
voto simultáneo y adopta reglas mayoritarias para la elección presidencial, en dos vueltas con ballottage
y en base a candidaturas únicas, surgidas de elecciones primarias, obligatorias y simultáneas para todos
los partidos (BUQUET, 1998; LANZARO, 2007b). Se mantuvo sin embargo la representación proporcional
para la elección parlamentaria, que se cumple en forma concurrente y definitiva con la primera vuelta
presidencial.

La competencia política dio pie a innovaciones en el gobierno presidencial y condujo a una
reforma constitucional que impuso cambios sustanciales en el régimen electoral. Estos cambios fueron
tramitados en los marcos de la democracia plural de partidos y generaron a su vez consecuencias
políticas importantes, tanto para el FA como para los partidos tradicionales, los cuales - como suele
ocurrir - terminaron siendo prisioneros de sus propias innovaciones institucionales.
Realineamiento del Sistema de Partidos
El nuevo régimen no frenó las tendencias que motivaron la reforma. El realineamiento electoral
siguió su curso y la transformación histórica se consolidó, acarreando cambios en la estructura general
del sistema de partidos, así como en el lugar y la función sistémica de cada partido. El dominio del
bipartidismo tradicional tocó a su fin y el FA continuó creciendo: en 1999 se convirtió en el partido más
grande del arco político uruguayo y al ganar las elecciones de 2004 hizo su debut en el gobierno.
Tabla 2
Elecciones Nacionales 1971-2009
Votos por Partido (%)
1971 1984 1989 1994 1999 2004 2009
Partido Colorado 41 41 30 32 33 11 18
Partido Nacional 40 35 39 31 22 35 30
Frente Amplio 18 21 21 31 40 50.5 48
Nuevo Espacio - - 9 5 5
Partido Independiente - - - - - 2 3
Fuente: Banco de Datos FCS - Área Política y Relaciones Internacionales: http://www.edu.uy/pri.
Este proceso se despliega en varias elecciones críticas, en el curso de un cuarto de siglo. El
debut de la izquierda en el gobierno se produce a 33 años de la fundación del FA y 20 años después de
las elecciones de apertura de 1984 que franquearon la vuelta a la democracia. Es por ende un proceso
gradual, que tiene lugar en un marco de estabilidad democrática y de competencia efectiva. El sistema
de partidos mantiene su integridad y pone a prueba su institucionalización, a pesar y a través de los
cambios, transitando hacia una nueva estructura plural, siempre competitiva, en la cual los
alineamientos políticos y la disputa electoral, se traban en torno al clivaje izquierda-derecha. El
desarrollo del FA contribuye a que este clivaje se afirme en forma más explícita que durante el
predominio de la competencia entre blancos y colorados, sirviendo como eje de identificación y
reconocimiento a nivel de las élites partidarias y de los votantes25. Por lo demás, al afirmarse como
fuerza desafiante en términos de integración competitiva y no de ruptura, con los ojos puestos en una
eventual alternancia, el FA obra también como “válvula de seguridad” política, poniendo lo suyo para
mantener la capacidad de agregación del sistema de partidos en una coyuntura crítica.
25 Uruguay es uno de los países de América Latina en el que el clivaje izquierda-derecha muestra una consistencia significativa y
es reconocido como tal en las encuestas de opinión y los estudios de cultura política, en términos de identidades políticas y de
auto-identificación ideológica, tanto a nivel de élites como de ciudadanía. Según los datos del Latinobarómetro para el período
1995-2010, el porcentaje de personas que en Uruguay no se identifican en ese eje es relativamente bajo, se ubica en general
alrededor del 10% y resulta menor que el promedio (entre 20% y 30%) registrado para el conjunto de la región
(www.latinobarometro.org). Sobre la dimensión izquierda-derecha en América Latina, ver el análisis comparativo de Colomer &
Escatel (2005).

La competencia política es el motor y la clave de explicación del realineamiento electoral
(LANZARO, 2000a; 2007c). Al procesarse la transición democrática y en el curso de la transición liberal,
los partidos tradicionales tuvieron una performance razonable, básicamente en tres aspectos relevantes
de la política y del party government en ese ciclo histórico: postulación de la agenda reformista,
innovación en los modos de gobierno presidencial y renovación de sus liderazgos, sus cuadros y sus
programas. Paradójicamente, tales éxitos salieron caros, ya que fueron perdiendo apoyo electoral de
manera sistemática.
Los procesos de liberalización, la reforma del Estado y en particular las privatizaciones, se
convierten en eje estratégico de la competencia partidaria e inciden de manera decisiva en el
realineamiento político. Una parte del electorado acompaña la “revolución reformista”, mientras que otra
se ubica en actitudes de resistencia y de rechazo, con posturas acordes a la tradición estatista que ha
predominado históricamente en el Uruguay26. Esa inclinación del electorado uruguayo es alta y en esa
fase se ubica entre las más altas de América Latina27. Pero el clivaje estado-mercado resulta afirmado
por la competencia política que se despliega desde los años 1990, siendo alimentado por las acciones
del FA y de los sindicatos, en su antagonismo con los blancos y los colorados. A tal punto que, una vez
que el FA llega al gobierno, ese antagonismo pierde fuerza y el estatismo de la opinión pública uruguaya,
aunque sigue siendo alto, rebaja en algo sus marcas28.
Las reformas de signo liberal y las mutaciones en la economía afectaron la naturaleza de
partidos de estado que tuvieron desde el origen las colectividades tradicionales y redujeron sus recursos
de poder, particularmente en lo que respecta a los objetos, las formas, el alcance y los márgenes de
discrecionalidad en la asignación política de bienes públicos. Sus propias acciones reformistas y los
cambios concurrentes alteraron la condición de partidos “keynesianos” que ostentaron en las distintas
etapas del Uruguay batllista, mediante el cultivo sistemático de la producción y distribución de bienes,
servicios públicos y prestaciones reguladoras (LANZARO, 1994). Estas circunstancias modifican las pautas
de legitimación y el sistema de linkages (KITSCHELT, 2000) con los ciudadanos, los agentes económicos y
las organizaciones colectivas, en particular las redes de clientela.
A ello se suman los efectos de las nuevas formas de competencia y cooperación que los
partidos tradicionales ponen en práctica, con pautas que se ven reforzadas por el régimen electoral
establecido por la reforma constitucional de 1996. Desde 1990, a medida que el FA crece, blancos y
colorados acuden a una progresiva convergencia y forman coaliciones, presentando un grado creciente
de indiferenciación. No hay un nuevo bipartidismo, pero de hecho, ante la emergencia de un tercero
desafiante, los viejos rivales históricos pasan a constituir un polo político, delineando incluso un “círculo
26 Los datos de la serie estadística del Latinobarómetro 1995-2002 confirman que en Uruguay el clivaje estado-mercado y en
particular, la opinión pública acerca de las privatizaciones, constituyen en estos años los mejores indicadores de intención de
voto (LANZARO & LUNA, 2002). El electorado en general muestra un alto nivel de estatismo, pero los votantes del FA son más
estatistas que los votantes de los demás partidos. En correspondencia, mientras que el FA está consistentemente asociado a la
defensa del estado, los partidos tradicionales aparecen asumiendo posiciones más pro-mercado. 27 Así lo indican sistemáticamente las series del Latinobarómetro (www.latinobarometro.org) y así lo muestra también, en forma
muy significativa, el resultado del referéndum de 1992 que derogó - por una mayoría rotunda (70% de votos) - la ley que
autorizaba la privatización de empresas públicas. 28 En efecto, en las series del Latinobarómetro, mientras que a principios de la década del 2000 Uruguay se ubica en 3.6 en la
escala estado-mercado (1-10), hacia el fin de la década esa marca va ascendiendo y en el año electoral de 2009 se ubica en 4.4
(www.latinobarometro.org).

de familia”29. Como resultado de la superposición ideológica y de la asociación política, se les hace cada
vez más difícil cultivar sus tradiciones, preservar su identidad y articular opciones aptas para la
competencia triangular, entre ellos y de cara al Frente Amplio.
También disminuye la diferenciación interna y con ello las posibilidades de rastrillo electoral
que proporcionaba anteriormente la coexistencia de sectores de derecha y de izquierda en los partidos
tradicionales. En ambos conjuntos persiste la diversidad ideológica. Pero la competencia del FA y los
requerimientos de la acción política con apoyos parlamentarios reducidos, inducen a la convergencia
interna y exigen mayor disciplina partidaria. El régimen electoral sancionado en 1996 permite que la
pluralidad de partidos se manifieste en la primera vuelta, pero aumenta las complicaciones y tiende a
pronunciar las tendencias indicadas, ya que impone una secuencia de “eliminatorias”, con efectos de
concentración y dificultades de competencia, al interior de los partidos y entre partidos “vecinos”.
Por lo tanto, cabe sostener que la pérdida electoral de los partidos tradicionales es en parte
consecuencia de sus propias estrategias: la ofensiva liberal que encabezaron y los recursos defensivos
que pusieron en obra ante el crecimiento de la izquierda. En rigor, en la coyuntura crítica que les tocó
afrontar a partir de la transición democrática, los partidos tradicionales - por acción o por reacción,
movidos por la competencia inter e intra partidaria - terminaron por erosionar los pilares sobre los cuales
se cimentaba su dominio a lo largo del siglo XX.
EL FA de partido desafiante a ¿partido predominante?
Ciertamente, tales movimientos operaron en un escenario signado por la emergencia del FA
como partido desafiante. La transformación de la izquierda y sus estrategias de competencia en el marco
específico de la democracia de partidos son factores claves para explicar la forma que adopta el
realineamiento electoral. De otra manera, la transición liberal hubiera podido conducir a evoluciones
políticas diferentes y eventualmente a una desarticulación del sistema de partidos, tal como ha ocurrido
en otros países de América Latina: dependiendo precisamente de la fortaleza del sistema de partidos, su
grado de competitividad en condiciones críticas y en ciclos de mutación, su capacidad de control y su
capacidad de adaptación en los procesos de cambio (MAIR, 1997). La transición liberal ha sido una fase
de “darwinismo político” para los partidos (COPPEDGE, 2001), que plantea serios desafíos y al mismo
tiempo abre posibilidades. El sistema de partidos uruguayo cambió mucho, pero ha salido bien parado
del trance. Ello es debido a la supervivencia de los partidos tradicionales, pero también, a que el FA
aprovechó la estructura de oportunidad, transitó por un proceso de adaptación partidaria, cambió
bastante y se desarrolló como un partido exitoso, lo que en definitiva resultó benéfico para la propia
izquierda y para el sistema en su conjunto.
La prosperidad del FA se explica por factores que remiten a dos procesos concatenados, que
acunan el realineamiento electoral y tienen implicaciones históricas de gran calado (LANZARO, 2004): i) la
“nacionalización” de la izquierda, que viene de los años 1960 y se afirma en los lances posteriores; ii) su
plena integración a la democracia de partidos y muy en particular, el ajuste de sus estrategias políticas a
29 Según cálculos elaborados en base a las encuestas de Cifra y de Equipos-Mori, la superposición entre el Partido Colorado y el
Partido Nacional que en 1984 cubría alrededor del 77% del electorado, quince años después, en 1999, llega al 90%. En el mismo
período, la distancia ideológica entre ambos partidos baja del 12% al 3%, dibujando por tanto una “círculo de familia”.

los requerimientos de la disputa electoral y la conquista del gobierno, en un sistema de partidos
consistente, plural y altamente competitivo.
En uno de los sentidos corrientes que la noción tiene en la Ciencia Política30, la
“nacionalización” se refiere a la cobertura regional de un partido y a su proyección para el conjunto de un
país, lo que supone redes de organización extendidas y un proceso de diversificación política que
concuerde con el mapa de particularidades locales, articulando propuestas, candidaturas y vínculos
adecuados. El FA fue en sus inicios y por un buen tiempo, una fuerza urbana, preponderantemente
asentada en Montevideo, que desde 1971 a 1989 recogió en esta plaza entre 70% y 75% de sus apoyos.
A partir de 1994 tiende a “nacionalizarse” en términos regionales y va creciendo en otros departamentos.
En las elecciones nacionales, sus votantes en el Interior pasan del 10% entre 1971 y 1989, a 19% en
1994 y a 31% en 1999, para ubicarse en 44% en 2004 y en 2009, año en el cual, por primera vez, el
porcentaje de votos que el FA recabó en el Interior (52,8%) supera al porcentaje de sus votos en
Montevideo (47,2%). En las elecciones municipales de 2005, el FA - que ha gobernado en Montevideo en
forma ininterrumpida desde 1990 - conservó este bastión (con el 61% de votos de un departamento que
concentra el 42% del electorado) y conquistó 7 intendencias más, pasando a administrar 8 de los 19
departamentos (73% de la población y más de tres cuartos del PBI). En las municipales 2010, el FA
mantuvo Montevideo, aunque con un porcentaje inferior (58%). En el Interior retuvo tres intendencias y
ganó una, pero perdió 4, quedando en total con cinco.
La “nacionalización” de la izquierda ha de ser analizada asimismo en términos políticos,
ideológicos y culturales, en una noción semejante a la utilizada por Antonio Gramsci en sus Quaderni del
Carcere (1929-1935). Como he planteado en mi periodización de la izquierda uruguaya (LANZARO, 2004),
ello supone la composición de ofertas políticas de proyección nacional que superen, tanto el
“cosmopolitismo” y los postulados universalistas (las invocaciones “internacionalistas” y el socialismo
“abstracto”), como los postulados particularistas (sectoriales o de clase), para realizar proposiciones
más concretas y de vocación general, con respecto a la realidad específica del país.
Esta “nacionalización” implica también la conexión de la identidad partidaria propia con
tradiciones nacionales emblemáticas, mediante una competencia ideológica pertinente, que permita
hacer valer una relectura de la historia y proponga de hecho una “reinvención” de la tradición (como diría
Eric Hobsbawm), entrando a tallar efectivamente en la “disputa por la nación” y en las producciones de
sentido común. En el caso de la izquierda uruguaya, los pasos fundacionales de este emprendimiento
tienen lugar en la década de 1960, acompañando la saga política que desemboca en la fundación del FA,
merced a una multiplicación de intervenciones intelectuales, de vocación ideológica “contra-hegemónica”
frente al establishment tradicional - potenciadas por la prédica educativa, las publicaciones de
divulgación masiva, el canto popular y otros hechos de cultura - que signan el despegue de la nueva
izquierda31.
La nacionalización, que obra hacia adentro y ha de calar en la feligresía partidaria, debe
asimismo ganar audiencia pública. A ello contribuye la participación en procesos políticos significativos
30 Ver en particular Jones & Mainwaring (2003), que proponen un índice para medir la nacionalización partidaria (Party Nationalization Score). 31 La reinvención y cierta apropiación de la figura de Artigas - nuestro héroe nacional -, junto con la adopción de emblemas
patrios, es una pieza importante y exitosa del empalme entre pasado y presente que la izquierda cultiva en los 1960.

que acreditan el implante nacional, el compromiso democrático y de hecho la legitimación de la
izquierda. En este anclaje juegan las biografías dinásticas, los martirios de la dictadura, así como el
desempeño de la izquierda en la transición democrática y su integración política consecutiva. El general
Seregni, que fue en estos trances un conductor certero y un referente mayor - en el ruedo partidario, en
los círculos de las elites y entre el público común - hace con ello su propio aporte, dando pruebas de que
en los procesos de nacionalización los liderazgos cuentan. El protagonismo nacional del FA se irá
asentando en las instancias posteriores, primero como cabeza de una oposición organizada y luego como
actor de gobierno.
En la fase constitutiva de los años 1960 se produce un enlace decisivo que moldea los procesos
genéticos de los que surge el FA y tiene consecuencias duraderas. Las composiciones partidarias que van
labrando los nuevos formatos de la izquierda institucional (1962-1971), se articulan con el acrecimiento
de la militancia de los sindicatos y la constitución de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT:
1964-1966) como central única, lo que proporciona las dos pistas mayores del desarrollo del bloque de
oposición emergente: una partidaria y otra sindical.
En el momento en que la izquierda se apresta más decididamente para la competencia
electoral y pasa para ello por un primer capítulo de los procesos de adaptación partidaria, se registra
asimismo la expansión y una reconfiguración política del dominio que venía cultivando en los sindicatos,
desde los umbrales de la década de 1940 (LANZARO, 1986). Ese dominio, que se extiende también en el
movimiento estudiantil y en los mundos de la cultura, viene acompañado de un esfuerzo de colonización
del sistema educativo, que a la larga resultará exitoso, con alcances variados en sus distintos niveles y
con una proyección que se sobrepone a la dictadura y logra posteriormente desarrollos manifiestos.
El lanzamiento de la izquierda como fuerza desafiante tiene su expresión mayor en la
competencia electoral, pero implica una movilización más amplia y comprende la disputa por el control
de aparatos ideológicos, que resultan estratégicos en los procesos de reproducción social y para las
gestaciones de sentido común. Los asentamientos que se conquistan en tales aparatos son un vector de
apoyo en la fase de crecimiento del FA, pero no dejan de albergar un contencioso de poderes, entre
tendencias contrapuestas y particularmente, entre fracciones de la propia izquierda. El arribo a la
presidencia plantea un nuevo escenario, con un patrón de vínculos entre el gobierno, el partido de
gobierno y sus anclajes sociales, que experimenta sucesivas modificaciones. El estreno abre asimismo
nuevas arenas para el contencioso entre sectores frenteamplistas, que se instala en las “tres caras” del
gobierno - administración ejecutiva, parlamento, partido - así como dentro de los distintos aparatos del
Estado y entre ellos, dando lugar a una competencia redoblada, referida al reparto de cargos, los
recursos de poder y las orientaciones políticas.
Con esos antecedentes, la estrategia política del FA en el ciclo ascendente (1989-2005) se
resuelve en su desarrollo como partido catch-all, de profesión electoral (KIRCHHEIMER, 1966; PANEBIANCO,
1982), lo cual implica cambios en su ideología y en su organización, en los procesos decisorios y en la
estructura de liderazgo. Estos procesos de adaptación partidaria pasan por una competencia externa e
interna, intensa e incesante, acompañada de una disputa por el liderazgo que en el caso del FA se ajusta
a la pauta exitosa de un “transformismo” balanceado: con cambios importantes pero al mismo tiempo
moderados, que cultivan la identidad de partido y preservan muchas de las adquisiciones de su

trayectoria, manteniendo cierta densidad organizativa y recursos de poder que se van acumulando. En
esta senda el FA renueva los vínculos con las clases medias y el movimiento obrero, consolida su
enraizamiento en redes estratégicas del Estado, extiende sus alcances urbanos y rurales, logrando
incluso una llegada novedosa e importante en los sectores populares, en áreas en las que antes reinaban
los blancos y colorados (LANZARO, 2004; LUNA, 2007). Su perfil de “partido de integración” - con votantes
“devotos”, referentes de clase y una fuerte hermandad con el movimiento sindical - da paso a una
política de ciudadanos y a una nueva textura de partido “popular”, con márgenes amplios para la
representación individual y para los votantes “sueltos”. La intensificación de la competencia electoral, en
jornadas que se multiplican a raíz de la reforma de 1996, se suma a la participación en plebiscitos y
actos de referéndum - que menudean entre 1989 y 2004 - y engrana con las instancias internas de
elección de autoridades, va reconfigurando la organización y las formas de activismo, mediante prácticas
que rebajan la militancia tradicional, insisten en convocar a los fieles de la izquierda en calidad de
votantes y ensanchan las franjas en que el FA se comporta como un “partido de electores”.
En ese periplo el FA pone en obra una estrategia “two-pronged”: que levanta una oposición
cerrada frente a los partidos tradicionales - renegando de la liberalización y en particular de las
privatizaciones - pero se combina al mismo tiempo con la moderación ideológica y el empeño firme de
conquistar nuevos votantes, sin perder a los suyos, alineándose en la competencia hacia el centro. Para
este empeño ayuda mucho la estructura de “partido de coalición” (LANZARO, 2000) - unificado, pero con
alta fragmentación - que el FA va construyendo a partir de su modelo genético, la cual proporciona un
espectro ideológico diversificado y un buen rastrillo electoral. Ayuda también el control de la Intendencia
de Montevideo, ininterrumpido desde 1990.
La estrategia del FA resultó exitosa. Fue aumentando su caudal electoral en forma sistemática
durante veinte años y ganó la elección nacional de 2004 en primera vuelta, por mayoría absoluta,
asegurándose el control de ambas Cámaras, algo que no ocurría en Uruguay desde 196632. Al estrenarse
en el gobierno nacional el FA ostenta una clara primacía política y cabe preguntarse si no estamos ante
una configuración de partido predominante, retomando interrogantes que se planteaban en referencia al
Partido Colorado, en épocas del bipartidismo tradicional.
Es verdad que el FA no cumple el requisito de obtener mayoría absoluta de bancas
parlamentarias en tres elecciones consecutivas, que acreditaría el status predominante según los
cánones propuestos por Duverger (1960) y Sartori (1980)33. Habrá que ver si esa circunstancia se
concreta en las elecciones de 2014, teniendo en cuenta que la marca electoral de 2004 no se repite en
2009 y por el contrario, se interrumpe la racha ascendente de las dos décadas previas (1984-2004): en
32 En términos de representación parlamentaria esta situación no se daba desde el triunfo del Partido Colorado en 1966 o del
Partido Nacional en 1958. Para registrar antecedentes de mayoría absoluta de votos en las elecciones y no sólo de bancas
parlamentarias, hay que remontarse más atrás aun, a la performance del Partido Colorado en 1950 y 1954. 33 Duverger (1960) propuso una noción de partido dominante, más simple que la que había acuñado en su obra de 1951: las
elecciones no son meramente plebiscitarias, sino competitivas, “pero hay un partido más grande que los otros, que tiene por sí
solo la mayoría absoluta de las bancas parlamentarias”, por un período prolongado (ejemplos: los radicales franceses en la
Tercera República, los partidos social demócratas en Escandinavia, el Partido del Congreso en India). Veinte años después,
Sartori (1980) retomó esa noción y propuso un criterio operativo convencional: habrá un sistema de partido predominante,
siempre que un partido conquiste la mayoría absoluta de bancas parlamentarias (“no necesariamente de votos”), en tres
elecciones consecutivas. Tanto Duverger como Sartori afirman que la “dominancia” puede existir como patrón histórico, aunque
no se haga efectiva en una elección determinada.

2009 el FA pierde votos, consiguiendo por segunda vez mayoría absoluta en las Cámaras, gracias a las
reglas electorales y con un margen más ajustado34.
No obstante, puede considerarse que el conglomerado de la izquierda ha conseguido una
posición de cierto predominio, observando otros aspectos. En primer lugar, porque desde 1999 el FA es
el partido más grande a nivel nacional35, en un horizonte en el que los partidos tradicionales han
encontrado dificultades para componer una oferta política conducente y retomar la iniciativa que tuvieron
antes, a partir de la transición democrática y cuando corrían a favor del paradigma prevaleciente, al
impulsar la transición liberal. Por lo demás, el FA administra Montevideo en forma ininterrumpida y con
comodidad desde 1990, habiendo conquistado, aquí sí, la condición de partido predominante (aunque su
record de 61% de votos montevideanos del 2005 bajó a 58% en 2010). En 2005 el FA ganó siete
intendencias más y en el 2010 quedó con cinco, registrando un descenso también a este nivel, pero con
dos triunfos seguidos en departamentos importantes del país.
Por otra parte, el FA ha llegado a ser un gran partido popular, catch-all, manteniendo una
convocatoria electoral que llega a un espectro extenso de capas sociales, desde las clases medias a los
sectores populares, en la capital y en el interior (LANZARO & DE ARMAS, 2012). Maneja una oferta política
relativamente abarcadora y el arco ideológico de sus votantes - de la izquierda hacia el centro - también
es amplio. A eso hay que agregar la hermandad de la izquierda con los sindicatos y el perfil laborista que
tuvo el primer gobierno del FA, así como el control de aparatos ideológicos estratégicos - con visos
hegemónicos en la educación y en los círculos de la cultura - mediante relaciones cultivadas durante
décadas y con raíces hondas. Por más que la práctica del gobierno reformule estos vínculos y los
distienda, generando complicaciones y conflictos, con aristas diferentes, tanto en las dos
administraciones frenteamplistas, como en cada área de actividad.
En el proceso de transformación del sistema de partidos, los partidos tradicionales - que han
sido secularmente partidos de estado - fueron acercándose al perfil de cartel-parties (KATZ & MAIR, 1995):
con formas de reproducción y modalidades de competencia inter e intra partidarias, carreras políticas,
recursos de poder, fuentes de financiamiento y red de vínculos con la ciudadanía, que pasan a depender
del Estado en mayor grado de lo que pudo ocurrir anteriormente. Con su asentamiento en la Intendencia
de Montevideo y más marcadamente desde su estreno en el gobierno nacional, el FA va incorporándose a
la condición de partido de estado y a su modo, también entra en los usos de la “cartelización”. Sin
34 En la propuesta inicial de Duverger (1951), el partido predominante, además de su condición mayoritaria prolongada, era el
que se “identificaba con la nación”, encarnando de alguna manera las ideas de la época (ejemplos: el Partido Radical en la
Tercera República Francesa o los partidos social demócratas en Escandinavia). En esa tipología podía incluirse al Partido
Colorado de Uruguay, que para más de un autor era un partido predominante (FITZGIBBON, 1957; ALMOND & COLEMAN, 1960;
SARTORI, 1980): porque estuvo 90 años en el gobierno (1868-1958), pero también por el peso que tuvieron las corrientes
batllistas de ese partido en dos períodos fundamentales de la historia uruguaya y particularmente, en base a la visión de que en
el primer tercio del siglo XX, José Batlle y Ordóñez fue el “creador de su tiempo” (VANGER, 1963). Como vimos más arriba, esa
tipificación no se compagina con la dinámica pluralista que tuvo el sistema uruguayo en tiempos del bipartidismo: aun cuando no
hubiera alternancia, merced a los registros de competencia efectiva, a las pautas de intercambio partidario y a las prácticas
concretas de gobierno. Considero que tampoco en este sentido corresponde calificar al FA como un partido predominante. No
sólo porque sería prematuro concluir que la alternancia de la izquierda inauguró una “era progresista” - aunque en la presidencia
de Vázquez haya habido una siembra de innovaciones importantes - sino por las mismas razones que llevan a negar ese rango al
Partido Colorado y en concreto, atendiendo a las circunstancias que se exponen a continuación, en este mismo apartado y en el
siguiente. 35 Esto corresponde a la “idea general” de partido predominante expuesta por Sartori (1980): “un partido que supera de lejos a
los otros” y tiene “alrededor de 10 puntos porcentuales de diferencia” respecto a los otros partidos, un umbral que el FA
sobrepasa tanto en 2004 como en 2009.

embargo, lo hace con una ventaja comparativa, ya que si bien su organización partidaria fue cambiando,
ha perdido densidad y ha perdido poder, sigue siendo relativamente robusta y logra influir en algunas
decisiones relevantes, a pesar de que el centro de gravedad de la política se traslade a los circuitos de
gobierno. Además, aun con cambios importantes y un cierto debilitamiento de sus redes, el FA preserva
sus arraigos sociales. De hecho, el conglomerado de la izquierda se desenvuelve como un partido
“anfibio”: que se interna cada vez más en las aguas estatales, pero en cierta medida, también mantiene
sus pies en los terrenos de la sociedad.
No hay duda que la izquierda ha conquistado mucho peso en la distribución de poderes. Sin
embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región (LANZARO, 2008), el sistema uruguayo
sigue siendo plural y competitivo, con un régimen de oposición efectiva. De modo que esas tendencias
podrían eventualmente revertirse, sobre todo a nivel electoral, existiendo incluso la posibilidad de una
alternancia, en la medida que el FA rebaje su convocatoria, si los partidos de oposición recuperan
iniciativa y logran articular candidaturas y ofertas políticas conducentes.
El estreno de un gobierno social-democrático
El debut de la izquierda uruguaya en el gobierno nacional (2005-2010) inauguró una alternativa
de tipo social-democrático en Uruguay (LANZARO, 2011a), que vino a sumarse a las que surgieron en
Brasil y Chile desde el umbral del 2000, con las presidencias de Lula da Silva, Ricardo Lagos y Michelle
Bachelet. La aparición de este tipo de gobierno depende de la existencia de una democracia de partidos
y resulta precisamente de las estrategias de competencia política en el cauce de un sistema de partidos
institucionalizado, plural y competitivo, como es el uruguayo.
El surgimiento de una generación de gobiernos de este tipo constituye una novedad absoluta
para América Latina, en donde - al igual que en otras comarcas - el término se emplea con demasiada
amplitud y hay otras figuras que se denominan social-democráticas36. Algo similar ha ocurrido en
Uruguay, sobre todo en referencia al primer batllismo y al segundo, pero también a expresiones más
recientes. No obstante, es la primera vez que existen en nuestra región experiencias que corresponden
stricto sensu al concepto de gobiernos social-democráticos - no necesariamente de regímenes social-
democráticos - en base a una definición teórica que atiende a la naturaleza política específica de tales
gobiernos.
En efecto, según la tipificación que he presentado en otros trabajos (LANZARO, 2008; 2011b), los
gobiernos social-democráticos son aquellos formados por partidos de izquierda institucionalizados,
crecidos en estrecho vínculo con el movimiento sindical y de filiación socialista (aunque no
necesariamente de tal nombre), que han atravesado por procesos de cambio político y llegan a
reemplazar sus ideologías revolucionarias o radicales por un reformismo moderado pero efectivo, como
resultado de las estrategias electorales y las orientaciones políticas que adoptan. Por definición y como
factor crucial, los procesos de adaptación partidaria, las carreras electorales y el desempeño de
36 Por ejemplo: los gobiernos de Liberación Nacional en Costa Rica, de Acción Democrática en Venezuela o de Fernando Henrique
Cardoso y su Partido da Social Democracia Brasileira. A su vez, la posibilidad de una alternativa social-democrática para
nuestra región ha sido postulada por algunos intelectuales (Helio Jaguaribe y el propio Fernando Henrique Cardoso; José María
Maravall, Luiz Carlos Bresser-Pereira & Adam Przeworski, Jorge Castañeda y Roberto Mangabeira) y también por actores
políticos, incluyendo a dos protagonistas conspicuos de estas experiencias, Lula da Silva y Ricardo Lagos, que antes de ser
presidentes participaron en las propuestas del llamado “Consenso de Buenos Aires” (1997).

gobierno, se cumplen en democracias representativas, con competencia efectiva, en el marco de
sistemas de partidos plurales, más o menos institucionalizados.
Este concepto es consistente con las proposiciones clásicas sobre el “socialismo electoral”37 y
se aplica a las nuevas figuras latinoamericanas. Define también a los ejemplares europeos “clásicos”, de
la primera generación - los únicos que según algunos merecen la “appellation” de origen - que se
desarrollaron a partir de la crisis de 1930 y en la post-guerra siguiente, en una articulación muy propicia
con la era keynesiana, que estaba en pleno auge y que pudo favorecer la construcción de un “régimen”
de compromiso social-democrático (BERGOUNIOUX & MANIN, 1979). Habrá posteriormente otra generación,
más “rezagada”, que surge en Europa del Sur en las décadas de 1970 y 1980 (GALLAGHER & WILLIAMS
1989; MARAVALL, 1992; MERKEL, 1995).
Las experiencias de España, Portugal y Grecia, que asoman con distinto potencial en esta
segunda tanda, se dan en países subdesarrollados de la periferia de Europa Occidental, con economías
dependientes y sociedades atrasadas, muy desiguales, sometidos a regímenes autoritarios (en Portugal y
España durante buena parte del siglo XX), registrando debilidades en los pilares social-democráticos
típicos: los partidos de filiación socialista y los sindicatos38. Esto ayuda a explicar los desafíos que los
gobiernos social-democráticos debieron afrontar y el perfil de sus agendas, en términos de
democratización política, de aggiornamento cultural y en calidad de “modernizadores tardíos” de la
economía y de la sociedad39.
Cabe pues identificar generaciones de gobiernos social-democráticos que por su naturaleza
política corresponden todas ellas al concepto enunciado, pero se establecen en etapas históricas
distintas y en distintas regiones - en el contexto de diversos modelos de desarrollo del capitalismo - con
rasgos constitutivos comunes y a la vez con diferencias significativas: en lo que refiere al contexto
general y a las condiciones concretas de emergencia, la clase de problemas que afrontan y las
restricciones en que deben moverse, la configuración política, los recursos de poder y las resultancias de
cada gobierno. Encontramos así desafíos y agendas diferentes, con diversas capacidades de innovación y
productos variados en lo que respecta a la democracia y el desarrollo, la regulación económica, las
políticas sociales y el montaje de regímenes de bienestar40.
37 Ver en particular: Kirchheimer (1966), Bergounioux & Manin (1979; 1989), Przeworski & Sprague (1986), Kitschelt (1994),
Przeworski (2001). El “parliamentary socialism” cultivado desde siempre por el Labour Party en Inglaterra, excluye por principio
y desde el principio toda opción revolucionaria e implica incluso una moderación sistemática del reformismo de izquierda
(MILIBAND, 1972). 38 El hecho de que en ciertos países de América Latina puedan registrarse características similares lleva a algunos autores a
dudar de la posibilidad de que surjan experiencias social-democráticas en la región (por ejemplo: Roberts (2008), Weyland et al
2010). 39 Un impulso importante para tales propósitos provino de la integración europea y sus instituciones, un circuito al que los países
en cuestión pugnaron por entrar y que actuó como amparo internacional y a la vez como incentivo para las coaliciones internas y
las acciones reformistas. 40 La existencia de fórmulas social-democráticas con posteridad a las ediciones clásicas, no es pacíficamente admitida. Dio pie a
interrogantes y polémicas al instalarse los gobiernos socialistas en Europa del Sur en el último tercio del siglo XX, que se
replantean al caracterizar las variedades de gobiernos de izquierda que surgen en América Latina a principios del siglo XXI. Por
lo demás y particularmente en Europa, hay en curso un debate sobre los desafíos presentes y sobre el destino de la social
democracia a partir del brote neo-liberal y al desatarse la crisis actual. La discusión se redobla y adquiere visos dramáticos en
aquellos casos en que los partidos de corte social-democrático han sido desplazados del gobierno, especialmente en Chile y en
España.

Hacia una nueva norma política
Al recorrer la senda social-democrática y en función de las estructuras de competencia que
condicionan sus estrategias políticas y su empeño electoral, los partidos de la izquierda institucional se
integran a las reglas de la democracia representativa. Esto es así no sólo en lo que refiere a las
elecciones, como “the only game in town”, camino que recorren asimismo las otras izquierdas que
triunfan en la etapa actual de América Latina, sino también en lo que respecta a la institucionalidad de
gobierno y al conjunto de restricciones políticas vigentes en un sistema plural competitivo. El
acatamiento de las restricciones políticas los lleva a incorporar las restricciones económicas. A raíz de
ello se avienen a la lógica de la economía capitalista, en mercados abiertos, lo que implica a la vez cierta
continuidad con el status quo y con los parámetros predominantes en la fase de liberalización.
Cabe pensar que se dibuja así un policy regime (PRZEWORSKI, 2001), que contribuye al
asentamiento de un “paradigma” normativo (ROBERTSON, 1976): gobiernos de distinta filiación ideológica
aplican políticas similares por obra de las condicionantes que imperan y en función de cálculos
electorales. Efectivamente, esto es lo que de hecho sucede - en distinta medida y en las diferentes arenas
de políticas públicas - con variaciones importantes, país a país y caso a caso. No obstante, estos
gobiernos tratan a la vez de impulsar orientaciones distintivas en áreas estratégicas. Esto ocurre
fundamentalmente a causa de su matriz ideológica y del contencioso interno del bloque gobernante,
factores ambos que se cruzan y que cuentan mucho. Responde asimismo a las propias determinaciones
de la competencia inter partidaria, que por un lado lleva a la moderación, pero al mismo tiempo induce a
poner en obra la “lógica de la diferencia”, en una dura lex de la dinámica política41.
La combinatoria entre continuidad e innovación, en ancas de un reformismo incremental y ya
no de la revolución de las sociedades capitalistas, promovido por izquierdas institucionales, dentro de
regímenes políticos estables, plurales y competitivos, es lo que define a los gobiernos social-
democráticos, en sus diversas generaciones. Esto vale igualmente para los ejemplares de la social
democracia criolla, que han surgido en América Latina.
Por cierto, el potencial social-democrático depende de los recursos políticos de cada gobierno,
que según he propuesto (LANZARO, 2008) remite a las siguientes dimensiones: a) los legados
institucionales y los patrones de políticas públicas heredados; b) el coeficiente de poder del gobierno y
del partido de gobierno, en relación al sistema de partidos y en su caso a la coalición de gobierno,
medido por los respaldos parlamentarios y otros factores concurrentes; c) el poder del partido de
izquierda en relación al gobierno que forma y al propio presidente, con diverso grado de influencia
política; d) las características y la organización del movimiento sindical, así como el tipo de relación que
este tiene con el gobierno y el partido de gobierno; e) relación del gobierno y del partido de gobierno con
la población ubicada en las franjas de pobreza, con los desocupados y con los trabajadores informales,
no organizados u organizados por fuera de los circuitos sindicales corrientes.
41 En una línea teórica clásica, hay múltiples trabajos que hacen hincapié en las diferencias de orientación política derivadas de la
ideología y de la acción de los partidos, incluyendo análisis específicos sobre las experiencias social-democráticas. Ver por
ejemplo las investigaciones de más porte, que son referencia obligada en la materia (CASTLES, 1982; BOIX, 1996; o GARRETT, 1998),
así como la argumentación de Maravall (1992) o el abordaje de Merkel & Petring (2008), centrados en los gobiernos de la
izquierda europea de las últimas décadas.

Durante la presidencia de Vázquez, el FA tuvo un alto coeficiente de poder y fue titular de un
gobierno mayoritario, de un solo partido. Había un liderazgo presidencial consistente, el jefe de gobierno
era a la vez jefe unitario del partido de gobierno y el Consejo de Ministros integró a los dirigentes de los
sectores del FA, dando lugar a una suerte de gobierno de gabinete en régimen presidencial. A ello hay
que agregar un relevo importante en las elites políticas, merced al estreno de los cuadros de izquierda en
el gobierno nacional, que tiene efectos sensibles, pero no “sísmicos”, ya que resulta de un proceso
gradualista, contando con varios años de propedéutica política.
Por su condición mayoritaria, el gobierno no se vio obligado a formar coaliciones ni a celebrar
compromisos parlamentarios y optó por prescindir de la oposición, en forma tajante. Además, blancos y
colorados quedaron fuera de la coparticipación en las empresas del Estado y los servicios públicos, tal
como le había ocurrido al FA entre 1990 y 2005. Recién con el segundo gobierno del FA, llegará la
restauración del viejo mecanismo de la coparticipación, que por iniciativa del presidente Mujica vuelve
aplicarse en base a su principio originario y ajustándose a la nueva estructura del sistema de partidos.
La performance del gobierno estuvo acorde con la magnitud de sus recursos de poder y en
ancas de una notable bonanza económica, aprobó un conjunto de disposiciones que delinean una agenda
social-democrática relevante42. Las innovaciones fueron significativas y ello coloca a Uruguay como
ejemplo de punta entre las experiencias social-democráticas latinoamericanas (LANZARO, 2011a), tanto
por las políticas adoptadas, como por la institucionalización que las encuadra43. También hubo
continuidades en áreas estratégicas de política nacional e internacional, así como en las líneas generales
del modelo de desarrollo capitalista. Por cierto, no faltaron las debilidades y en algunos de los rubros
que más exigían - como la educación - se notó la cortedad o la ausencia flagrante de las iniciativas.
Por tanto, la alternancia - pacífica - no fue en modo alguno trivial y aunque es discutible que
tenga un alcance fundacional tan marcado como el que los representantes oficialistas suelen proclamar,
la llegada al gobierno del tercer partido, que además es el más grande, aparece sin duda como un mojón
decisivo en el ciclo de rotación histórica de las últimas décadas44. Los cambios resultan importantes en
términos de políticas públicas y - lo que no es menor - se ajustan a las reglas democráticas y pasan por
procesos de construcción institucional. Sin embargo, esta alternancia tampoco fue “brusca” o radical.
Aun contando con recursos de poder de gran magnitud, el estreno de la izquierda no incurrió en
ejercicios de mayoría “arriesgada” y se apegó a una pauta de reformismo moderado - del centro hacia la
izquierda - típica de los gobiernos social-democráticos. Lo hizo dentro de la lógica incremental y de los
carriles de institucionalización que tienden a prevalecer en los regímenes plurales y competitivos,
acotando el riesgo de futuros vuelcos revisionistas. De hecho, puede decirse que predominó una vez más
el gradualismo y ese código genético de sociedad “amortiguadora” (REAL DE AZÚA, 1984), que la
democracia de partidos brinda al Uruguay.
42 Ver al respecto los Informes de Coyuntura del Instituto de Ciencia Política 2006-2009 y del Instituto de Economía 2005-2009.
Ver también Huber & Pribble (2011) y Lanzaro (2011a). 43 Particularmente en derechos humanos y manejo de las herencias de la dictadura, regulación económica y disciplina fiscal,
reforma tributaria y reforma de la salud, ciencia y tecnología, inversiones en capital humano, relaciones laborales y políticas
sociales. 44 Queda abierta la pregunta, planteada asimismo para otros gobiernos de izquierda en América Latina, sobre la posibilidad de
delinear un paradigma alternativo, con otros modelos de desarrollo capitalista o un nuevo desarrollismo.

Al cabo del cuarto de siglo transcurrido desde la transición democrática, la mutación histórica
delinea una nueva norma política que supone la persistencia de nuestra singular democracia de partidos,
con una reconfiguración mayor del sistema de partidos y modificaciones importantes en la política y el
Estado, en el régimen electoral y en las pragmáticas de gobierno, que tuvieron como protagonistas a los
partidos tradicionales y a la izquierda emergente. El estreno del FA en la presidencia nacional – que en sí
mismo implica un giro relevante - puede verse como un paso de “normalización”, que corona un proceso
de muchos años. En el centenario de la ley de Elecciones de 1910, piedra angular de nuestra formación
democrática, un juego sinuoso de cambios y continuidades produce el relevo en las estructuras de
competencia e implica la instalación de otra normalidad, que reemplaza a la que predominó durante la
égida del bipartidismo tradicional.
Referencias Bibliográficas
ABRANCHES, S. "Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro". Dados, vol.31, n° 1, 1988.
AGUIAR, C. Elecciones Uruguayas. Montevideo: CIEDUR, 1983.
ALDRICH, J. Why Parties? The Origin and Transformation of the Political Parties in America. Chicago: University of
Chicago Press, 1995.
ALMOND, G. & COLEMAN, J. (eds.). The Politics of Developing Areas. Princeton: University Press, 1960.
ALTMAN, D.; LIÑÁN, A. P. "Assessing the Quality of Democracy: Freedom, Competitiveness and Participation in Eighteen
Latin American Countries". Democratization, 9, 2002.
ARAUJO, M. M. “El ciclo político argentino”. Desarrollo Económico, nº 86, 1982.
AZÚA, C. R. Uruguay ¿una sociedad amortiguadora? Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1984.
BARRÁN, J. P. & NAHUM, B. El problema nacional y el estado: un marco histórico. En: La crisis uruguaya y el problema nacional. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1984.
BENTLEY, A. The Process of Government. Chicago: University of Chicago Press, 1908.
BERGOUNIOUX, A. & MANIN, B. La social-démocratie ou le compromis. Paris: PUF, 1979.
_________. Le régime social-démocrate. Paris: PUF, 1989.
BOBBIO, N. El futuro de la democracia. México: FCE, 1991.
BORELY, J. Représentation proportionelle de la majorité et des minorités. Paris: Germer Baillière, 1870.
BOTANA, N. "Las transformaciones institucionales en los años del menemismo". En: SIDICARO, R. y MAYER, J. (eds.). Política y Sociedad en los Años del Menemismo. Buenos Aires: UBA, 1995.
BOIX, C. Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la
economía mundial. Madrid: Alianza Editorial, 1996.
BUQUET, D.; CASTELLANO, E. “Representación proporcional y democracia en Uruguay”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 8, 1995.
BUQUET, D. "Reforma política y gobernabilidad democrática en el Uruguay: la reforma constitucional de 1996". Revista Uruguaya de Ciencia Política, 16, 1998.
_________. “El doble voto simultáneo”. Revista SAAP, 1-2, 2003.

_________. "Entre la legitimidad y la eficacia: reformas en los sistemas de elección presidencial en América Latina”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 10, 2010.
CAETANO, G.; RILLA, J.; PÉREZ, R. “La partidocracia uruguaya. Historia y teoría de la centralidad de los partidos”.
Cuadernos del CLAEH, 44, 1988.
CAPLOW, T. Dos contra uno: teoría de coaliciones en las tríadas. Madrid: Alianza Universidad, 1974.
CARROLL, R. & SHUGART, M. Neo-Madisonian Theory and Latin American Institutions. In: MUNCK, G. (ed.). Regimes and Democracy in Latin America. New York: Oxford University Press, 2007.
CASTELLANOS, A.; PÉREZ, R. El pluralismo. Examen de la experiencia uruguaya 1830-1918. Montevideo: CLAEH, 1981.
CASTLES, F. (ed.). The Impact of Parties. London: SAGE, 1982.
COLLIER, D.; COLLIER, R. B. Shaping the Political Arena. Princeton: Princeton University Press, 1991.
COLOMER, J. & ESCATEL, L. "La dimensión izquierda y derecha en América Latina". Desarrollo Económico, 45, 2005.
COPPEDGE, M. Strong Parties and Lame Ducks. Presidencial Partyarchy and Factionalism in Venezuela. Stanford:
Stanford University Press, 1994.
_________. Political Darwinism in Latin America’s Lost Decade. In: DIAMOND, L.; GUNTHER, R. (eds.). Political Parties and Democracy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001.
CORRALES, J. “Presidents, Ruling Parties and Party Rules. A Theory on the Theory of Economic Reform in Latin America”.
Comparative Politics, 32, 2000.
DAALDER, H. “Parties: Denied, Dismissed or Redundant?” In: GUNTHER, R.; MONTERO, J. R.; LINZ, J. (eds.). Political Parties. Old Concepts and New Challenges. New York: Oxford University Press, 2002.
DAHL, R. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971.
DAHRENDORF, R. Society and Democracy in Germany. New York: Double Day, 1967.
DI PALMA, G. To Craft Democracies. University of California Press, 1990.
DIX, R. “Consociational Democracy: The Case of Colombia”. Comparative Politics, 12, 1980.
DRAKE, P. Between Tyrany and Anarchy. A History of Democracy in Latin America, 1800-2006. Stanford: Stanford
University Press, 2009.
DUVERGER, M. Les Partis Politiques. Paris: Armand Colin, 1951.
_________. “Sociologie des Parties Politiques”. In: GURVITCH, G. (ed.). Traité de Sociologie. vol. 2 . Paris: PUF, 1960.
ERRANDONEA, A. M. “El mutacionismo electoral como indicador de estabilidad política”. Revista Uruguaya de Ciencias Sociales, nº 2, 1972.
FITZGIBBON, R. “Party Potpurri in Latin America”. Western Political Quarterly, 1/X, 1957.
FORTEZA, A. et al. Pro-Market Reform in Uruguay: Gradual Reform and Political Pluralism. In: FANELLI, J. M. (ed.).
Understanding Market Reforms in Latin America. New York: Palgrave MacMillan, 2007.
FRANCO, R. & LANZARO, J. (eds.). Política y Políticas Públicas en los Procesos de Reforma en América Latina. Buenos
Aires: Miño & Dávila, 2006.
GALLAGHER, T.; WILLIAMS, A. (eds.). Southern European Socialism Manchester: Manchester University Press, 1989.
GARRETT, G. Partisan Politics in the Global Economy. New York: Cambridge University Press, 1998.
GONZÁLEZ, L. “Legislación electoral y sistema de partidos: el caso uruguayo”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 4,
1991.
_________. Estructuras políticas y democracia en Uruguay. Montevideo: FCU, 1993.
HARTLYN, J. The Politics of Coalition Rule in Colombia. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

_________.; VALENZUELA, A. ”Democracy in Latin America since 1930”. In: BETHELL, L. (ed.). Latin America Politics and Society since 1930 - The Cambridge History of Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
HOFSTADTER, R. The Idea of a Party System. Berkeley: University of California Press, 1969.
HUBER, E. & PRIBBLE, J. Social Policy and Redistribution under Left Governments in Chile and Uruguay. In: LEVITSKY, S.;
ROBERTS, K. (eds.). The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2011.
HUNTINGTON, S. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968.
JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, J. La libertad política. Montevideo: Librería Nacional, 1884.
JONES, M.; MAINWARING, S. “The Nationalization of Parties and Party Systems”. Party Politics, 9-2, 2003.
KATZ, R.; MAIR, P. “Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel-Party”.
Party Politics, 1-1, 1995.
KITSCHELT, H. The Transformation of European Social Democracy. New York: Cambridge University Press, 1994.
_________. “Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Politics”. Comparative Politics, 33 – 6/7, 2000.
LAMAS, J. M. Riqueza y Pobreza del Uruguay. Montevideo: Palacio del Libro, 1930.
LANZARO, J. Sindicatos y sistema político: Relaciones corporativas en el Uruguay, 1940-1985. Montevideo: Fundación de
Cultura Universitaria, 1986.
_________. “Los partidos uruguayos: del keynesianismo criollo a un nuevo gobierno político”. En: VALDÉS, L. (ed.). El fin de siglo y los partidos políticos en América Latina. México DF: Instituto Mora, 1994.
_________. El fin del siglo del corporativismo. Caracas: Nueva Sociedad, 1998.
_________. “Uruguay: el presidencialismo pluralista”. Revista Mexicana de Sociología, 2, 1998.
_________. La segunda transición en el Uruguay. Gobierno y partidos en un tiempo de reformas. Montevideo: Fundación
de Cultura Universitaria, 2000a.
_________. Autoridad presidencial y relaciones de partido en el gobierno de Jorge Batlle. En: ICP Elecciones 1999-2000.
Montevideo: EBO, 2000b.
_________. (Ed.). Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2001.
_________. “Democracia pluralista y estructura política del Estado”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 14, 2004a.
_________. La reforma educativa en el Uruguay (1995-2000): virtudes y problemas de una iniciativa heterodoxa. CEPAL -
Serie Políticas Sociales 91. Santiago de Chile, 2004b.
_________. La izquierda uruguaya entre la oposición y el gobierno. Montevideo: Fin de Siglo, 2004c.
_________. Uruguay: Reformas políticas en la nueva etapa democrática. In: ZOVATTO, D.; OROZCO, J. (eds.). Reforma política y electoral en América Latina. México: IDEA-Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2007b.
_________. Uruguayan Parties: Transition within Transition. In: LAWSON, K.; MERKL, P. (eds.). When Political Parties Prosper. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007c.
_________. “La social democracia criolla”. Nueva Sociedad, 217, 2008.
_________. Uruguay: A Social Democratic Government in Latin America. In: LEVITSKY, S.; ROBERTS, K. (eds.). The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011a.
_________. “Social Democracy in the Global South. Brazil, Chile and Uruguay in a Comparative Perspective”. Social Europe Journal, vol.6, n°1, 2011b.
_________.; ARMAS, A. Uruguay: Clases medias y procesos electorales en una democracia de partidos. En: PARAMIO, L.
(ed.). Clases Medias y Procesos Electorales en América Latina. Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 2012.
_________.; LUNA, J. P. “Uruguay: Las claves de crecimiento del Frente Amplio”, Ponencia presentada al Seminario
“Democracia y Opinión Pública en América Latina”. Latinobarómetro-Clacso, Buenos Aires, 2002.

LAPALOMBARA, J. Democracy Italian Style. New Haven: Yale University Press, 1987.
LAWSON, K. & LANZARO, J. (eds.). Political Parties and Democracy. Santa Barbara: Praeger, 2010.
LIJPHART, A. “Consociational Democracy”. World Politics, 1969.
LINDBLOM, C. "The Science of Muddling Trough". Public Administration Review, 39, 1959.
_________. The Intelligence of Democracy: Decision Making Through Mutual Adjustment. New York: The Free Press,
1965.
LIPSET, S. M. “Radicalism or Reformism: The Sources of Working Class Politics”. American Political Science Review, 77, 1, 1983.
_________.; ROKKAN, S. Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press, 1967.
LORA, E. Las reformas estructurales en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo. BID DT 462. Washington
DC. Versión actualizada 2012: BID WP 346, 2001.
LUNA, J. P. “Frente Amplio and the Crafting of a Social Democratic Alternative in Uruguay”. Latin American Politics and Society, 49-4, 2007.
MAIR, P. Party System Change. New York: Oxford University Press, 1997.
MANIN, B. The Principles of Representative Government. New York: Cambridge University Press, 1997.
MANNHEIM, K. Man and Society. London: Routledge & Kegan Paul, 1940.
MARAVALL, J. M. “What is Left? Social Democratic Policies in Southern Europe”. Fundación Juan March, Working Paper
36, Madrid, 1992.
MARSHALL, T. H. Class, Citizenship and Social Development. New York: Doubleday, 1964.
MEDINA, A. D. El voto que el alma pronuncia. Montevideo: FCU, 1994.
MERKEL, W. ¿Final de la Socialdemocracia? Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1995.
_________.; PETRING, A. “La social democracia en Europa. Un análisis de su capacidad de reforma”. Nueva Sociedad,
217. Buenos Aires, 2008.
MESA-LAGO, C.; BERTRANAU, F. Manual de Economía de la Seguridad Social. Montevideo: CLAEH, 1998.
MIERES, P. “Cambios en el sistema de partidos uruguayo”. Cuadernos del CLAEH, 62, 1992.
MILIBAND, R. Parliamentary Socialism. A Study in the Politics of Labour. London: Merlin Press, 1972.
MOORE, B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon, 1966.
PÉREZ, R. “Los partidos en el Uruguay moderno”. Cuadernos del CLAEH, nº 31, 1984.
_________. “Cuatro antagonismos sucesivos. La concreta instauración de la democracia uruguaya”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 2, 1988.
PRZEWORSKI, A. & SPRAGUE, J. Paper Stones. A History of Electoral Socialism. Chicago: The University of Chicago Press,
1986.
PRZEWORSKI, A. How Many Ways Can Be Third? In: GLYN, A. (ed.). Social Democracy in Neoliberal Times. The Left and
Economic Policy since 1980. New York: Oxford University Press, 2001.
RIBEIRO, D. As Américas e a Civilização. São Paulo: Companhia das Letras. Nueva edición de la obra publicada por CEAL:
Buenos Aires, 2007 [1969].
ROBERTS, K. “¿Es posible una social democracia en América Latina?”. Nueva Sociedad, 217, 2008.
ROBERTSON, D. A Theory of Party Competition. London: Wiley, 1976.
SARTORI, G. Partidos y Sistemas de Partidos. Madrid: Alianza, 1980.

_________. Ingeniería Constitucional Comparada. México: FCE, 1994.
SCHMITTER, P. “Still the Century of Corporatism”. The Review of Politics, XXXVI, 1974.
SCOPPOLA, P. La repubblica dei partiti: profilo storico della democracia. In: Italia (1945-1990). Bologna: Il Mulino, 1991.
SIAVELIS, P. “Elite-Mass Congruence, Partidocracia and the Quality of Chilean Demcoracy”. Journal of Politics in Latin America, 3, 2009.
SOTELO, M. “La longevidad de los partidos tradicionales uruguayos”. En: Los partidos políticos uruguayos en tiempos de cambios. Montevideo: Universidad Católica, 1999.
SCHATTSCHNEIDER, E. Party Government. New York: Holy, Rinehart & Winston, 1942.
STOKES, S. “Political Parties and Democracy”. American Review of Political Science, 2, 1999.
TRUMAN, D. The Governmental Process. New York: Knopf, 1951.
URBINATI, N. “O que torna a representação democrática?”. Lua Nova, 67, 2006.
VANGER, M. José Batlle y Ordóñez of Uruguay: The Creator of his Times 1902-1907. Harvard University Press, 1963. En
español: José Batlle y Ordóñez: el creador de su tiempo. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1992.
_________. El país modelo. Montevideo: Arca-Ebo, 1983.
WEYLAND, K.; MADRID, R.; HUNTER, W. (eds.). Leftist Governments in Latin America. New York: Cambridge University Press,
2010.
Jorge Lanzaro – [email protected]
Submetido à publicação em agosto de 2012.
Aprovado para publicação em abril de 2013.

Thiago Marzagão Doutorando em Ciência Política
The Ohio State University
Resumo: Por que municípios próximos tendem a ter resultados eleitorais semelhantes? Testam-se aqui três possíveis
explicações: as interações sociais entre residentes de municípios próximos; a concentração das campanhas eleitorais em
determinadas regiões em detrimento de outras; e as similaridades socioeconômicas observadas entre municípios próximos. Com
dados das eleições de 2010 e ferramentas de econometria espacial, a primeira hipótese foi rejeitada; a segunda hipótese
foi corroborada preliminarmente; e a terceira hipótese foi corroborada inequivocamente. Os dados mostram ainda que
Dilma Rousseff "herdou" a base geográfica de Lula e que essa base é bastante diferente da do PT, que continua sobretudo um
partido urbano.
Palavras-chave: geografia eleitoral; econometria espacial; Partido dos Trabalhadores
Abstract: Why do nearby towns tend to have similar electoral results? We test here three possible explanations: social interactions
between inhabitants of nearby towns; the concentration of campaign strategies in some areas to the detriment of other areas; and
the socioeconomic similarities of nearby towns. Using data from the 2010 elections and spatial econometrics, we rejected the
first hypothesis; we found some preliminary support for the second hypothesis; and we found unequivocal support for
the third hypothesis. The data also show that Dilma Rousseff “inherited” Lula’s electoral basis of support and that this is quite
different from that of the PT, which remains an urban-based party.
Keywords: electoral geography; spatial econometrics; Workers’ Party

Puzzle, hipóteses e informação contextual1
Por que eleitores que vivem em municípios próximos tendem a votar nos mesmos candidatos?
A literatura existente fornece abundante evidência de que a interação com familiares e amigos afeta a
escolha do eleitor (HUCKFELDT & SPRAGUE, 1991; NICKERSON, 2008). Mas familiares e amigos tendem a
residir dentro do mesmo município; portanto esse tipo de interação não explica a similaridade do voto
entre municípios. Este artigo testa três hipóteses para a autocorrelação espacial observada entre os
resultados eleitorais de municípios próximos. A primeira é que o voto é influenciado não apenas por
interações sociais que acontecem dentro de cada município, mas também por interações sociais que
acontecem entre municípios. Como mostram os modelos gravitacionais, fluxos de comércio são
inversamente proporcionais à distancia (TINBERGEN, 1962), de modo que tudo o mais constante
municípios próximos devem transacionar mais do que municípios distantes. Essas interações
econômicas, por sua vez, ensejam interações sociais – por exemplo, empresas criam cadeias de
fornecimento nas quais residentes de diferentes municípios interagem regularmente. Essas interações
podem resultar em discussões políticas que influenciam a escolha eleitoral.
A segunda hipótese testada neste artigo é que campanhas eleitorais focam em certas regiões e
negligenciam outras, o que aproxima o voto dos eleitores residentes em municípios pertencentes a uma
mesma região. Candidatos têm recursos finitos, de modo que eles precisam alocar seus “war chests”
estrategicamente. Isso é alcançado quando os candidatos concentram seus recursos naquelas regiões
com o maior retorno em termos de votos ou doações de campanha (CHO & GIMPEL, 2007). Na medida em
que essa taxa de retorno é semelhante em municípios próximos (devido a fatores históricos), a alocação
de recursos de campanha também será espacialmente autocorrelacionada e, a menos que a campanha
tenha efeito nulo, o voto também será espacialmente autocorrelacionado.
Por fim, a terceira hipótese é que eleitores em municípios próximos tendem a votar de maneira
parecida simplesmente porque são socioeconomicamente semelhantes e portanto têm preferências
políticas semelhantes. Condições socioeconômicas não são distribuídas aleatoriamente pelo território
nacional; municípios pobres normalmente estão próximos de outros municípios pobres e vice-versa. Na
medida em que condições materiais objetivas influenciam o comportamento eleitoral, o voto deve ser
espacialmente autocorrelacionado.
Informação contextual
A dimensão geográfica das eleições brasileiras é discutida em Carraro et al (2007), Nicolau &
Peixoto (2007), Soares & Terron (2008), Hunter & Power (2008) e Terron & Soares (2010). Apenas
Carraro et al (2007), Soares & Terron (2008) e Terron & Soares (2010) usam econometria espacial;
Nicolau & Peixoto (2007) e Hunter & Power (2008) somente discutem a variação do resultado eleitoral
entre estados. Três achados principais emergem da literatura existente. Primeiro, enquanto até 2002 a
maior parte do voto em Lula estava concentrada nos centros urbano-industriais do Sul e do Sudeste,
após ganhar a presidência, em 2003, Lula conseguiu estender seu apoio eleitoral para as áreas rurais e
1 Esta pesquisa foi possível devido aos financiamentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), da Fundação Fulbright e do Ministério do Planejamento. O autor agradece as críticas e sugestões do (a) parecerista
anônimo (a).

subdesenvolvidas do Norte e Nordeste (SOARES & TERRON, 2008). Essa transformação ficou clara na
eleição de 2006 e, segundo a maioria dos pesquisadores, resultou principalmente do bolsa-família,
programa que concede R$ 68 mensais (mais R$ 22 por criança na escola) a famílias pobres. O programa
custa cerca de 0.5% do PIB nacional e beneficia cerca de 44 milhões de pessoas, concentradas
sobretudo nas áreas rurais do Norte e Nordeste – precisamente onde o apoio eleitoral de Lula se
expandiu entre 2002 e 2006. (Carraro et al 2007 são os únicos pesquisadores que apontam o
crescimento econômico, e não o bolsa-família, como a principal explicação para a variação no apoio
eleitoral de Lula entre municípios).
O segundo principal achado da literatura existente é que a autocorrelação espacial do voto é
geralmente alta. A estatística Moran I (que varia entre -1=correlação negativa perfeita e +1=correlação
positiva perfeita) para autocorrelação espacial do voto entre municípios variou entre 0.60 e 0.81 para as
eleições ocorridas entre 1994 e 2006 (TERRON & SOARES, 2010). Por fim, o terceiro achado é que as
bases eleitorais de Lula e do PT seguiram trajetórias diferentes a partir de 2002. Enquanto Lula
conseguiu expandir seu apoio eleitoral para o Norte e Nordeste, o PT permaneceu principalmente um
partido urbano. Soares & Terron (2010) mostram que a correlação espacial bivariada entre os votos em
Lula e os votos em deputados do PT declinou de 0.41 em 2002 para -0.04 em 2006. Essa divergência é
provavelmente relacionada ao caráter personalista da política brasileira; os eleitores associam o bolsa-
família (ou o crescimento econômico, na interpretação de Carraro et al 2007) à figura do presidente, não
ao partido.
Em suma, a literatura existente revela padrões eleitorais interessantes. Erros metodológicos,
porém, lançam dúvidas sobre os resultados. Nem todos os autores informam qual método de estimação
foi utilizado nas análises multivariadas – mínimos quadrados ordinários (ordinary least squares – OLS),
máxima verossimilhança (maximum likelihood – ML) ou o método generalizado dos momentos (generalized
method of moments – GMM). Essa omissão é problemática porque regressores espacialmente defasados
sempre introduzem endogeneidade (dado que observações próximas influenciam-se mutuamente) e
usualmente também heterocedasticidade (ANSELIN, 2006) e esses problemas têm conseqüências
diferentes para diferentes métodos de estimação (WARD & GLEDITSCH, 2008; KELEJIAN & PRUCHA, 2010).
Outro problema metodológico é que a interpretação dos coeficientes é na maior parte das vezes
equivocada. Considere Soares & Terron (2008), por exemplo. Eles usam um modelo de defasagens
espaciais para a diferença na proporção de votos em Lula entre o primeiro e o segundo turnos da eleição
de 2006, em cada município. Eles encontram um coeficiente de 0.97 para a razão bolsa-família/renda e
concluem que “Se fosse possível manter constante o efeito da renda domiciliar, cada 1% de acréscimo
do BF/renda significaria, em média, 1% de incremento sobre a diferença nos votos percentuais de Lula
no município.” (p. 295). Mas municípios próximos influenciam-se mutuamente, de modo que os
coeficientes de uma regressão com defasagens espaciais não podem ser interpretados como num
modelo linear (WARD & GLEDITSCH, 2008). Enquanto as estimativas de um modelo não-espacial são
computadas como
E[y] X, no modelo de defasagens espaciais as estimativas devem ser computadas
como
E[y] (I P)1X, onde
I é uma matriz identidade (uma matriz com 1s na diagonal principal e 0s

nas demais células) e os demais termos são explicados na Seção “Testes de hipóteses”, mais adiante2.
Como Ward & Gleditsch (2008) observam, o termo
(I P)1 é um multiplicador que captura a dinâmica
de longo prazo em que alterações na observação i produzem alterações na observação k, que reverberam
em novas alterações na observação i e assim por diante, até que o choque se dissipe. O coeficiente de
0.97 encontrado por Soares & Terron (2008) indica apenas o impacto direto de uma alteração em
X
sobre
y , sem considerar a natureza dinâmica do modelo. O equilíbrio final é o produto do impacto direto
e do impacto indireto – e, note-se, o equilíbrio final é diferente para cada observação, visto que cada
município tem uma matriz de pesos própria. (Outro problema é que ainda que o modelo fosse estático,
um coeficiente de 0.97 implicaria que para cada ponto percentual de acréscimo na razão bolsa-
família/renda a diferença na votação de Lula aumentaria um ponto percentual; ambas as variáveis
precisariam estar em forma logarítmica para permitir a interpretação pretendida por Soares & Terron
2008). Terron & Soares (2010) e Carraro et al (2007) cometem os mesmos erros.
Outro problema com a literatura existente é que a escolha da matriz de pesos é por vezes
questionável. Carraro et al (2007), por exemplo, consideram como “municípios próximos” todos aqueles
cujos centróides estão dentro um raio de 50 km do centróide do município i; municípios que excedem
essa distância são excluídos da matriz de pesos (ou seja, têm peso zero). Como será discutido na Seção
“Regularidades espaciais nas eleições brasileiras”, essa escolha exclui metade do território brasileiro da
estimação, devido às grandes dimensões dos municípios da região Norte. Dado que o Norte é
socioeconomicamente muito distinto to Sul e do Sudeste (municípios do Norte tendem a ser muito mais
pobres e menos populosos), as inferências de Carraro et al (2007) são baseadas em estimativas
fortemente enviesadas.
Por fim, nenhum dos trabalhos existentes discute a possibilidade de heterogeneidade, i.e., de
que os efeitos (inclusive diretos) das variáveis independentes (bolsa-família, renda, etc) sejam diferentes
de uma região para outra.
Roteiro
A Seção “Regularidades espaciais nas eleições brasileiras” mostra que o voto foi espacialmente
autocorrelacionado na eleição de 2010 e identifica em quais áreas do país essa autocorrelação foi mais
forte. A Seção “Regularidades espaciais nas eleições brasileiras” também compara as regularidades
observadas na eleição de 2010 com aquelas observadas em eleições anteriores. Embora sem carisma,
sem experiência com política eleitoral e pouco conhecida do público antes da campanha, Dilma Rousseff
venceu a eleição. Qual foi a distribuição geográfica de seu apoio eleitoral? Foi similar à de Lula em 2006?
Como essa distribuição se compara com a do PT? O PT conseguiu "pegar carona" na popularidade de
Lula e expandir geograficamente suas bases eleitorais desde 2006? Essas são as perguntas que orientam
a Seção “Regularidades espaciais nas eleições brasileiras”. A Seção “Explicando as regularidades
espaciais das eleições brasileiras”, por seu turno, testa as três hipóteses discutidas anteriormente e
discute os resultados. A Seção “Explicando as regularidades espaciais das eleições brasileiras” também
2 A fórmula é uma simples derivação do modelo de defasagens espaciais,
y Py X . Movendo todos os termos
relacionados a y para o lado esquerdo da equação o resultado é
(I P)y X , o que pode ser rearranjado como
y (X) (I P) (I P)1(X). Dado que
E[] 0, a fórmula se reduz a
E[y] (I P)1X. Vide Seção “Testes de
hipóteses” para mais detalhes sobre o modelo de defasagens espaciais.

testa a premissa de homogeneidade (i.e., de que o efeito de cada variável incluída no modelo é o mesmo
em todo o território nacional), o que é feito por meio de uma regressão geograficamente ponderada.
Regularidades espaciais nas eleições brasileiras
Esta seção faz uma análise exploratória dos dados, avalia se de fato há autocorrelação espacial
nas eleições brasileiras e discute a escolha da matriz de pesos apropriada.
O Mapa 1 mostra a proporção do voto em Dilma Rousseff em cada município no segundo turno
da eleição presidencial de 20103.
Mapa 1
Votação de Dilma no segundo turno (2010)
Fontes: TSE; IBGE.
Como o Mapa 1 mostra, os votos em Dilma concentraram-se na região Nordeste e nos estados
do Amazonas (em cujos municípios Dilma teve entre 76% e 97% dos votos) e Amapá. Esse padrão é
bastante similar ao de 2006; diferenças de escala à parte, o Mapa 1 é muito semelhante ao encontrado
em Soares & Terron (2008).
3 A fonte dos dados geocodificados foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A fonte dos dados eleitorais foi o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Maiores detalhes e estatísticas descritivas estão no Apêndice.

O Mapa 1 também sugere autocorrelação espacial: municípios próximos tendem a votar de
forma parecida. É preciso porém testar formalmente a existência de autocorrelação espacial. Para tanto,
o primeiro passo é definir exatamente o que é um município "próximo". Como discutido na Seção
“Puzzle, hipóteses e informação contextual”, usar um raio de 50 km, como Carraro et al (2007) fazem, é
inadequado. Devido a padrões históricos de colonização, os municípios brasileiros tendem a ser
pequenos no Sul, Sudeste e Nordeste e grandes no Norte e em parte do Centro-Oeste. (Um padrão
similar é observado nos Estados Unidos, onde os municípios tendem a ser maiores na costa oeste do que
na costa leste.) Por exemplo, um indivíduo no centróide de Altamira (um município paraense de 159.695
km2, maior que Portugal) precisaria atravessar 198,6 km para chegar até o centróide mais próximo.
Portanto adotar um raio de 50 km implica transformar Altamira em um município sem "vizinhos"; em
econometria espacial observações sem vizinhos são chamadas de "ilhas" e excluídas da estimação. No
total, 334 municípios brasileiros estão na mesma situação de Altamira, i.e., a distância entre o próprio
centróide e o centróide mais próximo é superior a 50 km. Pode parecer pouco, mas juntos aqueles 334
municípios representam aproximadamente 50% do território nacional (quase 100% da região Norte e
mais de 50% da região Centro-Oeste), como mostra o Mapa 2.
Mapa 2
"Ilhas" produzidas usando-se um raio de 50 km (áreas em amarelo)
Fonte: IBGE.

Excluir tamanha fatia do país das estimações seria uma limitação grave: a análise toda seria
aplicável apenas às regiões Sul e Sudeste (e a parte da região Nordeste). Um contra-argumento é que,
dadas as dimensões dos municípios do Norte, talvez eles sejam de fato isolados uns dos outros e
portanto a idéia de influência recíproca – que fundamenta o modelo de defasagens espaciais – não se
lhes aplica e sua exclusão é apropriada. Mas mesmo municípios grandes fazem comércio – nenhum
município produz tudo o que consome e consome tudo o que produz. Altamira e Gurupá (municípios
vizinhos no Pará) podem interagir menos que, digamos, Florianópolis e São José (municípios vizinhos em
Santa Catarina), mas alguma interação existe e assumir que essa interação é zero é um erro de
especificação do modelo.
Aumentar o raio para 80 km elimina muitas das "ilhas" no Nordeste mas altera quase nada no
Norte e no Centro-Oeste. Aumentar o raio para 110 km elimina praticamente todas as ilhas no Nordeste
e no Centro-Oeste mas ainda altera muito pouco no Norte. O menor raio necessário para eliminar todas
as ilhas é de 374 km. Mas o raio não pode ser aumentado arbitrariamente. Um raio de 374 km não
modela adequadamente as dinâmicas no Sul e no Sudeste: esse raio equivale aproximadamente a
distância entre, por exemplo, São Paulo e Ribeirão Preto, mas existem 16 municípios entre os dois.
Qualquer influência que Ribeirão Preto poderia ter sobre os resultados eleitorais de São Paulo (e vice-
versa) é certamente dissipada ao longo do caminho.
Em suma, não é possível encontrar um raio que seja apropriado para todas as regiões do país.
Dessa forma duas alternativas são adotadas neste artigo. A primeira – adotada nesta seção e em parte
da Seção “Explicando as regularidades espaciais das eleições brasileiras” – é definir municípios
"próximos" como municípios contíguos. Em termos práticos, isso equivale a criar adotar um vetor de
pesos
Pi que atribui peso um aos municípios contíguos ao município i e peso zero a todos os demais
municípios4. Essa matriz de contigüidade produz apenas três "ilhas": Fernando de Noronha e Ilhabela
(que são ilhas no sentido literal e portanto não têm municípios contíguos) e Brasília (que tecnicamente
não é um município). A segunda alternativa, adotada na maior parte da Seção “Explicando as
regularidades espaciais das eleições brasileiras”, é uma matriz de distâncias inversas. Nessa matriz cada
município relaciona-se com todos os demais municípios do país mas o peso atribuído ao município k é
inversamente proporcional à distância entre os municípios i e k (e.g., 1/[distância em km entre o
município i e o município k]). A razão pela qual a matriz de distâncias inversas é adotada em parte da
Seção “Explicando as regularidades espaciais das eleições brasileiras” é técnica e não estatística (o
apêndice fornece maiores detalhes). Em todo caso, como será demonstrado na Seção “Explicando as
regularidades espaciais das eleições brasileiras” a matriz de contigüidade e a matriz de distâncias
inversas produzem resultados muito semelhantes (embora a dimensão espacial tenha um impacto maior
sobre a variável dependente usando-se a matriz de distâncias inversas).
Adotando-se a matriz de contigüidade, a estatística Moran I para a eleição presidencial de 2010
é de 0.783 (p < 0.0001), o que confirma que o voto em Dilma é espacialmente autocorrelacionado. O
Mapa 3 mostra quais aglomerados eleitorais são "reais" e não meros artefatos visuais. As áreas em realce
representam municípios cuja proporção do voto em Dilma é estatisticamente correlacionada com a
4 Em particular, a escolha aqui é por "contigüidade rainha" em vez de "contigüidade torre" (os termos derivam dos movimentos da
rainha e da torre no jogo de xadrez). Com polígonos muito irregulares (como os municípios brasileiros) a diferença entre ambas é
pequena e a "contigüidade rainha" exige menos em termos computacionais.

proporção do voto em Dilma nos municípios vizinhos. Em termos técnicos, esses são os municípios cujos
indicadores locais de associação espacial (LISA - local indicators of spatial association) são
estatisticamente significativos. Esses municípios podem ser categorizados em quatro grupos. "High-high"
representa os municípios em que a votação de Dilma foi alta e que estão circundados por municípios em
que a votação de Dilma também foi alta. "Low-low" representa os municípios em que a votação de Dilma
foi baixa e que estão circundados por municípios em que a votação de Dilma também foi alta. "High-low"
representa os municípios em que a votação de Dilma foi alta e que estão circundados por municípios em
que a votação de Dilma foi baixa. E "low-high" representa os municípios em que a votação de Dilma foi
baixa e que estão circundados por municípios em que a votação de Dilma foi alta. Esses últimos dois
grupos – "high-low" e "low-high" – são residuais (apenas 50 municípios de um total de 2891 municípios
cujos LISAs são estatisticamente significativos), de modo que a análise será focada nos municípios "high-
high" e "low-low".
Mapa 3
Estatísticas LISA para a votação de Dilma no segundo turno (2010)
Fontes: TSE; IBGE.

Existem três grandes aglomerados "high-high": a região Nordeste; o estado do Amazonas; e a
porção nordeste do estado de Minas Gerais. Por outro lado, existem quatro grandes aglomerados "low-
low": o estado de Roraima; a porção norte do estado do Mato Grosso junto com a porção central do
estado do Pará; o estado do Mato Grosso do Sul; e o estado de São Paulo junto com as porções oeste de
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Comparando o Mapa 3 com seu equivalente em Soares &
Terron (2008), a única diferença é o estado do Amapá. Em 2006 o Amapá era quase inteiramente um
aglomerado "high-high" ao passo que em 2010 havia apenas um pequeno aglomerado "high-high" no meio
do estado. Fora isso não houve grandes alterações.
A Tabela 1 compara os indicadores socioeconômicos dos quatro grupos.
Tabela 1
Indicadores socioeconômicos dos aglomerados LISA
High-High Low-Low Low-High High-Low
Número de municípios 1344 1464 30 50
População 43,1 milhões 61,3 milhões 2,1 milhões 1,6 milhões
PIB per capita R$ 8.865 R$ 22.088 R$ 9.185 R$ 14.799
Bolsa Família/PIB 13,3% 1,4% 10,5% 2,6%
Taxa de analfabetismo 18,0% 5,4% 13,7% 6,6%
População rural 27,1% 9,6% 1,4% 9,5%
Saneamento inadequado 60,7% 26,1% 61,7% 24,3%
Fontes: IBGE (população, PIB per capita, taxa de analfabetismo, população rural, saneamento inadequado); CGU (transferências do Bolsa Família).
Notas: Todos os dados são de 2009. A taxa de analfabetismo é a proporção de indivíduos de 15 anos ou mais que não conseguem ler o
escrever.
A Tabela 1 mostra uma nítida divisão socioeconômica entre os aglomerados "high-high" e os
aglomerados "low-low". No primeiro caso (que compreende 1344 municípios e 43,1 milhões de pessoas)
o PIB per capita é de R$ 8.865, 18% são analfabetos, 27,1% vivem na zona rural, 60,7% dos domicílios
não têm saneamento apropriado e o bolsa-família representa 13,3% do PIB. No segundo caso (que
compreende 1464 municípios e 61,3 milhões de pessoas) o PIB per capita é quase três vezes maior (R$
22.088), a taxa de analfabetismo é mais de dez vezes menor (1.4%), a incidência de saneamento
inapropriado é de 26,1%, menos de 10% vivem na zona rural e a razão bolsa-família/PIB é de apenas
1.4%5. A divisão é não apenas socioeconômica mas geográfica: 99,7% dos aglomerados "high-high" estão
no Norte e Nordeste e na porção norte de Minas Gerais, ao passo que 93,2% dos aglomerados "low-low"
estão no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e na porção sul de Minas Gerais.
Em suma, a eleição presidencial de 2010 dividiu o "Norte" (numa definição flexível da palavra) e
o "Sul". Dado que o peso eleitoral dos aglomerados "low-low" (61,3 milhões de pessoas) é muito maior
que o dos aglomerados "high-high" (43,1 milhões de pessoas), à primeira vista é surpreendente que
Dilma tenha vencido a eleição. Sua vitória é resultado de dois fatores: os municípios não-pertencentes a
qualquer aglomerado (2675 no total, com indicadores socioeconômicos entre aqueles dos aglomerados
"low-low" e aqueles dos aglomerados "high-high") e sua expressiva votação mesmo nos aglomerados "low-
5 A fonte de todos os dados socioeconômicos exceto o bolsa-família é o IBGE. A fonte dos dados relativos ao bolsa-família é a
Controladoria-Geral da União (CGU). Detalhes e estatísticas descritivas estão no Apêndice.

low". Este último ponto merece alguma elaboração. Ao que parece, a votação de Dilma teve um "piso": em
nenhum município do país ela recebeu menos de 19% do voto. Mesmo no município de Capixaba, no
Acre, cuja estatística LISA (5,13) é a maior entre todos os municípios "low-low", Dilma conseguiu obter
mais de 20% dos votos. No município de São Paulo, histórico reduto tucano, Dilma conseguiu obter
46,8%, quase metade dos votos, e perdeu para Serra por apenas 6,25 pontos percentuais. Portanto
mesmo onde ela perdeu Dilma ainda obteve votações substantivas. O mesmo não aconteceu com Serra.
Sua votação não teve um "piso": em aglomerados "high-high" ele freqüentemente recebeu menos de 10%
dos votos; no município de Calumbi (Ceará), por exemplo, ele recebeu apenas 3,49% dos votos.
Os Mapas 1 e 3 acima mostraram que o apoio eleitoral de Dilma em 2010 seguiu o mesmo
padrão geográfico do apoio de Lula em 2006. E quanto ao apoio eleitoral do PT? Como discutido acima,
Lula conseguiu estender sua base geográfica mas o PT não (TERRON & SOARES, 2010). Isso mudou entre
2006 e 2010? Os Mapas 4 e 5 mostram a votação em deputados estaduais e federais do PT em 2010.
Mapa 4 Votação do PT para Assembléias Estaduais (2010)
Fontes: TSE; IBGE.

Mapa 5
Votação do PT para a Câmara dos Deputados (2010)
Fontes: TSE;IBGE.
Claramente, a política brasileira continua altamente personalista: a distribuição geográfica da
votação do PT não nos ajuda a prever a distribuição geográfica da votação de Dilma. Isso indica que o
desacoplamento identificado por Terron & Soares (2010) ainda continua. O desacoplamento é
especialmente visível no estado do Amazonas e nas regiões Sudeste e Sul. No Amazonas, Dilma recebeu
81,1% dos votos, mas o PT recebeu apenas 5,2% dos votos para a assembléia estadual. Por outro lado,
em São Paulo Dilma recebeu apenas 44,9% dos votos, enquanto o PT recebeu 17,1% dos votos para a
assembléia estadual. Portanto se há alguma correlação entre a votação de Dilma e a do PT ela é
negativa: Dilma tem mais apoio onde o PT tem menos e vice-versa (de fato, a estatística Moran I
bivariada entre as duas votações é de -0.0453). A conclusão é que Lula conseguiu transferir sua base
eleitoral para Dilma, mas não para o PT6.
6 Também vale notar que embora a votação do PT para assembléias estaduais mostre autocorrelação espacial, o efeito é muito
menos pronunciado que na eleição presidencial (a estatística Moran I é 0.3733, com p < 0.0001).

Em resumo, esta seção mostrou haver forte autocorrelação espacial na votação para presidente
em 2010; que a base geográfica de Dilma em 2010 foi essencialmente a mesma que a base geográfica
de Lula em 2006; e que as bases geográficas do PT, por um lado, e de Lula e Dilma, por outro,
continuam divergentes. A próxima seção testa explicações alternativas para a autocorrelação espacial do
voto em Dilma e avalia se essas explicações são igualmente válidas em diferentes regiões do país.
Explicando as regularidades espaciais das eleições brasileiras
Testes de hipóteses
Em termos econométricos, cada hipótese discutida na Seção “Puzzle, hipóteses e informação
contextual” implica um modelo espacial diferente. A primeira hipótese (interações sociais entre
municípios) implica um modelo de defasagens espaciais: o valor da variável dependente em cada
município é determinado por uma média ponderada dos valores da variável dependente em municípios
próximos. Formalmente, essa relação pode ser resumida como
yi Piyk i , onde
y i é o valor da
variável dependente para o município i (e.g., porcentagem dos votos obtida pelo Partido dos
Trabalhadores no município i),
yk é uma matriz que contém o valor da variável dependente para os
municípios próximos,
Pi é um vetor que especifica o peso atribuído a cada município próximo (e.g.,
1/[distância em km entre o município i e o município k]),
é o efeito imediato de
Piyk em
y i (i.e., a
alteração imediata em
y iquando
Piyk aumenta em uma unidade) e
i representa o “erro”, i.e., a
diferença entre o
y i estimado pelo modelo e o
y i observado na realidade (essa diferença captura tudo
aquilo que influencia
y i mas foi deixado de fora do modelo; idealmente a média dos erros, ou
“resíduos”, é zero, sua variância é constante e o erro de uma observação não tem relação com os erros
das demais observações). O modelo pode ser facilmente estendido para o caso em que outras variáveis
(além da influência recíproca entre municípios) também determinam a variável dependente:
yi Piyk Xi i, onde
X i é um vetor que contém os valores das demais variáveis independentes
(e.g., renda média, taxa de analfabetismo) para o município i e
é um vetor de coeficientes. (O termo
“defasagem”, que pode soar estranho nesse contexto, vem da analogia com modelos temporais, em que
se regride o valor atual de
y a valores passados – i.e., defasados – de
y ).
A segunda e terceira hipóteses implicam um modelo de erros espaciais (e não de defasagens
espaciais): resultados eleitorais são espacialmente autocorrelacionados não porque municípios próximos
se influenciam reciprocamente, mas apenas porque municípios próximos são influenciados por fatores
comuns (campanhas eleitorais ou condições socioeconômicas) e ao menos um desses fatores não pode
ser explicitamente incluído no modelo. Formalmente, o modelo é
yi Ci1 Si2 i, onde
1 é o efeito
das campanhas eleitorais e
2 é o efeito das condições socioeconômicas. Esse modelo, em si, é apenas
um modelo comum de regressão linear. A dimensão espacial surge quando uma das variáveis
independentes não pode ser explicitamente incluída. Aqui a dificuldade é com as campanhas eleitorais:
não há dados comparáveis e publicamente disponíveis sobre a concentração geográfica das campanhas
eleitorais dos partidos brasileiros. Dessa forma o modelo (estimável) passa a ser
yi Si2 i , onde
i Pik i . Diferentemente do modelo de defasagens espaciais, discutido anteriormente, aqui o
termo de erro,
i , não é aleatório: ele contém um componente sistemático,
Pik , por meio do qual o
erro de uma observação está espacialmente autocorrelacionado com os erros das observações próximas,

ponderados pelo vetor de pesos
Pi (WARD & GLEDITSCH, 2008). Esse componente sistemático é resultado
da exclusão da variável “campanhas eleitorais”.
Testar a primeira hipótese implica testar se o modelo contém um termo de defasagem espacial
(
Piyk), o que é feito por meio de testes de Langrage e por meio da estimação de um modelo de
defasagens e erros espaciais (i.e.,
yi Piyk Sii, que é uma combinação do modelo de defasagens
espaciais e do modelo de erros espaciais). A idéia é que se
for estatisticamente significativo a
primeira hipótese é aceita (o que, naturalmente, não implica a rejeição das demais hipóteses, visto que
elas não são mutuamente excludentes).
Testar a segunda e terceira hipóteses implica testar se os resíduos do modelo são
espacialmente autocorrelacionados, o que também é feito por meio de testes de Lagrange e por meio da
estimação de um modelo de defasagens e erros espaciais. A idéia aqui é que como as defasagens
espaciais e os indicadores socioeconômicos estão explicitamente incluídos no modelo, qualquer
autocorrelação espacial observada nos resíduos deve resultar das campanhas eleitorais (i.e., a variável
independente omitida e capturada por meio dos resíduos). A lógica é simples. Se o efeito das condições
socioeconômicas for estatisticamente significativo e os resíduos não forem espacialmente
autocorrelacionados, a segunda hipótese é rejeitada e a terceira hipótese é aceita. Se o efeito das
condições socioeconômicas for estatisticamente significativo mas os resíduos ainda mostrarem
autocorrelação espacial, ambas a segunda e a terceira hipóteses são aceitas. E se o efeito das condições
socioeconômicas não for estatisticamente significativo e os resíduos mostrarem autocorrelação espacial,
a segunda hipótese é aceita e a terceira hipótese é rejeitada. (O cenário em que o efeito das condições
socioeconômicas não é estatisticamente significativo e os resíduos não são espacialmente
autocorrelacionados é logicamente inconsistente – variáveis com efeito nulo não podem eliminar a
autocorrelação dos resíduos.)
Em suma, a terceira hipótese (condições socioeconômicas) é testada diretamente ao passo que
a primeira (influência recíproca) e segunda (campanhas eleitorais) hipóteses são testadas indiretamente.
O primeiro passo é a escolha do modelo espacial a ser estimado. Para tanto estima-se um
modelo não-espacial por mínimos quadrados e então aplicam-se testes baseados no multiplicador de
Lagrange (testes LM). Se o teste LM para a presença de defasagens espaciais for estatisticamente
significativo mas o teste LM para a presença de erros espaciais não, conclui-se que o modelo de
defasagens espaciais é o adequado, e vice-versa. Se ambos os testes forem estatisticamente
significativos, apela-se para uma versão modificada do teste LM. Nessa versão modificada o teste LM
para a presença de defasagens espaciais é válido mesmo na presença de erros espaciais e o teste LM
para a presença de erros espaciais é válido mesmo na presença de defasagens espaciais. Se ambos os
testes modificados forem estatisticamente significativos, então a) escolhe-se o modelo com a maior
estatística LM; ou b) conclui-se que o modelo adequado é o de defasagens e erros espaciais (que é uma
combinação de ambos os modelos).
O modelo escolhido é então estimado por meio de GMM ou ML. OLS geralmente não é uma
alternativa. O modelo de defasagens espaciais introduz endogeneidade: a variável dependente aparece
tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da equação, de modo que os coeficientes estimados por
OLS são enviesados e inconsistentes (i.e., o viés não desaparece conforme o número de observações

aumenta; Ward & Gleditsch 2008 notam que em modelos espaciais o viés tende a aumentar, em vez de
diminuir, com o número de observações). O modelo de erros espaciais, por sua vez, viola a premissa de
que os resíduos são independentes uns dos outros. Nesse caso os coeficientes estimados por OLS são
não-viesados e consistentes mas os erros-padrão são subestimados, o que leva a erros tipo I (i.e., rejeita-
se a hipótese nula mesmo quando ela não é falsa). Coeficientes e erros-padrão estimados por meio de
ML e GMM, por outro lado, são consistentes, i.e., podem ser enviesados mas o viés tende a desaparecer
conforme o número de observações aumenta (LEE, 2004; KELEJIAN & PRUCHA, 2010).
Seguindo o roteiro detalhado acima, a Tabela 2 apresenta estimativas de mínimos quadrados
para a votação de Dilma (em porcentagem) em cada município no segundo turno da eleição de 2010. A
especificação é simples. O objetivo é "filtrar" o efeito das condições socioeconômicas para que qualquer
autocorrelação espacial remanescente possa ser atribuída a influência recíproca (capturada pelo termo
de defasagem espacial) e às campanhas eleitorais (capturadas pelo termo de erro espacial). Dessa forma
as variáveis independentes incluídas no modelo são a razão bolsa-família/PIB, o logaritmo natural do PIB
per capita, a porcentagem de pessoas vivendo na zona rural, a taxa de analfabetismo e a porcentagem
de domicílios com saneamento inadequado. Há ainda uma variável dummy para cada estado exceto o
Acre (que serve como referência) e uma variável dummy codificada como 1 se o prefeito em 2009 era do
PT e 0 se o prefeito pertencia a outro partido (a idéia é que a votação de Dilma pode ter sido maior nos
municípios governados pelo PT). (Fontes e maiores informações são fornecidas no apêndice).
Três diferentes estimações são reportadas: OLS, mínimos quadrados ponderados usando o
número de habitantes como peso (WLSH) e mínimos quadrados ponderados usando a variância intra-
estado como peso (WLSV). A estimação por OLS é apenas uma referência. Os resíduos são
heterocedásticos (i.e., sua variância não é constante), de modo que as estimativas OLS não são
confiáveis. As estimações por WLS têm por objetivo reduzir a heterocedasticidade. Na estimação em que
a ponderação é feita com base no número de habitantes, a idéia é que a votação de Dilma é apenas uma
proxy do "verdadeiro" apoio eleitoral de Dilma em cada município. Essa proxy, por seu turno, é medida
com erro (supostamente aleatório) e esse erro deve ser maior em municípios menores do que em
municípios maiores. Por exemplo, Dilma obteve 46,8% dos votos no município de São Paulo e
igualmente 46,8% dos votos no município de Água Limpa. Mas enquanto São Paulo tem 11,3 milhões de
habitantes, Água Limpa tem apenas 2,2 mil. De acordo com o teorema do limite central, quanto maior o
número de observações, mais próxima a proporção observada estará da "verdadeira" proporção – i.e., da
proporção prevista pelo modelo dadas as variáveis independentes e seus respectivos coeficientes. Em
Água Limpa, um incêndio acidental em uma das zonas eleitorais poderia fazer a votação de Dilma
desviar substancialmente da votação prevista. Em São Paulo, porém, um incêndio acidental em uma das
zonas eleitorais provavelmente causaria apenas um desvio marginal em relação à votação prevista.
Portanto as previsões do modelo são mais confiáveis para municípios com grandes populações do que
para municípios com pequenas populações – em outras palavras, os resíduos são negativamente
correlacionados com o tamanho da população, o que viola a premissa de que a variância dos resíduos é

constante (i.e., homocedástica). A estimação por WLSP enfrenta esse problema ao ponderar cada
observação pelo logaritmo natural da população municipal7.
A estimação WLSV, por seu turno, enfrenta o problema da heterocedasticidade agrupando por
estado os resíduos da estimação OLS e usando as respectivas variâncias como pesos numa estimação
subseqüente. A idéia é que a variância dos resíduos, embora não seja constante entre os estados, pode
ser constante dentro de cada estado. Essa abordagem é conhecida como correção de
heterocedasticidade grupo-específica (groupwise heteroskedasticity correction). Infelizmente não há como
corrigir os dois "níveis" de heterocedasticidade – municipal e estadual – ao mesmo tempo, de modo que
tanto a estimação WLSH quanto a estimação WLSV não resolvem completamente o problema, apenas o
amenizam.
A Tabela 2 segue abaixo. As dummies estaduais são omitidas nesta e em todas as demais
tabelas. A matriz de pesos adotada nos testes LM é a matriz de contigüidade discutida na Seção
“Regularidades espaciais nas eleições brasileiras”.
Tabela 2 Estimativas de mínimos quadrados para a votação de Dilma no segundo turno (2010)
OLS WLSH WLSV
Intercepto 18.518***
(4.007)
17.982***
(3.980)
19.233***
(4.308)
Prefeito do PT -1.106**
(.422)
-1.044*
(.415)
-.935*
(.428)
Bolsa Família/PIB .198***
(.018)
.204***
(.018)
.186***
(.018)
Ln (PIB per capita) .270
(.346)
.391
(.344)
.179
(.350)
% População rural .028***
(.008)
.027***
(.008)
.026**
(.008)
% Analfabetos .169***
(.031)
.142***
(.031)
.171***
(.031)
% Saneamento inadequado .061***
(.007)
.063***
(.007)
.063***
(.007)
N 5565 5565 5565
R2 .638 .643 .636
F 305*** 311*** 303***
Breusch-Pagan 234.55*** 234.55** 234.44***
Moran I (resíduos) .438*** .443*** .438***
LM (erro) 2922.6*** 2911.3*** 2925.3***
LM (defasagem) 2834.3*** 32.653*** -.4012
LM (erro) robusto 200.66*** 2878.9*** 2925.7***
LM (defasagem) robusto 112.4*** .1957 -.0059
Notas: *** p <.0001; ** p < .001; * p <.01. Dummies estaduais omitidas.
Todos os três modelos mostram forte autocorrelação espacial.8 A estatística Moran I rejeita a
hipótese nula de aleatoriedade espacial em todos os casos. No que respeita à escolha do modelo
espacial mais apropriado, a estimação por OLS sugere um modelo de defasagens e erros espaciais, ao
7 A forma logarítmica é escolhida para trazer todas as variáveis a uma escala semelhante, dado que diferenças de escala podem
elas próprias causar heterocedasticidade. 8 Ademais, nem a estimação WLSH nem a estimação WLSV eliminaram completamente a heterocedasticidade: o teste Breusch-
Pagan rejeita a hipótese nula de homocedasticidade em ambos os casos.

passo que as estimações WLS sugerem um modelo de erros espaciais. Dado que os testes em favor do
modelo de defasagens e erros espaciais não são robustos às correções de heterocedasticidade feita nas
estimações WLS, o modelo de erros espaciais parece ser o adequado. Não obstante, em favor da
completude, ambos os modelos serão estimados e comparados. Se o modelo de erros espaciais for de
fato o correto, então o termo de defasagem espacial do modelo de defasagens e erros espaciais não será
estatisticamente significativo.
Para checar se os resultados são sensíveis à escolha da matriz de pesos, cada modelo será
estimado usando-se tanto uma matriz de contigüidade quanto uma matriz de distâncias inversas (vide
discussão na Seção “Regularidades espaciais nas eleições brasileiras). No que respeita ao método de
estimação, o principal é o estimador GMM desenvolvido por Kelejian & Prucha (2010). A principal
vantagem desse estimador é que ele é robusto à heterocedasticidade. Ele é limitado, porém, por não
permitir a imposição de restrições no modelo, de modo que não é possível restringir o termo de
defasagens ou o termo de erros a zero. Em outras palavras, ele permite a estimação apenas do modelo
de defasagens e erros espaciais. Dessa forma o modelo de erros espaciais é estimado por ML. Lee
(2004) mostra que o estimador ML é consistente sob homocedasticidade mas Arraiz et al (2010)
mostram que esse não é o caso na presença de heterocedasticidade. Portanto as estimativas ML devem
ser vistas com cautela. A Tabela 3 apresenta os resultados.
Tabela 3 Estimativas GMM e ML para a votação de Dilma no segundo turno (2010)
defasag. & erros
contiguidade
(GMM)
defasag. & erros
distância inversa
(GMM)
erros
contiguidade
(ML)
erros
distância inversa
(ML)
Intercepto 26.353***
(4.382)
23.132***
(4.035)
28.213***
(3.825)
27.335***
(2.126)
Prefeito do PT -1.831***
(.321)
-1.494***
(.387)
-1.853***
(.326)
-1.761***
(.359)
Bolsa Família/PIB .108***
(.016)
.143***
(.017)
.106***
(.015)
.129***
(.016)
Ln (PIB per capita) -.032
(.327)
.100
(.347)
-.174
(.290)
-.342
(.307)
% População rural .038***
(.007)
.035***
(.007)
.039***
(.007)
.040***
(.007)
% Analfabetos .242***
(.036)
.170***
(.033)
.242***
(.032)
.240***
(.031)
% Saneamento inadequado .018**
(.007)
.028***
(.007)
.020**
(.006)
.027***
(.007)
Defasagem espacial () -.002*
(.001)
-.0001
(.003) - -
Erro espacial () .117***
(.001)
.381***
(.017)
.113***
(.003)
.702***
(.009)
N 5565 5565 5565 5565
Log-likelihood - - -19262.6 -19461.5
Wald chi2 - - 2810.66*** 49686.7***
Notas: *** p <.0001; ** p < .001; * p < .01. Dummies estaduais omitidas.
O termo de defasagem espacial é extremamente próximo de zero ou estatisticamente não-
significativo no modelo irrestrito. O termo de erro espacial, porém, é estatisticamente significativo em
todos os modelos. E os indicadores socioeconômicos são estatisticamente significativos e têm o sinal
esperado em todos os modelos (exceto pelo PIB per capita). Os coeficientes e erros-padrão são bastante

parecidos nas três estimações.9 Curiosamente, prefeitos do PT parecem ter um efeito negativo sobre a
votação de Dilma. De acordo com Strøm (1990) a incumbência é geralmente um passivo eleitoral, mas
soa improvável que os eleitores tenham usado a eleição presidencial para punir prefeitos: como discutido
anteriormente, a política brasileira é personalista e as bases eleitorais de Dilma e do PT são diferentes. O
efeito negativo encontrado aqui não é uma anomalia porém: nas estimações de Nicolau & Peixoto (2007)
e Zucco (2008) os prefeitos do PT também têm um efeito negativo (sobre a votação de Lula em 2006).
Esse resultado é inesperado e merece maiores investigações (o que está fora do escopo deste artigo).
Outro resultado contra-intuitivo é que o efeito do PIB per capita não é estatisticamente significativo. Isso
provavelmente se deve à desigualdade de renda em certas áreas, o que torna o PIB per capita uma
medida imperfeita de prosperidade individual. Todas as outras variáveis têm o sinal esperado e são
estatisticamente significativas: quando mais rural, analfabeto, dependente do bolsa-família ou carente
em saneamento o município, maior a votação de Dilma.
Em termos substantivos, os resultados corroboram a segunda e terceira hipóteses mas não a
primeira, i.e., a autocorrelação espacial da votação de Dilma é devida ao fato de que campanhas
eleitorais tendem a privilegiar determinadas regiões em detrimento de outras e ao fato de que
municípios próximos são socioeconomicamente similares; a hipótese de influência recíproca não é
corroborada pelas estimações. Infelizmente não há dados suficientes para testar a segunda hipótese
diretamente. Apenas os gastos totais de campanha são divulgados, sem desagregação por município.
Ademais, no Brasil a porcentagem de gastos de campanha não-contabilizados é geralmente alta, de
modo que o uso de dados oficiais seria problemático de qualquer forma. Qualquer desenho de pesquisa
precisaria se basear em dados não-financeiros – por exemplo, quantas vezes Dilma visitou o município
durante a campanha. Mas esses dados não-financeiros capturariam apenas aspectos pouco importantes
da campanha, visto que um candidato só pode visitar um número relativamente pequeno de municípios.
De modo que ao fim os resíduos provavelmente ainda seriam espacialmente autocorrelacionados.
Embora não reportado aqui, o modelo irrestrito também foi estimado por ML (com uma matriz
de contigüidade e com uma matriz de distâncias inversas) e tanto os coeficientes dos indicadores
socioeconômicos quanto os termos espaciais são muito semelhantes aos da estimação GMM reportada
na Tabela 3. Isso sugere que a heterocedasticidade discutida anteriormente não está causando muito
problema nas estimações do modelo de erros espaciais. Outro achado é que embora a escolha da matriz
de pesos tenha pouca influência sobre os coeficientes dos socioeconômicos, ela tem um impacto
considerável no termo de erros espaciais. Usando-se uma matriz de distâncias inversas o termo de erros
espaciais aumenta de 0.113 para 0.702. Em termos substantivos, a conclusão é que cada município é
afetado não apenas pelos municípios contíguos mas também por outros municípios próximos. (É
importante não confundir matrizes baseadas em raios com matrizes baseadas em distâncias inversas.
No primeiro caso cada observação dentro do raio recebe peso um e todas as demais recebem peso zero.
No segundo caso cada observação é relacionada a todas as demais observações, mas os pesos são
inversamente proporcionais às respectivas distâncias. É possível combinar ambos os tipos, atribuindo
pesos inversamente proporcionais às distâncias para todas as observações dentro de um raio pré-
9 É importante ter em mente, porém, que a interpretação dos coeficientes é diferente em cada modelo: no modelo de defasagens
e erros espaciais os coeficientes capturam apenas o efeito direto de cada variável e negligenciam os efeitos indiretos – cada
alteração município i influencia o município k, que influencia o município i e assim por diante.

estabelecido e zero para todas as demais observações. Isso não é feito aqui porque, como discutido na
Seção “Regularidades espaciais nas eleições brasileiras”, nenhum raio seria apropriado para a totalidade
do território brasileiro).
Heterogeneidade
Esta subseção avalia se as estimativas são espacialmente estacionárias, i.e., se o efeito de cada
variável é constante ao longo do território nacional. Isso é feito por meio de uma regressão
geograficamente ponderada (geographically weighted regression – GWR). A GWR é uma técnica de
estimação em que o efeito de cada variável pode ser diferente para diferentes observações. A idéia é
semelhante à de "quebras estruturais". A diferença é que a GWR explicitamente atribui heterogeneidade à
localização geográfica e permite que cada observação (em vez de cada grupo de observações) tenha seus
próprio coeficientes. À primeira vista isso pode soar estranho: em qualquer estimação é preciso ter mais
observações do que estimativas, então como é possível que cada observação tenha suas próprias
estimativas? A resposta é que as estimativas para cada observação são baseadas em outras observações;
especificamente, naquelas consideradas "próximas" (por contigüidade, raio ou distâncias inversas,
conforme a matriz de pesos adotada). Dado que cada observação tem seu próprio conjunto de "vizinhos",
o resultado é um conjunto diferente de estimativas para cada observação. Formalmente, enquanto o
estimador OLS é
(X 'X)1X ' y , o estimador GWR é
i (X'PiX)1X'Piy , em que
P é a matriz de
pesos e o subscrito i em
indica que cada observação tem seu próprio coeficiente10.
A Tabela 4 resume os resultados. As estimativas da estimação GMM usando a matriz de
distâncias inversas (Tabela 3, acima) é reproduzida aqui para facilitar a comparação. (Para uma
discussão detalhada de GWR, vide Fotheringham, Brudson & Charlton 2002).
Tabela 4
Estimativas GWR para a votação de Dilma no segundo turno (2010)
GMM GWR
(distância inversa) Mínimo Mediana Máximo
Intercepto 26.353 58.400 59.500 60.800
Prefeito do PT -1.831 -1.680 -1.500 -1.260
Bolsa Família/PIB .108 .369 .371 .375
Ln (PIB per capita) -.032 -1.540 -1.440 -1.360
% População rural .038 .009 .016 .020
% Analfabetos .242 .278 .288 .294
% Saneamento inadequado .018 .021 .022 .024
Notas: *** p < .0001; ** p < .001; * p <.01.
Embora os resultados sejam visivelmente diferentes entre a estimação GMM e a estimação
GWR, as estimativas GWR em si não variam muito. O cálculo de erros-padrão para estimativas GWR é
problemático, pois levanta questões de testes conjuntos de hipóteses (FOTHERINGHAM, BRUDSON &
10 Quando a matriz adotada é a de distâncias inversas, uma escolha freqüente é calcular os pesos como
wik exp(dik /h)2 ,
onde
d é a distância entre as observações i e k e
h é uma quantidade chamada de banda ou "kernel". O kernel é um raio além
do qual todas as observações recebem peso zero e portanto não entram na estimação de
i . O kernel pode ser fixo ou variável
de acordo com cada
Pi (kernel adaptativo).10 Como não há um único raio que seja satisfatório para todo o território brasileiro
(vide Seção 2), um kernel adaptativo é utilizado aqui.

CHARLTON, 2002) mas a Tabela 4 sugere que, na maior parte, as estimativas provavelmente não seriam
estatisticamente diferentes umas das outras. Fora urbanização, para fins práticos as estimativas da
Tabela 4 podem ser consideradas equivalentes.
A conclusão é que as estimativas são espacialmente estacionárias, i.e., o efeito de cada variável
é relativamente homogêneo ao longo do território nacional.
Conclusão
Usando dados da eleição presidencial de 2010, este artigo testou três explicações alternativas
para o fato de que municípios próximos tendem a ter resultados eleitorais similares: as interações
sociais entre residentes de municípios próximos; a concentração das campanhas eleitorais em
determinadas regiões em detrimento de outras; e as similaridades socioeconômicas observadas entre
municípios próximos. A primeira hipótese não foi corroborada, i.e., não há evidência de que os residentes
de um município influenciam a escolha eleitoral dos residentes dos municípios próximos. A segunda
hipótese foi corroborada preliminarmente: o termo de erro espacial é estatisticamente significativo, de
modo que mesmo considerando o efeito das similaridades socioeconômicas, os resíduos ainda mostram
autocorrelação espacial. Dado que esse teste é indireto (a autocorrelação espacial residual sugere, mas
não demonstra inequivocamente que as campanhas eleitorais concentram-se em algumas regiões), as
conclusões relativas à segunda hipótese são necessariamente preliminares. Por fim, a terceira hipótese
foi corroborada inequivocamente: todos os indicadores socioeconômicos (exceto o PIB per capita) são
estatisticamente significativos e têm o sinal esperado. O artigo mostrou ainda que Dilma "herdou" a base
geográfica de Lula e que essa base é bastante diferente da do PT, que continua sobretudo um partido
urbano.
No que respeita a investigações futuras, três linhas de pesquisa parecem promissoras. A
primeira é testar a segunda hipótese diretamente. No momento não há dados disponíveis que permitam
isso, mas em tese seria possível coletar esses dados a partir de documentos não-públicos e entrevistas
com estrategistas de campanha. A segunda linha de pesquisa que merece ser considerada é estender a
análise a outras eleições – para governador ou para o legislativo (federal ou estadual), por exemplo. Por
fim, a terceira linha é testar todas as três hipóteses usando-se dados eleitorais de outros países em
desenvolvimento. Até o momento o uso de econometria espacial em ciência política tem se limitado em
grande medida a dados de países desenvolvidos (e dos Estados Unidos em particular). O trabalho
pioneiro de Carraro et al (2007) e Soares & Terron (2008) começou a alterar esse cenário e seria
interessante levar a mesma abordagem a, por exemplo, outros países latino-americanos.
Referências Bibliográficas
ANSELIN, L. Spatial econometrics. In: MILLS, T. & PATTERSON, K. (Eds.). Palgrave Handbook of Econometrics. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, vol.1, p. 901-941, 2006.
_________.; & FLORAX, R. Introduction. In: ANSELIN, L. & FLORAX, R. (Eds.). New directions in spatial econometrics. Berlin:
Springer, p. 3-18, 1995.
ARRAIZ, I.; DRUKKER, D.; KELEJIAN, H. & PRUCHA, I. “A spatial Cliff-Ord-type model with heteroskedastic innovations: small
and large sample results.” Journal of Regional Science, vol. 50, n° 2, p. 592–614, 2010.

CARRARO, A.; ARAÚJO JUNIOR, A.; DAMÉ, O.; MONASTERIO, L. & SHIKIDA, C. ‘É a economia companheiro!’: uma análise empírica da
reeleição de Lula com dados municipais [Online]. IBMEC-MG, 2007. Disponível em:
<http://ceaee.ibmecmg.br/wp/wp41.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2012.
CHO, W. & GIMPEL, J. “Rough terrain: spatial variation in campaign contributing and volunteerism.” American Journal of
Political Science, vol. 54, n° 1, p. 74-89, 2007.
FOTHERINGHAM, A.; BRUDSON, C. & CHARLTON, M. Geographically weighted regression: the analysis of spatially varying
relationships. Chichester: Jon Wiley & Sons, 2002.
HUCKFELDT, R. & SPRAGUE, J. “Discussant effects on vote choice: intimacy, structure, and interdependence.” Journal of
Politics, vol. 53, n° 1, p. 122-158, 1991.
HUNTER, W. & POWER, T. “Rewarding Lula: executive power, social policy, and the Brazilian elections of 2006.” Latin
American Politics & Society, vol. 49, n° 1, p. 1-30, 2008.
KELEJIAN, H. & PRUCHA, I. “Specification and estimation of spatial autoregressive models with autoregressive and
heteroskedastic disturbances.” Journal of Econometrics, vol. 157, p. 53-67, 2010.
LEE, L. “Asymptotic distributions of quasi-maximum likelihood estimators for spatial autoregressive models.”
Econometrica, vol. 72, n° 6, p. 1899-1925, 2004.
NICOLAU, J. & PEIXOTO, V. Uma disputa em três tempos: uma análise das bases municipais das eleições presidenciais de 2006,
[Online]. ANPOCS, 2007. Disponível em:
<http://jaironicolau.iesp.uerj.br/artigos/NICOLAU%20&%20PEIXOTO%20ANPOCS2007%20ST%2024%20PARTIDOS%
20E%20SISTEMAS%20PARTIDA%C2%A6%C3%BCRIOS.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2012.
NICKERSON, D. “Is voting contagious? Evidence from two field experiments.” American Political Science Review, vol. 102,
n° 1, p. 49-57, 2008.
SOARES, G. & TERRON, S. “Dois Lulas: a geografia eleitoral da reeleição (explorando conceitos, métodos e técnicas de
análise geoespacial)”. Opinião Pública, vol. 14, n° 2, p. 269-301, 2008.
STRØM, K. Minority government and majority rule. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
TERRON, S. & SOARES, G. “As bases eleitorais de Lula e do PT: do distanciamento ao divórcio.” Opinião Pública, vol. 16,
n° 2, p. 310-337, 2010.
TINBERGEN, J. An analysis of world trade flows, the Linder hypothesis and exchange risk. In: TINBERGEN, J. (Ed.). Shaping
the world economy. New York: The Twentieth Century Fund, 1962.
WARD, M. & GLEDITSCH, K. Spatial regression models. Los Angeles: Sage, 2008.
ZUCCO, C. “The president’s ‘new’ constituency: Lula and the pragmatic vote in Brazil’s 2006 presidential elections”.
Journal of Latin American Studies, vol. 40, n° 1, p. 29-49, 2008.
Apêndice - Fontes, software e estatísticas descritivas
Fontes:
Todos os dados geocodificados foram baixados da página do IBGE e estão disponíveis em
ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/municipio_2007/escala_2500mil/proj_policonica_sirgas2000/
Eles refletem a malha municipal brasileira em 2007 e são baseados em projeções cônicas (e portanto
podem ser usados para cálculos envolvendo distâncias euclidianas). As coordenadas são expressas em
quilômetros.
Dados sobre filiação partidária do prefeito, PIB per capita, urbanização, taxa de analfabetismo
e saneamento foram extraídos de diferentes pesquisas do IBGE. Dados sobre o bolsa-família foram

extraídos da página da CGU e estão disponíveis em http://www.portaltransparencia.gov.br/ Todos os
dados são de 2009 (dados de 2010 não estavam disponíveis para os indicadores sociais).
Um total de 37 municípios tinha uma ou mais variáveis faltando. Em econometria não-espacial
observações com valores omissos podem ser simplesmente deletadas, mas em econometria espacial
isso é problemático porque as observações são espacialmente dependentes. Dessa forma médias
estaduais foram imputadas para variáveis contínuas (no caso dos indicadores sociais) e modas estaduais
foram imputadas para variáveis binárias (prefeito petista ou não petista).
Software:
Os mapas de votação foram produzidos em ArcGIS 10. O Mapa 2, que mostra a área excluída
usando-se um raio de 50 km na matriz de pesos, e o Mapa 3, que mostra os aglomerados LISA, foram
produzidos em GeoDa 1.0.1. A análise estatística foi dividida entre Stata 12 e R 2.14.2. Os testes
estatísticos da Seção “Regularidades espaciais nas eleições brasileiras”, as regressões de mínimos
quadrados e as estimativas GWR foram produzidas principalmente em R, usando-se os pacotes 'spdep' e
'sphet' (as ferramentas do Stata para calcular Moran I, estatísticas LISA e testes LM requerem que a
matriz de pesos seja criada por meio da ferramenta 'spatwmat' mas essa ferramenta não funciona bem
com bancos de dados grandes; a ferramenta do Stata para GWR não requer o uso de 'spatwmat' mas o
algoritmo é menos eficiente do que o do equivalente em R e "falha" após poucas iterações). Por outro
lado, todas as estimativas GMM e ML foram produzidas no Stata, usando-se o pacote 'sppack' (aqui o
algoritmo ineficiente é o do R, especialmente com as estimativas GMM; ademais, o R não comporta
matrizes de pesos baseadas em distâncias inversas).
Estatísticas descritivas:
Média Desvio-padrão Mínimo Máximo
Votação de Dilma (2° turno) 59.46 15.39 19.66 96.50
Votação do PT (assembléias
estaduais) 12.60 10.53 .06 75.65
Ln (PIB per capita) 9.02 .69 7.56 12.79
Bolsa Família/PIB 17.48 18.24 .001 92.78
% população rural 36.17 22.03 0 95.82
% analfabetos 16.15 9.83 .95 44.4
% saneamento inadequado 64.22 29.95 1.15 100
Thiago Marzagão - [email protected]
Submetido à publicação em março de 2012.
Versão final aprovada em setembro de 2012.

Frederico Batista Pereira Doutorando em Ciência Política
Vanderbilt University
Resumo: O artigo analisa o impacto da desigualdade de sofisticação política sobre as preferências políticas dos cidadãos. Após
uma discussão sobre o conceito e a mensuração da sofisticação política, examina-se seus principais determinantes utilizando
dados de uma pesquisa de painel realizada em Caxias do Sul e Juiz de Fora ao longo de 2002. Em seguida, o artigo examina
quatro hipóteses da literatura acerca do efeito da sofisticação política sobre a maneira como os eleitores processam
informações e opinam: 1) eleitores mais sofisticados apresentam maior estruturação ideológica em suas opiniões do que
eleitores menos sofisticados; 2) eleitores mais sofisticados possuem opiniões políticas mais estáveis ao longo do tempo do que
os politicamente menos sofisticados; 3) eleitores mais sofisticados adquirem mais informações políticas ao longo do tempo do
que eleitores menos sofisticados, e; 4) eleitores mais sofisticados emitem opiniões com maior frequência do que eleitores
menos sofisticados. As análises no artigo dão amplo suporte a essas hipóteses. Por fim, discute-se as implicações dos achados
para os estudos de opinião pública e voto no Brasil.
Palavras-chave: sofisticação política; comportamento político; atitudes
Abstract: This article analyzes the impact of political sophistication on citizens’ political preferences. After defining the concept
and measurement of political sophistication, panel survey data from Caxias do Sul and Juiz de Fora in 2002 are used to assess
its main determinants in the Brazilian context. Next, the article tests four hypotheses derived from existing scholarship about
the effects of political sophistication on individual preferences and information processing. The four hypotheses tested are: 1)
more politically sophisticated citizens are more ideologically constrained in their political attitudes then less sophisticated
individuals; 2) more sophisticated citizens present more stable attitudes over time than less sophisticated individuals; 3) more
sophisticated citizens acquire more political information over time than less sophisticated individuals, and; 4) more
sophisticated citizens tend to express opinions more frequently than less sophisticated individuals. The analyses in the paper
provide strong support for all four hypotheses. Finally, the article discusses some implications of the results for the study of
public opinion and elections in Brazil.
Keywords: political sophistication; political behavior; attitudes

Introdução1
Em que medida os cidadãos de uma democracia apresentam diferentes níveis de apreensão
da política? Há desigualdade no que se refere às suas capacidades para acompanhar e compreender o
que acontece? E por que isso importa? Este artigo pretende discutir e examinar empiricamente essas
perguntas. Embora boa parte da produção na Ciência Política brasileira dedique-se ao estudo da
racionalidade do comportamento dos cidadãos, nem tanta atenção tem sido dada ao problema da
desigualdade de interesse e conhecimento sobre política. A maior parte dos trabalhos que se dedicam
mais sistematicamente ao efeito de tais fatores sobre o público já foi produzida há algum tempo
(LAMOUNIER, 1978; 1980; REIS, 1978; REIS & CASTRO, 1992; CASTRO, 1994)2.
O presente artigo propõe que o conceito de sofisticação política é central no debate sobre
comportamento eleitoral e opinião pública. O conceito refere-se, em termos gerais, ao entendimento
que o cidadão tem a respeito dos objetos e dos fatos do mundo da política. Partindo das discussões de
um conjunto relevante de autores, o artigo mostra de que maneira a sofisticação política dos eleitores
serve para estratificar o público quanto às diferentes maneiras por meio das quais os cidadãos opinam
e escolhem. Quatro hipóteses sobre o tema são empiricamente testadas nas análises que seguem. Em
primeiro lugar, a sofisticação política aumenta a estruturação ideológica das opiniões dos cidadãos, no
sentido de que opiniões sobre diferentes assuntos tendem a se basear em um mesmo eixo ideológico.
Segundo, a sofisticação faz com que as opiniões sejam mais estáveis ao longo do tempo, o que resulta
do fato de que as opiniões dos mais sofisticados são baseadas em considerações mais sólidas e
consistentes. Terceiro, e diretamente conectada à hipótese anterior, a sofisticação política facilita o
aprendizado de novas informações, sendo os cidadãos mais sofisticados também os que mais
adquirem informações novas ao longo do tempo, especialmente nas campanhas. Por fim, os mais
sofisticados são também os que com maior frequência expressam opiniões quando perguntados, uma
vez que tendem a possuir opiniões formadas. Obviamente, as duas últimas hipóteses não implicam que
os cidadãos mais sofisticados nunca mudem de opinião, mas sim que é preciso informações novas e
mais salientes para que isso ocorra. O artigo não apenas testa empiricamente as quatro hipóteses,
como também discute a teorização a respeito dos mecanismos causais que as justificam.
Se as hipóteses propostas estão corretas, elas sugerem implicações importantes para o
estudo da dinâmica da opinião pública no Brasil. Interpretações que exacerbam a complexidade dos
componentes ideológicos da opinião pública podem contrariar evidências a respeito da racionalidade
de parte significativa dos eleitores. Também é relevante levar-se em conta, especialmente no estudo
dos efeitos de campanha, quais são os eleitores mais propensos a mudarem de opinião e por qual
razão isso ocorre.
Sendo assim, o artigo divide-se em quatro partes principais. Na próxima seção, o conceito de
sofisticação política é discutido em suas diferentes dimensões e diferenciado de outras noções com as
quais é geralmente confundido. Em seguida, discutem-se as principais estratégias de mensuração do
1 Este artigo foi desenvolvido como parte de minha Dissertação de Mestrado defendida no Departamento de Ciência Política da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2010. Agradeço a Lucio Rennó por ceder os dados utilizados nas análises.
Sou enormemente grato aos comentários de Fábio Wanderley Reis, Mônica Mata Machado de Castro e Mario Fuks em versões
anteriores do artigo. Os erros que persistem são de minha inteira responsabilidade. 1 Algumas exceções recentes são os trabalhos de Rennó (2004; 2006) e Turgeon & Rennó (2010).

conceito, e também é apresentada a medida de sofisticação política usada nas análises do artigo. A
terceira seção dedica-se a mostrar que a sofisticação política não é simplesmente uma capacidade
inata, mas antes uma habilidade que os cidadãos desenvolvem em diferentes graus por conta de sua
socialização em ambientes distintos. Por fim, a quarta seção utiliza diferentes estratégias de análise
para testar as quatro hipóteses apresentadas.
As análises do artigo utilizam dados de pesquisa de opinião, algo comum na literatura sobre
voto e opinião pública no Brasil. O que há de distinto em relação à maioria dos trabalhos é o uso de
dados coletados em painel, isto é, de entrevistas realizadas ao longo do tempo com os mesmos
indivíduos. A pesquisa da qual se fala é intitulada “The Dynamics of Political Attitude Formation in a
Milieu of Multiple Weak Parties: A Context-Sensitive Analysis of Voting Behavior in Two Brazilian Cities”
(BAKER et al, 2006)3, e realizou ondas de entrevistas em abril/maio, agosto/setembro e outubro de
2002, maio de 2004, julho e outubro de 2006 nas cidades brasileiras de Juiz de Fora (MG) e Caxias do
Sul (RS). Para gerar uma amostra de 2500 entrevistados em cada cidade na onda de abril/maio de
2002, o procedimento de múltiplos estágios foi utilizado com amostragem aleatória no nível da
vizinhança, seguido do setor censitário, depois domicílio e, por fim, pessoas. Ao final da primeira onda,
74% do total das pessoas contatadas foram entrevistadas, e a mesma porcentagem foi obtida em
2002. Desses, 84% foram entrevistados na terceira onda de outubro de 2002. Neste artigo, são
utilizados apenas os dados referentes às ondas de 20024. Ainda que os dados não representem a
totalidade do eleitorado brasileiro, acredita-se que os resultados apresentados a seguir não sejam
específicos das duas cidades em questão, tampouco do período de tempo coberto pelos dados, mas
sim, que corroboram hipóteses e mecanismos causais mais gerais que já foram testados em diferentes
contextos.
O conceito de sofisticação política
O primeiro grupo de estudiosos a abordar mais sistematicamente a ideia de que os cidadãos
apresentam diferentes níveis de compreensão dos assuntos políticos foi a chamada Escola de Michigan
(CAMPBELL et al, 1960; CONVERSE, 1964). A partir da contribuição desses autores, diversos conceitos e
termos foram cunhados com referência à existência do domínio e uso das informações e ideias
relacionadas ao universo da política. Sofisticação (NEUMAN, 1986; LUSKIN, 1987; 1990; SNIDERMAN et al,
1991; CASTRO, 1994) e conhecimento (DELLI CARPINI & KEETER, 1996; NIEMI & JUNN, 1998) são os dois
principais.
Segundo Converse (1964), o entendimento de um cidadão a respeito da política divide-se em
alguns subtipos. O primeiro refere-se à posse de um sistema de crenças estruturado, ou seja, da
configuração de ideias e atitudes políticas funcionalmente interdependentes (CONVERSE, 1964, p. 207).
Nesse primeiro subtipo, não apenas a compreensão, mas também a adesão a algum sistema de
crenças ideológico típico de cada sistema político seria importante. O segundo subtipo de
entendimento da política seria, segundo Converse, a própria posse de informações políticas. Mais
especificamente, a posse de informações políticas seria uma das fontes principais de estruturação dos
sistemas de crenças ideológicos (CONVERSE, 1964, p. 212). Converse descreve ainda outro tipo de
3 O artigo em questão contém informações detalhadas a respeito da pesquisa. Os trabalhos de Rennó (2004; 2006; 2007)
mencionados ao longo do artigo também utilizam os mesmos dados. 4 Nos procedimentos de análise estatística, foi utilizado o programa R (<http://www.r-project.org/>).

conhecimento político, o mais importante, aquele responsável por conectar as informações e atitudes
políticas do indivíduo, que seria o “conhecimento contextual” da política (CONVERSE, 1964, p. 212). A
medida de “conhecimento contextual” utilizada pelo autor consiste em um escore de “reconhecimento
e entendimento” dos termos mais comuns dos sistemas de crenças conservador e liberal nos Estados
Unidos, medida baseada nas respostas dadas pelos respondentes a questões abertas sobre suas
opiniões em diversos assuntos políticos.
De todo modo, a ênfase maior de Converse ao tratar do entendimento que os cidadãos teriam
da política foi na estruturação dos sistemas de crenças políticas (CONVERSE, 1964, p. 227-228). O autor
demandava que o cidadão não apenas demonstrasse capacidade de conceituação política, mas
também que apresentasse uma adesão consistente a um ou outro sistema de crenças (liberal ou
conservador) da política estadunidense, adesão esta que se revelaria a partir de suas opiniões.
Kuklinski e Quirk (2002, p. 291) chamam atenção para o fato de que o próprio Converse, em seus
trabalhos mais tardios, teria aceitado a possibilidade de que um cidadão poderia ser politicamente
sofisticado sem, necessariamente, aderir a um ou outro pólo ideológico ao tomar posição nos assuntos
da política. Nesse sentido, capacidade de conceituação e adesão à ideologia seriam atributos
conceitualmente distintos, sendo que o entendimento que o cidadão possui da política seria mais
diretamente aferido através da mensuração da primeira, e não da segunda.
A distinção conceitual entre sofisticação política e ideologia tornou-se mais clara nos estudos
posteriores que se apoiaram no legado teórico de Converse. Neuman (1981), por exemplo, tratou de
rechaçar a confusão existente. Segundo ele,
“It seems to make strategic sense at the current stage of inquiry to maintain a clear
distinction between the definitional components of ideology and sophistication and to
pursue unique measures of each. One individual may study history and politics and after
a thoughtful review of issues and events come to an "ideological" position. In contrast,
another may simply be repeating slogans and abstractions absorbed uncritically from
friends and associates” (NEUMAN, 1981, p. 1239).
A principal noção que pretende abarcar a existência desse atributo desigualmente distribuído
entre os cidadãos é a chamada sofisticação política. Vale a pena reproduzir aqui a definição dada por
Luskin (1990):
“More precisely, a person is politically sophisticated to the extent to which his or her
political cognitions are numerous, cut a wide substantive swath, and are highly organized,
or "constrained". Some psychologists write in this vein of cognitive complexity, meaning
the extent to which a person's cognitions of some stimulus domain are both highly
differentiated (roughly, numerous and wide-ranging) and highly integrated (organized or
constrained)” (LUSKIN, 1990, p. 332).
A literatura também tem concordado que a sofisticação pode desdobrar-se em, pelo menos,
duas dimensões conceituais distintas. Neuman referiu-se à capacidade de identificar e discriminar os
diversos assuntos, pessoas e fatos da política como sendo a dimensão da diferenciação conceitual
(NEUMAN, 1981, p. 1237). Já a organização das ideias e assuntos políticos em construtos mais
abstratos seria a segunda dimensão da sofisticação política, a integração conceitual (NEUMAN, 1981,
p. 1237). Luskin lançou mão de termos diferentes para referir-se às mesmas dimensões. Inicialmente,

o autor identificou três dimensões principais (LUSKIN, 1987, p. 859): o número de informações, a
amplitude de assuntos que tais informações cobrem no universo da política e a organização ou a
interconexão entre as informações ou cognições políticas do cidadão. No entanto, Luskin também
sugeriu a possibilidade de se entender as duas primeiras dimensões (quantidade e amplitude) como
traduzidas na noção de diferenciação conceitual proposta por Neuman, e concedeu ainda que o que
chamou de organização seria equivalente à noção de integração conceitual (LUSKIN, 1987, p. 861).
A medida de sofisticação política
A sofisticação política tem sido medida por diversas estratégias nas principais pesquisas
acadêmicas de opinião pública. Luskin (1987) cobre parte das controvérsias a respeito. Segundo o
autor, as medidas de diferenciação conceitual consistiriam em perguntas mais diretas (fechadas ou
abertas) sobre a posse de informações factuais sobre política. Para Luskin, esse procedimento simples
produziria medidas bastante consistentes. Já no que se refere às medidas de integração conceitual,
Luskin não demonstrou tanto otimismo. Tais medidas geralmente baseariam-se na avaliação da
capacidade dos respondentes de associar corretamente pessoas e partidos aos “lados” da política
estadunidense, ou na construção de escores a partir da codificação das respostas dadas a questões
abertas nas quais o respondente demonstraria a capacidade de reconhecer e entender conceitos mais
abstratos da política (LUSKIN, 1987, p. 881-882). Neuman (1981) mediu a dimensão da integração
conceitual utilizando análise de conteúdo de entrevistas em profundidade. O autor não apenas
enumerou as referências a conceitos abstratos feitas pelos respondentes, como também pediu que os
codificadores das entrevistas avaliassem as respostas com relação a padrões mais gerais de
organização, conexão e contraste entre as ideias de cada entrevistado. Avaliações feitas por
codificadores diferentes apresentaram, em geral, alta correlação entre si, o que indicaria a consistência
das medidas (NEUMAN, 1981, p. 1248). Luskin também propôs uma medida que distinguiria as
respostas dadas às questões abertas sobre a ideologia dos partidos quanto aos seus níveis de acerto e
abstração (LUSKIN, 1987, p. 882).
Apesar de reconhecer que as medidas típicas de integração conceitual teriam alguma
validade, Luskin questionou sua capacidade de discriminar adequadamente os respondentes. De
acordo com ele, tais indivíduos poderiam associar palavras a conceitos que não necessariamente
desempenhariam qualquer função em organizar suas ideias sobre política, ou poderiam simplesmente
lembrar-se de certas considerações de forma um tanto acidental e obter escores maiores do que os
reais (LUSKIN, 1987, p. 882). Além disso, outra desvantagem das questões abertas para medir
integração conceitual seria que o espaço que tais baterias de perguntas ocuparia em pesquisas de
opinião limitaria o espaço disponível para outras questões também importantes (LUSKIN, 1987, p. 892).
Com base nessa desconfiança em relação às medidas da dimensão da sofisticação chamada
de integração conceitual, Luskin defendeu que as medidas convencionais de posse de informações
factuais sobre política poderiam ser utilizadas como aproximações do construto mais geral da
sofisticação, uma vez que seriam altamente correlacionadas às medidas supostamente menos
confiáveis de integração (LUSKIN, 1987, p. 890). Outros estudos de grande relevância sobre o tema
também basearam-se exclusivamente nas medidas simples de informação. Delli Carpini e Keeter (1996,
p.10) optaram por falar em conhecimento político como um conceito mais restrito, referido apenas ao

conjunto de informações políticas factuais armazenadas na memória de longo prazo dos indivíduos.
Para esses autores, essa noção permitiria construir indicadores mais objetivos de conhecimento,
contando com a precisão e a confiabilidade de medidas com apenas respostas certas ou erradas. Essa
postura é encontrada também em outro trabalho de referência na área (NIEMI & JUNN, 1998, p. 11-12).
No Brasil, Reis e Castro (1992) utilizaram medidas de posse de informações em seu estudo,
além de questões sobre envolvimento com política e capacidade de conceituação. Em sua tese, Castro
(1994) apoiou-se em Neuman (1986) e também usou perguntas sobre interesse por política e
exposição à informação. Rennó (2004, 2006, 2007) incluiu em sua medida de informação não apenas
as questões de posse de informações factuais, mas também uma medida de “opinação”, que indica a
quantidade de opiniões emitidas pelos respondentes. Em trabalho mais recente, Fuks e Batista Pereira
(2011) também utilizaram dados de survey para construir medidas consistentes e válidas de posse de
informações factuais e conceituação política.
A medida de sofisticação política utilizada nas análises a seguir baseia-se em uma bateria de
perguntas de informações factuais que foi aplicada na onda de abril da pesquisa em Juiz de Fora e
Caxias do Sul. Optou-se aqui por seguir Luskin (1987) quando este afirma que a medida de posse de
informações factuais seria representativa do construto mais geral da sofisticação. Ao final da aplicação
do questionário de abril, foram incluídas seis questões de múltipla escolha que buscavam medir a
posse de informações políticas. Os respondentes foram perguntados sobre quem era o vice-Presidente
do Brasil na época; o partido do então Presidente Fernando Henrique Cardoso; qual país em uma lista
fazia parte do MERCOSUL; e também o nome do então presidente da Câmara dos Deputados. Outras
duas perguntas eram específicas de cada cidade, porém análogas entre si. Uma pedia que o
respondente identificasse, entre quatro alternativas, aquela que continha o nome de um senador de seu
estado. Outra pergunta mencionava o nome de um político (um deputado federal da cidade) e pedia
que o respondente identificasse seu cargo. As demais alternativas nas duas perguntas eram iguais para
Caxias do Sul e Juiz de Fora. A Tabela 1 apresenta a proporção dos acertos nessas questões, bem
como os fraseados utilizados e as alternativas de resposta fornecidas:
Tabela 1 Percentual de acertos nas questões de informação política
Perguntas
(Opções de respostas: resposta correta sublinhada)
Caxias do Sul
(n = 2434)
Juiz de Fora
(n = 2448)
Amostra Total
(n = 4882)
Qual é o cargo da Ana Corso/Paulo Delgado?
(Vereador; Deputado Estadual; Deputado Federal;Senador) 51,19 47,92 49,55
Quem é o vice-presidente do Brasil?
(Inocêncio de Oliveira; Marco Maciel; Íris Resende; Marcello
Alencar)
57,11 59,76 58,44
A qual partido pertence Fernando Henrique Cardoso?
(PTB; PMDB; PSDB; PFL) 38,37 48,73 43,57
Qual dos seguintes países é membro do MERCOSUL?
(Estados Unidos; Argentina; Colômbia; Peru) 73,25 61,36 67,29
Qual destes é um senador do estado do Rio Grande do
Sul/Minas Gerais?
(José Fogaça/José Alencar; Saturnino Braga; Eduardo Suplicy;
Lindbergh Cury)
65,20 57,31 61,25
Quem é o presidente da Câmara dos Deputados?
(Roberto Jefferson; José Genuíno; Aécio Neves; Miro Teixeira) 28,84 53,06 40,99
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).

A constatação a partir da análise da Tabela 1 depende das expectativas prévias que se tem
sobre qual é a proporção de acertos desejada. Contudo, ao analisar o conteúdo das perguntas, não é
difícil concluir que nenhuma se refere a questões complicadas ou remotas sobre o sistema político
brasileiro. Pelo contrário, algumas perguntas podem ser consideradas extremamente fáceis. No
entanto, em nenhuma das cidades, a proporção de acertos na questão que perguntava o partido do
então Presidente da República chega a 50%. Mais de 40% dos respondentes não souberam o nome do
vice-Presidente do Brasil. No agregado, apenas 40% dos respondentes souberam identificar o nome do
presidente da Câmara dos Deputados. A questão com maior proporção de acertos foi a que pedia que o
respondente identificasse o país do MERCOSUL em um conjunto de quatro alternativas, mas mesmo
assim não passou de 70% a proporção de respostas corretas nas duas cidades. O que se pode concluir
é que há variação relevante nos níveis de sofisticação política dos respondentes, sendo que parte
substantiva das pessoas respondeu incorretamente a perguntas relativamente fáceis sobre a política no
Brasil.
A medida final de sofisticação política utilizada nas análises deste artigo foi construída a partir
da teoria de resposta ao item - TRI (BIRNBAUM, 1968; BAKER, 2001; OSTERLIND, 1983)5. Em linhas gerais,
essa forma de conceber o teste entende que o desempenho de um indivíduo em uma questão depende
da dificuldade do teste e da habilidade latente do indivíduo. Diferentemente do uso do simples
somatório do número de acertos, a construção do índice por essa técnica permite levar em conta os
diferentes pesos das respostas em cada questão sobre o construto final, uma vez que os itens
diferenciam-se por sua dificuldade e por sua capacidade de discriminar os respondentes no atributo. O
resultado é que a escala construída possui bem mais do que 7 pontos, número de pontos obtido caso
fosse usado o simples somatório. Com as questões tendo pesos diferentes no construto, obtêm-se mais
pontos na escala e, por conseguinte, maior variabilidade entre os indivíduos no atributo mensurado.
Por outro lado, a construção desse tipo de fator, em geral, produz escores padronizados de difícil
interpretação. Para tentar resolver esse problema, o construto obtido por TRI foi re-escalado de modo
que o valor mínimo passasse a ser igual a 0 e o máximo igual a 6. Isso fez com que a escala tivesse
uma interpretação mais próxima da escala aditiva do número de acertos.
Os determinantes da sofisticação política
Este tópico pretende examinar alguns correlatos da aquisição de sofisticação política e
discutir brevemente os processos por meio dos quais os indivíduos desenvolvem tal atributo. Trata-se
de uma discussão que não é de forma alguma nova na Ciência Política em geral, e tampouco na Ciência
Política brasileira. Alguns autores brasileiros já procuraram mostrar que as desigualdades de
envolvimento e sofisticação política traduzem em desigualdades estruturais da sociedade no âmbito do
comportamento político. Reis referiu-se a esse fenômeno em diversos textos a partir da articulação
entre os modelos da “centralidade” e da “consciência de classe” para explicar a participação política
(REIS, 1978; 2000; REIS & CASTRO, 1992). O chamado “modelo da centralidade” postularia que a
participação política dar-se-ia com mais intensidade entre os indivíduos mais próximos do centro do
sistema político, tanto do ponto de vista de uma dimensão horizontal, referida à localização geográfica,
quanto de uma dimensão vertical, referida à desigualdade de características sociodemográficas e
5 A discussão mais detalhada do procedimento é apresentada no Apêndice.

econômicas. O “modelo da consciência de classe”, por sua vez, proporia que a participação seria mais
intensa entre os indivíduos portadores da consciência de classe, isto é, do conhecimento a respeito das
conexões entre os próprios interesses e os eventos políticos. A articulação entre esses dois modelos,
segundo Reis (2000, p. 76-77), redundaria precisamente em que seriam os indivíduos oriundos de
posições mais centrais, tanto objetiva quanto subjetivamente em relação ao sistema político, os mais
propensos a manifestarem a chamada “consciência de classe”. Nesse sentido, a participação intensa e
sofisticada conectar-se-ia de forma sistemática com atributos relacionados ao status socioeconômico e
à experiência urbana dos indivíduos. Os trabalhos de Reis e de outros autores que se baseiam nessas
mesmas considerações, como Lamounier (1975; 1978; 1980) e Castro (1994), mostraram que
atributos como renda, ocupação, idade e escolaridade estariam associados à sofisticação política dos
indivíduos. Rennó (2007), utilizando os mesmos dados do presente artigo, mostrou que as informações
políticas seriam distribuídas de forma desigual em Juiz de Fora e Caxias do Sul, e que isso estaria
associado tanto à desigualdade em atributos socioeconômicos dos cidadãos, como renda, escolaridade,
sexo e raça, quanto a fatores ambientais, isto é, à própria existência de ambientes onde seria mais fácil
informar-se sobre política. Outro artigo que discute a aquisição da sofisticação é o de Fuks e Batista
Pereira (2011), no qual os autores analisam jovens secundaristas de Belo Horizonte e sugerem haver
diferentes dinâmicas de aquisição para as duas dimensões conceituais da sofisticação política.
Os dados da pesquisa de Caxias do Sul e Juiz de Fora permitem verificar em que medida a
sofisticação política traduz sistematicamente desigualdades socioeconômicas. A Tabela 2 apresenta os
resultados de modelos de regressão linear ajustados para toda a amostra e para cada cidade analisada
tendo como variável dependente o escore de sofisticação política apresentado anteriormente6:
6 A apresentação dos resultados para cada cidade serve apenas para mostrar que não há grandes diferenças entre as duas no
que se refere a essa análise.

Tabela 2
Regressões lineares tendo como variável dependente o nível
de sofisticação política por cidade e total
Variáveis independentes
Juiz de Fora Caxias do Sul Amostra total
Coeficiente não padronizado
(Erro Padrão)
Coeficiente não padronizado
(Erro Padrão)
Coeficiente não
padronizado
(Erro Padrão)
Intercepto -1,66*** -0,89*** -1,26***
(0,22) (0,21) (0,16)
Renda Familiar 0,000** 0,00*** 0,00***
(0,000) (0,00) (0,00)
Anos de escolaridade 0,22*** 0,15*** 0,19***
(0,01) (0,01) (0,01)
Sexo (Mulher = 0) 1,06*** 0,65*** 0,87***
(0,07) (0,07) (0,05)
Branco (Outros = 0) 0,46*** 0,18 0,31***
(0,15) (0,14) (0,10)
Pardo (Outros = 0) 0,13 0,09 0,09
(0,16) (0,16) (0,11)
Preto (Outros = 0) 0,00 -0,12 -0,11
(0,17) (0,22) (0,13)
Idade 0,03*** 0,02*** 0,03***
(0,00) (0,00) (0,01)
Exposição à TV 0,05*** 0,08*** 0,06***
(0,01) (0,01) (0,01)
Exposição a outros meios 0,06*** 0,06*** 0,06***
(0,01) (0,01) (0,01)
Exposição em conversas 0,37*** 0,48*** 0,42***
(0,06) (0,07) (0,05)
Associativismo -0,01 -0,01 0,00
(0,08) (0,07) (0,05)
Cidade (Juiz de Fora = 0) - -
-0,06
(0,05)
n 2105 2026 4131
R2 Ajustado 0,41 0,36 0,39
Teste F 136,3*** 103,2*** 216,4***
*** Estatisticamente significativo a 0,01
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
Entre as variáveis independentes do modelo estão renda (medida em Reais)7, escolaridade
(medida em anos completos de escolaridade)8, sexo (binário, tendo a categoria “mulher” como
referência), raça (composta por três variáveis indicadoras, e tendo a categoria “outras” como
referência), e idade (medida em anos completos). Quatro construtos contínuos também foram
inseridos9. As variáveis de “exposição à TV” e “exposição a outros meios” têm como unidade a
quantidade de vezes por semana que o respondente alega ter contato com cada meio de comunicação.
As variáveis de “exposição em conversas” e “associativismo” também foram medidas por baterias de
perguntas com escalas do tipo Likert sobre a frequência de realização da atividade (nunca, raramente,
algumas vezes ou sempre). Esses construtos também foram feitos a partir de modelos de teoria de
reposta ao item e, assim como o construto de informação, foram re-escalados de modo a variarem
entre 0 (nunca) e 3 (sempre). No modelo de regressão ajustado para toda a amostra, foi inserida uma
variável binária de controle que diferencia o pertencimento a cada uma das cidades.
7 A variável renda continha 669 casos sem informação que foram excluídos da análise. 8 A variável escolaridade continha 50 casos sem informação que foram excluídos da análise. 9 O Apêndice inclui informações mais detalhadas sobre a construção de tais variáveis.

Para melhorar a leitura dos resultados, a Tabela 3 apresenta o que se chama de simulação
dos valores de interesse do modelo ajustado para toda a amostra. Esse procedimento permite
visualizar com maior clareza a magnitude dos efeitos de cada variável, além de propiciar a simulação
do escore que teriam indivíduos com perfis determinados pelo analista (KING, TOMZ & WITTEMBERG,
2000; IMAI, KING & LAU, 2008; 2009)10.
Tabela 3 Simulação de valores de interesse a partir da
regressão linear da Tabela 2 para toda a amostra
Variável Nível de sofisticação Variável Nível de sofisticação
Renda familiar Exposição à TV
Nenhuma 3,10 Nenhuma vez por semana 2,73
Um salário mínimo (R$510,00) 3,15 Duas vezes por semana 2,86
Cinco salários mínimos 3,31 Cinco vezes por semana 3,05
Dez salários mínimos 3,52 Exposição a outros meios
Escolaridade Nenhuma vez por semana 3,02
Analfabeto 1,67 Duas vezes por semana 3,14
Ensino Básico completo (4 anos) 2,41 Cinco vezes por semana 3,31
Ensino Fundamental completo (8 anos) 3,15 Exposição em conversas
Ensino Médio completo (11 anos) 3,70 Nunca 2,78
Ensino Superior completo (15 anos) 4,44 Raramente 3,19
Idade Algumas vezes 3,61
18 anos 2,59 Sempre 4,03
30 anos 2,91 Associativismo
50 anos 3,43 Nunca 3,22
Raça Raramente 3,22
Negro 3,22 Algumas vezes 3,21
Pardo 3,29 Sempre 3,20
Branco 3,33 Cidade
Sexo Juiz de Fora 3,25
Mulher 2,80 Caxias do Sul 3,19
Homem 3,67
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
Os números apresentados na Tabela 3 correspondem aos valores simulados do escore médio
de sofisticação política do indivíduo com a característica definida na linha da tabela, e com todas as
10 Essa técnica simula distribuições para os parâmetros estimados (os coeficientes do modelo) por assumir que tais
distribuições são normalmente distribuídas. A partir disso, o programa calcula os valores preditos para cada amostra simulada
e utiliza a distribuição desses valores preditos para gerar uma estimativa (média) e seu erro (o desvio-padrão). Outra alternativa
seria a utilização de bootstrapping, que consiste em uma abordagem ainda mais geral, porém, muito semelhante, que geraria
resultados praticamente idênticos.

demais variáveis mantidas constantes. A variável renda apresenta um efeito positivo sobre a
sofisticação política, controlando-se por todas as demais. O efeito parece não ser tão forte, ainda que
tal julgamento seja em boa medida subjetivo. A diferença entre um indivíduo que não possui renda
(renda igual a 0) e um indivíduo que ganha 10 salários mínimos não chega a meio ponto na escala que
vai de 0 a 6. Já a escolaridade tem um efeito maior. Um indivíduo com Ensino Superior tem um escore
médio de 4,44, ao passo que um indivíduo que tem apenas o Ensino Básico, por exemplo, não chega a
marcar 2,5 pontos. O efeito da idade também é razoável, com um respondente de 50 anos marcando
mais de um ponto a mais que um de 18 anos. Raça, por sua vez, apresenta um efeito muito fraco,
ainda que a tabela de regressão informe que ele seja estatisticamente significativo. Por outro lado, a
variável “sexo” tem um efeito forte e favorável aos homens, que marcam em média 0,87 pontos a mais
do que as mulheres. Os respondentes de Caxias do Sul tendem a ser menos sofisticados do que os de
Juiz de Fora, mas essa diferença é muito pequena (0,06 pontos).
No que tange aos efeitos dos construtos contínuos de exposição à informação ou estímulos
políticos, nota-se que as duas variáveis de exposição à política nos meios de comunicação têm efeitos
apenas moderados. Um indivíduo que nunca assiste ao noticiário político da TV, por exemplo, tem um
escore médio apenas 0,3 pontos menor do que o respondente que o faz 5 vezes por semana. A
diferença tem quase a mesma magnitude no caso da exposição à informação política por outros meios
de comunicação como jornais e revistas. Por outro lado, a variável de exposição às conversas tem um
efeito mais forte, com um indivíduo que declara sempre conversar tendo, em média, mais de 1 ponto
no escore de sofisticação do que um indivíduo que declara nunca conversar sobre política. A variável de
associativismo não tem um efeito substantivo.
Em suma, o modelo ajustado para examinar alguns dos correlatos da sofisticação política
ajuda a mostrar que ela traduz desigualdades socioeconômicas e demográficas de forma sistemática.
Os resultados corroboram o quadro interpretativo fornecido por Reis (1978), segundo o qual indivíduos
em posições mais centrais na sociedade têm maior propensão a reconhecer e manipular os estímulos
de natureza política.
O impacto da sofisticação política
Sniderman e seus colegas chamaram a concepção de que a sofisticação política estratificaria
o público entre tipos de tomadores de decisão de “teoria da interação da sofisticação política”
(SNIDERMAN et al, 1991, p. 20). No trecho a seguir, os autores caracterizam tal perspectiva:
“[...] political sophistication is a ‘bundle’ concept: it packs together related, if
distinguishable, properties including a tendency to pay close attention to politics, to have
ready at hand banks of information about it, to understand multiple arguments for and
against particular issue positions, and to recognize interrelationships among those
arguments. Indeed, it is precisely because political sophistication implicates so many
facets of information processing that it is likely to play a role of high centrality in
reasoning about political choices. Differently put, our expectation is that political
sophistication not only affects reasoning about political choices in its own right, but in
addition affects how other factors affect reasoning about political choices” (SNIDERMAN et
al, 1991, p. 21).

Na linguagem estatística, a interação refere-se ao caso em que o sentido e a intensidade da
associação entre duas variáveis dependem do valor que assume uma terceira, ou mesmo de uma das
duas variáveis em questão (BRAMBOR et al, 2006). No caso da perspectiva da interação da sofisticação,
a ideia implica que a associação entre duas ou mais atitudes/preferências, ou entre uma mesma
atitude em pontos distintos do tempo, depende do nível de sofisticação política do indivíduo. Nesse
sentido, indivíduos mais politicamente sofisticados tendem a ter atitudes mais efetivas, ou que se
associam de forma mais consistente com outras, e atitudes mais estáveis, isto é, atitudes que são mais
consistentes ao longo do tempo. Esse entendimento quanto ao papel da sofisticação política denota
que ela é uma variável condicional ou interativa na explicação do comportamento político. Não há razão
para supor que a sofisticação política explique a direção das preferências das pessoas.
Mas, de que maneira a sofisticação política estratifica o público entre diferentes tomadores de
decisão? Esta seção do artigo pretende explorar a resposta a essa pergunta. Quando expressam suas
opiniões sobre um assunto, indivíduos buscam na memória as informações que possuem a respeito do
tema em questão (ZALLER, 1992). Caso a maioria dessas informações seja positiva, o indivíduo emitirá
uma opinião positiva em relação ao objeto avaliado. Caso contrário, sua avaliação será negativa. A
sofisticação política refere-se exatamente ao volume dessas informações e à capacidade dos indivíduos
de conectá-las. Tendo como base esse mecanismo, é possível compreender por que certos indivíduos
mudam mais de opinião do que outros, e porque certos indivíduos possuem opiniões mais
ideologicamente consistentes. A discussão a seguir aborda tais questões e testa quatro hipóteses
relevantes sobre de que maneira a sofisticação política estratifica o eleitorado de forma crucial para o
estudo da opinião pública.
Vale a pena começar a discussão pela efetividade das atitudes políticas, entendidas aqui como
as orientações afetivas (positivas ou negativas, favoráveis ou desfavoráveis) dos indivíduos com relação
a objetos da política (KROSNICK & RAHN, 1994, p. 279). Atitudes efetivas são aquelas que produzem
consequências no comportamento dos indivíduos, ou seja, que se conectam de maneira sistemática a
outras atitudes e ações (KROSNICK & RAHN, 1994). O teste mais famoso da conexão entre atitudes
políticas é, sem dúvida, o já mencionado estudo de Converse (1964) sobre a estruturação ideológica,
que propôs que as atitudes políticas dos indivíduos seriam mais ou menos organizadas em sistemas de
crenças, os quais seriam configurações de ideias e atitudes cujos elementos se conectariam por alguma
forma de estruturação ou interdependência funcional (CONVERSE, 1964, p. 207). Por estruturação,
Converse compreende a correspondência entre atitudes ou o sucesso com que se pode prever a opinião
de um indivíduo em uma questão a partir da opinião já conhecida que ele expressa em outra questão.
Trata-se precisamente de dizer que um sistema de crenças é estruturado na medida em que um
princípio ou orientação mais geral organiza um subconjunto de atitudes.
A hipótese de Converse era que, para a grande maioria do eleitorado estadunidense, as
atitudes políticas não se organizariam de forma sistemática em torno dos eixos liberal e conservador da
política do país. Isso revelaria que a grande maioria do eleitorado não teria um entendimento muito
complexo da política, tendo em vista a maneira idiossincrática na qual organizariam suas atitudes
políticas. Para testar sua hipótese, Converse comparou as matrizes de correlação de itens de opinião
em questões políticas entre candidatos ao Congresso e entre a massa dos eleitores (CONVERSE, 1964,

p. 228). Os resultados mostraram correspondência muito maior entre as diferentes opiniões dos
candidatos ao Congresso do que entre a massa dos eleitores. Para Converse, a interpretação dos
resultados era inequívoca: o volume de informação política, ou seja, o entendimento da política seria
responsável por promover a organização ou a efetividade das atitudes políticas, seu impacto mútuo e
sobre outros comportamentos na política.
Os ataques ao estudo de Converse vieram de duas correntes principais. A primeira, cujo
principal expoente é o estudo de Nie, Verba e Petrocik (1976), tentou mostrar que os eleitorados das
décadas seguintes ao estudo de Converse teriam maiores níveis de estruturação ideológica. Esta crítica,
no entanto, teve que recuar diante das evidências de que a suposta estruturação verificada no período
analisado seria consequência de alterações no formato e no fraseado das questões utilizadas pelos
autores (SULLIVAN; PIERESON & MARCUS, 1978). Outra linhagem de críticos de Converse segue a postura
de Achen (1975) e Judd e Milburn (1980), segundo a qual a existência de baixas correlações entre as
atitudes dos cidadãos seria causada por erros de mensuração próprios das técnicas de coleta e análise
de dados de survey, e não pela falta de consistência ideológica dos eleitores. Esses autores procuraram
desenvolver artifícios estatísticos supostamente capazes de minimizar o efeito dos erros de
mensuração e elevar o nível de estruturação ideológica dos indivíduos analisados. No entanto, o
problema dos erros de mensuração seria menos metodológico do que ontológico (SNIDERMAN et al,
1991, p. 17). Para Converse, ainda que os erros de mensuração sejam parte inevitável da análise dos
dados de survey, eles seriam causados pela falta de consistência ideológica derivada da baixa
sofisticação política dos respondentes. Para os tributários da posição de Achen, os erros de
mensuração se deveriam, exclusivamente, a problemas do survey.
Autores como Sniderman, Brody e Tetlock (1991) entendem que essa contenda teria se
resolvido com o trabalho de Stimson (1975), que analisou as correlações entre as atitudes dos
indivíduos para diferentes grupos do que chamou de “habilidade cognitiva”. Essa variável foi
representada pela escolaridade, e o procedimento do autor foi realizar análises fatoriais entre as
questões de opinião separadamente para grupos com níveis distintos de escolaridade. O resultado
encontrado foi inequívoco: quanto maior o nível de escolaridade, maior a associação entre as atitudes
políticas dos respondentes. Anos mais tarde, Delli Carpini e Keeter (1996, p. 237) utilizaram a variável
de informações factuais e, também através de modelos de análise fatorial, repetiram os resultados de
Stimson. No Brasil, do mesmo modo, os estudos de Lamounier (1978; 1980) e Reis (1978) mostraram
que as associações entre opiniões em questões políticas e outras preferências políticas seriam maiores
para níveis mais altos de escolaridade. Castro (1994, p. 171-202) também analisou no quinto capítulo
de sua tese, por meio de correlações, a associação entre opiniões políticas diversas para grupos de
sofisticação política e concluiu que elas seriam maiores nos grupos com níveis mais altos de
sofisticação.
Esse conjunto de achados parece indicar que a resposta de Converse sobre a falta de
estruturação ideológica do eleitorado seria mesmo a mais adequada. Se as baixas correlações entre
atitudes fossem causadas somente por erros de mensuração, seria de se esperar que elas se
mantivessem constantes independentemente do nível de entendimento da política apresentado pelo
respondente. Como isso não ocorre, sendo exatamente a sofisticação política o fator que explica a
variação da estruturação ideológica, pode-se dizer que os chamados erros de mensuração revelam

exatamente o que Converse sugeria: o efeito da sofisticação política no sentido de aumentar a
estruturação dos sistemas de crenças políticas dos cidadãos.
É possível testar a proposição de Converse neste artigo. Três perguntas feitas em abril
indagavam se o respondente era favorável ou não às privatizações, aos gastos sociais do governo e à
implementação da reforma agrária. Esses itens eram ordinais, com escalas de 5 pontos. Outros quatro
itens da onda de setembro tinham formato de escolha forçada, e pediam ao respondente que
escolhesse entre alternativas de políticas públicas opostas. Esses itens eram binários. Os respondentes
que apareciam nas duas ondas e que deram respostas em todas essas perguntas foram selecionados,
totalizando 2922 casos. Os resultados da análise fatorial são apresentados na Tabela 411:
Tabela 4
Análise fatorial por eixos principais dos itens de opiniões políticas
por quartil de sofisticação política em toda a amostra
Questão Quartil 1
n = 625
Quartil 2
n = 675
Quartil 3
n = 883
Quartil 4
n = 739
Geral
n = 2922
Contra x a favor privatizações 0,41
A favor x contra gastos sociais 0,32 0,45 0,32 0,39 0,38
A favor x contra reforma agrária 0,34 0,45 0,45 0,51 0,43
Ajuda aos pobres x construção de obras 0,33 0,51 0,48 0,40
Combate desemprego x combate a
inflação 0,52 0,47 0,36
Voz ao povo x eficiência e rapidez 0,31 0,52 0,51 0,42
Políticas focalizadas x crescimento
econômico 0,45 0,32 0,40 0,37
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
O modelo apresentado na Tabela 4 replica a análise feita por Delli Carpini e Keeter (1996)12.
Os resultados parecem corroborar amplamente as considerações feitas anteriormente. Enquanto nos
dois primeiros quartis apenas quatro variáveis carregam no fator, esse número aumenta para cinco no
terceiro quartil, e, finalmente, inclui todas as sete variáveis no quartil com maior sofisticação política.
Além disso, é possível observar que a magnitude das cargas fatoriais das variáveis tende a ser maior no
último quartil em relação aos outros. É possível também notar que as cargas dos fatores não
apresentam viés devido ao formato das questões. Essas são evidências fortes de que a conexão entre as
atitudes aumenta conforme o nível de sofisticação política do respondente. Isso quer dizer que os
respondentes mais sofisticados, uma vez que se baseiam nos mesmos eixos de considerações para
formarem seus julgamentos, tendem a apresentar atitudes ou posições políticas ideologicamente
parecidas em diferentes questões. Por outro lado, respondentes menos sofisticados orientam-se com
menor frequência com base em considerações de natureza política e produzem padrões de respostas
mais idiossincráticos.
11 A tabela omite as cargas fatoriais inferiores a 0,3. 12 Há duas diferenças na análise feita aqui em relação ao estudo de Delli Carpini e Keeter. A primeira refere-se ao fato de que,
aqui, utiliza-se a matriz de correlações policóricas entre os itens, e não a matriz de correlações de Pearson. A razão é que as
primeiras são mais adequadas quando os itens ordinais ou binárias captam atributos latentes contínuos. A segunda diferença é
o método de extração dos fatores. Aqui se usa o método de eixos principais, que gera cargas menores em relação ao método de
componentes principais utilizado por Delli Carpini e Keeter. As justificativas para essas escolhas são discutidas no Apêndice.

Deixando de lado o tema da estruturação ideológica, cabe agora abordar o problema da
estabilidade das atitudes políticas, ainda que, em certo sentido, sua estabilidade temporal também
possa ser vista como manifestação de sua efetividade. Trata-se do caso em que a opinião em um ponto
do tempo afeta a opinião sobre o mesmo assunto em algum tempo posterior. Ou seja, pode-se aferir a
posição do indivíduo numa questão em um ponto do tempo caso se conheça sua posição anterior na
mesma questão. O estudo de Converse também foi um marco em tratar desse tema. O autor verificou
que a maioria das opiniões dadas pelos respondentes de sua pesquisa de painel apresentava alta
instabilidade temporal, o que seria explicado pelo mesmo fator que explicava a falta de estruturação
ideológica (CONVERSE, 1964, p. 241-243). O público seria dividido entre um núcleo de pessoas
politicamente sofisticadas e portadoras de atitudes verdadeiras e a massa de indivíduos sem
entendimento da política, e cujas atitudes oscilariam quase aleatoriamente.
O formato de painel da pesquisa aqui utilizada também possibilita realizar o teste da
estabilidade temporal e examinar o efeito da sofisticação política. A Tabela 5 fornece as correlações
entre algumas questões de opinião em três ondas da pesquisa13. Os indivíduos que não apareceram
nas três ondas e os que não forneceram resposta em alguma questão foram descartados das análises.
Aliás, vale mencionar que é a falta de respostas que faz com que o quartil menos sofisticado apresente
menos casos nas análises temporais. Como se verá à frente, é o grupo menos sofisticado que apresenta
maior taxa de não-resposta nas questões de opinião. As correlações utilizadas na Tabela 5 são do tipo
tau-beta, o mesmo utilizado por Converse em seu estudo14:
Tabela 5
Correlações Tau-B de Kendall entre os itens de opinião ao longo do tempo por quartil de sofisticação política em toda a amostra
Questão Ondas da pesquisa Quartil 1
n = 387
Quartil 2
n = 506
Quartil 3
n = 701
Quartil 4
n = 625
Geral
n = 2219
Contra x a favor privatizações
abril x setembro 0,32 0,38 0,39 0,55 0,42
abril x outubro 0,38 0,39 0,43 0,52 0,44
setembro x outubro 0,54 0,48 0,50 0,59 0,53
Contra x a favor livre
comércio abril x outubro 0,22 0,18 0,18 0,31 0,23
A favor x contra gastos
sociais
abril x setembro 0,19 0,23 0,25 0,30 0,25
abril x outubro 0,09* 0,27 0,24 0,31 0,24
setembro x outubro 0,25 0,34 0,31 0,36 0,32
A favor x contra reforma
agrária
abril x setembro 0,32 0,45 0,38 0,41 0,40
abril x outubro 0,41 0,45 0,43 0,44 0,44
setembro x outubro 0,45 0,48 0,45 0,47 0,47
* Apenas esta correlação foi estatisticamente significativa a 0,05. Todas as demais foram a 0,01.
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
O que se nota é que as correlações entre os itens de opinião ao longo do tempo são, em geral,
baixas ou moderadas. Altas correlações indicam alta estabilidade. Assim como no estudo de Converse,
13 O item sobre a opinião em relação ao livre comércio não foi perguntado na onda de entrevistas feitas em setembro. 14 Esse tipo de correlação parte da concepção forte em relação ao que seja a correlação, isto é, a concepção de monotonicidade
perfeita (WEISBERG, 1974). Isso indica que o valor da estatística de correlação aumenta (aproxima-se de 1) na medida em
aumenta a proporção de casos nos pares concordantes na tabela de contingência entre as duas variáveis cruzadas. Na medida
em que a proporção de casos discordantes aumenta, a correlação tende a diminuir de valor (aproxima-se de -1). Os valores
próximos de 0 indicam ausência de correlação.

poucas correlações da Tabela 5 passam de 0,5. Todavia, o que se quer examinar aqui é se o aumento
da estabilidade acompanha o aumento da sofisticação política. Alguns itens apresentam um aumento
claro de estabilidade conforme se sobe nos quartis de sofisticação política, mas alguns apresentam
padrões mais matizados. De todo modo, esses padrões mais matizados devem-se, em boa medida, ao
fato de que o segundo e o terceiro quartis apresentam correlações muito parecidas, e que, em muitas
vezes, chegam a ser maiores no quartil 2 do que no quartil 3. Todavia, o padrão mais geral da tabela
parece incontestável: o bloco contendo os dois quartis intermediários apresenta correlações mais altas
do que o primeiro quartil, enquanto o quartil superior apresenta as correlações mais altas da tabela.
Seja como for, é preciso discutir por que se deve esperar que os mais politicamente
sofisticados mudem menos. Se, como foi argumentado anteriormente, a própria definição de
sofisticação política contém a ideia de que os indivíduos mais sofisticados são mais capazes de
reconhecer e responder aos estímulos do ambiente político, então, não seria de se esperar que também
mudassem mais de opinião? Por que, ainda assim, os mais sofisticados politicamente mudam menos
de opinião?
Os trabalhos de Zaller pretendem responder a essa pergunta (ZALLER, 1992; ZALLER & FELDMAN,
1992). As pessoas teriam considerações armazenadas na memória a respeito de determinada questão
política. Por considerações o(s) autor(es) compreende(m) as razões que se tem para se favorecer a um
ou a outro lado na questão (ZALLER, 1992, p. 40; ZALLER & FELDMAN, 1992, p. 585). Todos os indivíduos
portariam considerações conflitantes e ambíguas a respeito de questões políticas, e tomariam suas
decisões em questões de survey com base nas considerações mais salientes no momento da pergunta.
Assim:
“If, as the model claims, individuals possess competing considerations on most issues,
and if they answer on the basis of whatever ideas happen to be at the top of their minds
at the moment of response, one would expect a fair amount of over-time instability in
people's attitude reports. The reason is that the consideration(s) that are stochastically
accessible at one interview might not be so prominent at the next” (ZALLER & FELDMAN,
1992, p. 597).
Até esse ponto, o modelo de Zaller (e Feldman) apenas provê o mecanismo que explica como
as variações ambientais, ao proverem estímulos diversos e mudarem as considerações acessíveis aos
indivíduos, produzem a mudança de opinião. Adicionalmente, o(s) autor(es) defende(m) que os mais
sofisticados seriam mais estáveis devido ao maior número de considerações que já teriam armazenado.
Nesse sentido,
“If, […], more politically aware persons have a larger number of considerations at the top
of their head and accessible for use in answering questions, they should, all else being
equal, exhibit greater stability in their closed-ended responses. The reason is that attitude
reports formed from an average of many considerations will be a more reliable indicator
of the underlying population of considerations than an average based on just one or two
considerations” (ZALLER & FELDMAN, 1992, p. 597).
É com um modelo como esse que Zaller pretende dar conta da instabilidade nas opiniões
detectada pelo estudo de Converse. Na verdade, o primeiro diferencia-se um pouco da abordagem
desse último. Enquanto Converse divide o público entre os que têm atitudes “verdadeiras” e os que não

têm, Zaller sequer fala em atitudes “verdadeiras”. Para este autor, a manifestação da atitude seria, na
verdade, o vetor final da amostragem das considerações que o indivíduo portaria em relação à questão.
Além do mais, Zaller argumenta que a direção do conjunto das considerações políticas dos mais
sofisticados, o que justamente produziria a estabilidade em favor de uma ou outra direção, devia-se ao
fato de que estes já possuiriam predisposições políticas. Para ele, os mais sofisticados tenderiam a
resistir mais aos argumentos inconsistentes com suas atuais orientações políticas justamente porque
teriam a habilidade ou as informações contextuais para perceberam as conexões dos estímulos com
suas orientações políticas (ZALLER, 1992, p. 44).
Contudo, não se pode extrair das análises de Zaller a ideia de que os mais sofisticados
simplesmente “tapariam os ouvidos” diante de informações novas e opostas às suas orientações
políticas. A menor proporção de mudança de opinião entre os mais sofisticados teria a ver com o fato
de que eles já teriam orientações prévias formadas com base em conjuntos mais amplos de
considerações. Se o conceito de sofisticação denota a ideia de que o indivíduo sofisticado foi mais
preparado por sua história de condicionamento para reconhecer os estímulos de natureza política,
então, é inevitável concluir que os mais sofisticados sejam precisamente os que aprendem mais. Mais
ainda, eles aprendem mais apesar das preferências que já têm.
Os dados utilizados aqui permitem testar o efeito da sofisticação sobre o aprendizado de
“novos” estímulos levando-se em conta as preferências prévias dos indivíduos. Os respondentes foram
perguntados em abril e em outubro sobre os nomes de candidatos a presidente, governador e senador
que conheciam. Para criar uma variável que representasse o ganho de informação dos indivíduos no
período entre abril e outubro - o período mais movimentado do ponto de vista político-eleitoral - foram
feitos os somatórios dos nomes de candidatos que o respondente foi capaz de citar em abril e em
outubro15, e depois se diminuiu o escore de abril do escore de outubro. Essa variável seria uma
aproximação da quantidade de informações que o respondente adquiriu a respeito da disputa eleitoral
no período. Obviamente, foram selecionados para a análise apenas os casos que se repetiam em abril e
outubro. A Tabela 6 apresenta os resultados de modelos de regressão ajustados tendo como variável
dependente o nível de ganho informacional:
15 Não se levou em conta nomes de pré-candidatos que apareceram na disputa pré-eleitoral em abril e não mais apareceram
em outubro. Um caso desse tipo foi o de Roseana Sarney, candidata à Presidência em abril e saiu da disputa algum tempo
depois.

Tabela 6
Regressões lineares tendo como variável dependente
o ganho informacional para toda a amostra
Variáveis independentes
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Coeficiente não
padronizado
(Erro Padrão)
Coeficiente não
padronizado
(Erro Padrão)
Coeficiente não
padronizado
(Erro Padrão)
Intercepto 4,29***
(0,12)
3,91***
(0,14)
4,09***
(0,19)
Sofisticação 0,37***
(0,03)
0,83***
(0,10 )
1,01***
(0,10)
Cidade (Juiz de Fora = 0) 1,06***
(0,11)
0,98***
(0,11)
1,32***
(0,12)
Sofisticação*Sofisticação - -0,08***
(0,02)
-0,06***
(0,02)
Número de candidatos
conhecidos em abril - -
-0,41***
(0,03)
Possuía identificação partidária
em abril (Não = 0) - -
0,06
(0,11)
Possuía autolocalização
ideológica em abril (Não = 0) - -
-0,13
(0,12)
Possuía candidato a presidente
em abril (Não = 0) - -
0,05
(0,15)
Possuía candidato a governador
em abril (Não = 0) - -
-0,11
(0,15)
n 3443 3443 3443
R2 Ajustado 0,07 0,07 0,12
Teste F 126,1*** 92,8*** 56,7***
*** Estatisticamente significativo a 0,01.
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
O primeiro modelo parte da suposição de que apenas dois fatores afetam linearmente o ganho
informacional: a sofisticação política do respondente e o ambiente eleitoral no qual este se encontra -
no caso, cada cidade analisada. O resultado indica uma associação fraca entre sofisticação e
aprendizado, já que, para cada ponto de sofisticação que se tem em abril, aprende-se
aproximadamente 0,3 nomes de políticos a mais em outubro. Também se pode concluir que Caxias do
Sul é um ambiente onde se aprende mais do que Juiz de Fora16. A leitura desse modelo pode ser
facilitada pelo exame da Figura 1, que cruza os valores simulados de ganho informacional com o nível
de sofisticação do respondente. Nota-se que a associação linear entre ganho informacional e
sofisticação política é fraca no modelo 1, o que revela que talvez sejam necessárias mais
especificações. É precisamente pela falta de especificações que o modelo não chega a testar
diretamente a hipótese levantada antes.
16 O que corrobora as observações de Rennó (2004).

Figura 1
Modelo 1 da Tabela 6: valores simulados de ganho informacional
por nível de sofisticação política
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
O modelo 2 da Tabela 6 mantém as mesmas variáveis do modelo 1 e inclui um termo
quadrático, isto é, um termo multiplicativo entre a variável de sofisticação política e ela mesma
(Sofisticação*Sofisticação). O que esse termo quadrático permite é testar a hipótese condicional sobre
se o efeito da sofisticação sobre o ganho informacional aumenta, diminui ou permanece o mesmo
quanto mais sofisticado é o respondente. Ou seja, ele testa justamente se os mais sofisticados ganham
mais do que os menos sofisticados. O resultado parece corroborar parcialmente essa hipótese. Como
se vê, o termo quadrático tem um efeito negativo, indicando que, atingido certo nível no escore de
sofisticação política, não há mais ganho informacional em relação aos níveis medianos de sofisticação.
No entanto, o efeito de compensação não é forte o suficiente para evidenciar que o respondente mais
sofisticado ganhe menos informação do que o respondente menos sofisticado. Outro ponto a ser notado
é o aumento no coeficiente da variável de sofisticação política. A interpretação desses resultados é
facilitada pelo exame da Figura 2, que também cruza o ganho informacional com o nível de sofisticação
política, agora no modelo que controla seu efeito pelo termo quadrático.

Figura 2
Modelo 2 da Tabela 6: valores simulados de ganho informacional
por nível de sofisticação política
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
Todavia, o modelo 2 ainda requer especificações para se testar por completo a hipótese
aventada anteriormente. Por que os mais sofisticados não aprendem mais do que os respondentes
mais próximos da mediana no escore de sofisticação? Ou seja, por que o efeito da sofisticação política
sobre o ganho informacional não é linear? O modelo 3 aborda essa pergunta com maior precisão. Um
bloco de variáveis o de variáveis da pesquisa pode ser usado para representar as preferências prévias
dos respondentes em abril. Nesse bloco, aparecem quatro variáveis binárias que indicam se o
respondente já possuía identificação partidária, se já possuía identificação ideológica, se já tinha
candidatos a governador e a presidente em abril17. A inserção desse bloco de variáveis no modelo testa
a hipótese de que os mais sofisticados, por já possuírem orientações prévias, ”tapariam os ouvidos” em
relação aos novos estímulos políticos. Para corroborar essa hipótese, espera-se que a inflexão da curva
(causada pelo termo quadrático) desapareça, e que pelo menos alguma dessas variáveis tenha efeito
negativo.
A variável que testa a hipótese concorrente no modelo 3 consiste no número de candidatos
que o respondente já sabia dizer em abril. Essa variável certamente apresentará um efeito negativo,
uma vez que está subtraída na variável dependente. No entanto, o que importa aqui é saber se sua
inclusão no modelo causa uma diminuição ou mesmo o desaparecimento da inflexão da curva. Nesse
caso, será possível dizer que os mais sofisticados deixam de ganhar mais do que os outros (os
medianamente sofisticados) por conta do que já têm, e não porque “tapam os ouvidos”.
17 Não foi perguntado na pesquisa se o respondente já havia escolhido seu candidato a senador em abril.

Os resultados do modelo 3 refutam claramente a hipótese de que as predisposições fazem
com que os indivíduos politicamente mais sofisticados aprendam menos do que se esperaria. Nota-se
que o efeito do termo quadrático cai, indicando redução na inflexão da curva, e o efeito isolado da
sofisticação política aumenta para quase 1 ponto. As variáveis indicando as preferências prévias
apresentam coeficientes muito fracos, alguns chegando a ser positivos, contrariamente ao que se
esperava. A variável que indica o número de candidatos que o respondente já conhecia em abril
apresenta o efeito negativo que já se esperava observar. A cada candidato já conhecido em abril o
aprendizado de nomes novos em outubro diminui em 0,4. A Figura 3 mostra como a inflexão da curva
praticamente se neutraliza e o efeito da sofisticação volta a ser quase linear, isto é, ele permanece
relativamente alto mesmo para os níveis mais elevados de sofisticação. Os sofisticados aprendem mais
quando se leva em conta o que já sabiam.
Figura 3
Modelo 3 da Tabela 6: valores simulados de ganho informacional
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
A explicação do fato de que os politicamente mais sofisticados sejam os mais estáveis mesmo
sendo os mais sensíveis às variações nos estímulos ambientais reside precisamente em que as atitudes
que já possuem impactam a maneira como recebem as novas informações. Essas atitudes foram
formadas por meio de um processo no qual foram reforçadas contínua e intensamente ao longo do
tempo. As atitudes pré-existentes que caracterizam o processamento de novas informações dos mais
sofisticados formaram-se pelo estoque de estímulos favoráveis a elas. Para Zaller, esse processo resulta
em um acúmulo de considerações que tende a favorecer um lado da escolha em detrimento do outro,
de modo que as novas considerações favoráveis ao segundo nem sempre são suficientes para alterar o
balanço do total de considerações em favor do primeiro. É por essa razão que os mais sofisticados

captam estímulos novos e, ao mesmo tempo, são capazes de manter sua posição, já que foram
recorrente e intensamente reforçados a tê-la no tempo e no espaço.
É possível reforçar esse argumento mostrando que os indivíduos mais sofisticados tendem a
expressar mais orientações políticas do que os outros. A Tabela 7 apresenta as proporções de opiniões
emitidas por cada quartil de sofisticação política em algumas questões de opinião e preferência política
em outubro:
Tabela 7
Percentual de preferências emitidas por quartil de sofisticação
política em toda a amostra
Questão Quartil 1
n = 1219
Quartil 2
n = 1109
Quartil 3
n = 1410
Quartil 4
n = 1144
Geral
n = 4882
Tem identificação partidária 40,03 51,58 51,42 58,13 50,18
Tem identificação ideológica 44,54 60,60 70,43 82,60 64,58
Opina sobre privatizações 80,97 92,97 96,52 98,25 92,24
Opina sobre livre comércio 87,03 96,12 98,09 99,48 95,21
Opina sobre gastos sociais 91,06 98,29 97,56 97,03 95,99
Opina sobre reforma agrária 91,30 97,48 98,06 98,34 96,31
Tem candidato a presidente 73,50 79,26 77,16 81,90 77,84
Tem candidato a governador 72,27 80,25 82,41 83,21 79,58
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
Embora as perguntas sobre assuntos como privatizações, livre comércio, gastos sociais e
reforma agrária apresentem níveis gerais elevados de “opinação”, ainda é possível notar que a
proporção de respostas tende a aumentar linearmente conforme aumenta o nível de sofisticação
política. No item referido à opinião sobre as privatizações, a diferença chega a ser de 18 pontos
percentuais entre o último e o primeiro quartil. Todavia, essas questões certamente tendem a ser
menos centrais nos sistemas de crenças do que a autolocalização ideológica e a identificação
partidária. Com isso se quer dizer que essas duas preferências, entre os indivíduos que as portam,
provavelmente têm impacto maior sobre comportamentos e até mesmo sobre outras opiniões. É em
relação a essas duas atitudes que as diferenças entre os mais sofisticados e os menos sofisticados
mostram-se mais claras. A identificação partidária apresenta baixas proporções de respostas e a
diferença do último para o primeiro quartil chega a 18 pontos percentuais. A diferença é bem maior no
caso da chamada “identificação ideológica”, para a qual essa diferença chega a quase 40 pontos
percentuais. As questões sobre as preferências por presidente e governador em abril apresentam níveis
intermediários de opinação, mas também mostram padrões lineares de aumento na medida em que se
aumenta o nível de sofisticação política dos respondentes.
Toda essa argumentação, por outro lado, não autoriza dizer que os mais sofisticados resistem
ao ponto de não mudarem em nenhuma circunstância suas opiniões. As orientações prévias, por mais
fortes que sejam, sempre podem ser modificadas por estímulos novos. Estímulos tendem a ser vistos
como “informações novas” com mais frequência por indivíduos menos sofisticados que, por definição,
são menos treinados a reconhecer os estímulos políticos, do que por indivíduos mais sofisticados.

Considerações Finais
A partir da discussão sobre o conceito e a mensuração da sofisticação política, este artigo
utilizou dados de pesquisa de opinião em painel para testar quatro hipóteses clássicas a respeito do
impacto da desigualdade de sofisticação política nas opiniões dos cidadãos. Os resultados das análises
mostraram, corroborando a teorização sobre o tópico, que: 1) as opiniões dos cidadãos mais
sofisticados tendem a ser mais ideologicamente articuladas do que as dos menos sofisticados; 2)
cidadãos mais sofisticados têm opiniões políticas mais estáveis ao longo do tempo; 3) cidadãos
politicamente mais sofisticados adquirem mais informações do que os menos sofisticados ao longo do
processo eleitoral, e; 4) os cidadãos mais sofisticados tendem a expressar mais opiniões do que os
menos sofisticados.
Reitera-se, portanto, a importância de se levar em conta a desigualdade de sofisticação
política entre os eleitores nas análises e interpretações da dinâmica da opinião pública no sistema
político. No Brasil, parece ainda haver vacilações por parte de estudiosos de opinião pública com
relação ao significado e às implicações do conceito aqui discutido. Mais especificamente, do ponto de
vista normativo, o conceito de sofisticação política parece ser ainda evitado por conta de certas
conotações que parece evocar. Um exercício interessante é o de esclarecer três delas em especial:
1. Baixa sofisticação política não denota automaticamente incompetência ou incapacidade de participar
e opinar sobre política. Certamente, indivíduos mais sofisticados com relação a determinado assunto
possuem mais chances de obter sucesso e satisfação com suas escolhas do que indivíduos menos
informados ou sofisticados. Entretanto, ser pouco sofisticado em determinado assunto não impede que
se seja bem sucedido nas escolhas. Isso se deve ao fato de que escolhas são feitas em contextos e que,
portanto, as características destes podem influenciar as chances de alguém ser bem sucedido em uma
escolha. Certas circunstâncias facilitam as escolhas dos agentes, outras atrapalham. Em contextos
mais complexos, os indivíduos menos sofisticados tendem a ser os mais prejudicados.
2. O termo sofisticação deve ser sempre acompanhado de um complemento que o remeta ao domínio
simbólico da “política”. Quando se fala em sofisticação política nos estudos de comportamento eleitoral
e opinião pública, faz-se referência à complexidade das considerações que o indivíduo carrega quando
o assunto envolve os fatos, objetos e conceitos da política. É possível que um cidadão seja
extremamente sofisticado em assuntos que não têm absolutamente nada a ver com política e, ao
mesmo tempo, seja completamente alheio ao que se passa no governo e na prefeitura, por exemplo. A
sofisticação é um conceito aplicável a qualquer domínio simbólico no qual se dá a ação humana.
Portanto, ao se dizer que determinados indivíduos são politicamente menos sofisticados do que outros,
não se pretende dizer que o sejam para todas as outras coisas que realizam, isto é, que sejam
ignorantes de uma maneira geral.
3. Sofisticação política não é o mesmo que ideologia, apesar da existência de certa conexão entre os
dois conceitos. Dizer que um cidadão é politicamente sofisticado não é o mesmo que dizer que ele
possui uma ideologia definida ou que, necessariamente, tem preferência por algum partido. Tal ponto
foi suficientemente esclarecido na seção do artigo que discutiu o conceito de sofisticação.
Por fim, os resultados expostos neste artigo mostram que a chamada “tese minimalista”, cuja
paternidade foi atribuída a Converse e se referiria aos baixos níveis de informação política e

estruturação ideológica dos eleitores estadunidenses, contribui menos como uma denúncia da
incapacidade das massas para a política e mais como um diagnóstico da desigualdade política
presente mesmo em democracias mais desenvolvidas e estáveis. Nesse sentido, parece crucial
considerar que essa desigualdade tenha impacto sobre a maneira como os eleitores brasileiros tomam
suas decisões na política.
Referências Bibliográficas
ACHEN, C. “Mass political attitudes and the survey response”. The American Political Science Review, 69, p.1218-1231,
1975.
BAKER, A.; AMES, B.; RENNÓ, L. “Social Context and Campaign Volatility in New Democracies: Networks and
Neighborhoods in Brazil’s 2002 Elections”. American Journal of Political Science, 50 (2), p. 382-399, 2006.
BAKER, F. The Basics of Item Response Theory. Baltimore: Eric Clearinghouse on Assessment and Evaluation, 2001.
BIRNBAUM, A. Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring an Examinee’s Ability. In: LORD, F. M.; NOVICK, M. R.
(eds.). Statistical Theories of Mental Test Scores. Reading, Addison-Wesley, p. 397-472, 1968.
BRAMBOR, T.; CLARK, W.; GOLDER, M. “Understanding Interaction Models: Improving Empirical Analyses”. Political Analysis, 14, p. 63-82, 2006.
CAMPBELL, A.; CONVERSE, P.; MILLER, W.; STOKES, D. The American Voter. New York: John Wiley, 1960.
CASTRO, M. M. M. “Determinantes do Comportamento Eleitoral: a centralidade da sofisticação política”. Rio de Janeiro,
Tese de Doutorado, IUPERJ, 1994.
CONVERSE, P. The Nature of Belief Systems in Mass Publics. In: APTER, D. (ed.). Ideology and Discontent. New York:
Free Press, p. 206-261, 1964.
COSTELLO, A.; OSBORNE, J. “Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most
From Your Analysis”. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10 (7), p. 1-9, 2005.
DELLI CARPINI, M.; KEETER, S. What Americans Know About Politics and Why It Matters. New Heaven: Yale University
Press, 1996.
FUKS, M.; BATISTA PEREIRA, F. “Informação e conceituação: a dimensão cognitiva da desigualdade política entre jovens de
Belo Horizonte”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 26 (76), p. 123-143, 2011.
IMAI, K.; KING, G.; LAU, O. “Toward A Common Framework for Statistical Analysis”. Journal of Computational and Graphical Statistics, 17 (4), p. 892-913, 2008.
_________. Zelig: Everyone's Statistical Software. 2009. Disponível em: <http://gking.harvard.edu/zelig>.
Acesso em: 16 mar. 2010.
JUDD, C.; MILBURN, M. “The structure of attitude systems in the general public: Comparisons of a structural equation
model”. American Sociological Review, 45, p. 627-643, 1980.
KIM, J. & MUELLER, C. Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues. Beverly Hills: Sage Publications, 1978.
KING, G.; TOMZ, M.; WITTENBERG, J. “Making the Most of Statistical Analysis: Improving Interpretation and Presentation”.
American Journal of Political Science, 44 (2), p. 341-355, 2000.
KUKLINSKI, J.; QUIRK, P. “Conceptual Foundations of Citizen Competence”. Political Behavior, 23 (3), p. 285-311, 2002.
KROSNICK, J.; RAHN, W. Attitude Strength. Encyclopedia of Human Behavior, 1, p. 279-289, 1994.
LAMOUNIER, B. Comportamento Eleitoral em São Paulo: Passado e Presente. In: LAMOUNIER, B.; CARDOSO, F. H. (orgs.). Os Partidos e as Eleições no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 15-44, 1975.

_________. Presidente Prudente: o Crescimento da Oposição num Reduto Arenista. In: REIS, F. W. (org.). Os Partidos e o Regime: A lógica do processo eleitoral brasileiro. São Paulo: Edições Símbolo, p. 1-89, 1978.
_________. O Voto em São Paulo: 1970-1978. In: LAMOUNIER, B. (org.). Voto de Desconfiança: eleições e mudança
política no Brasil: 1970-1979. São Paulo: Vozes, p. 15-80, 1980.
LUSKIN, R. “Measuring Political Sophistication”. American Journal of Political Science, 31 (4), p. 856-899, 1987.
_________. “Explaining Political Sophistication”. Political Behavior, 12 (4), p. 331-361, 1990.
NEUMAN, W. R. “Differentiation and Integration: Two Dimensions of Political Thinking”. The American Journal of Sociology. 86 (6), p. 1236-1268, 1981.
_________. The Paradox of Mass Politics: Knowledge and Opinion in the American Electorate. Cambridge: Harvard
University Press, 1986.
NIE, N.; VERBA, S.; PETROCIK, J. The Changing American Voter. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
NIEMI, R. & JUNN, J. Civic Education: What Makes Students Learn. New Haven: Yale University Press, 1998.
NUNNALLY, J. Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill, 1978.
OSTERLIND, S. Test Item Bias. Newbury Park: Sage Publications, 1983.
REIS, F. W. Classe Social e Opção Partidária: Eleições de 1976 em Juiz de Fora. In: REIS, F. W. (org.). Os Partidos e o Regime: A lógica do processo eleitoral brasileiro. São Paulo: Edições Símbolo, p. 213-287, 1978.
_________. Identidade, Política e Teoria da Escolha Racional. In: Mercado e Utopia: Teoria Política e Sociedade
Brasileira. São Paulo: Edusp, p. 63-82, 2000.
_________.; CASTRO, M. M. M. “Regiões, Classe e Ideologia no Processo Eleitoral Brasileiro”. Lua Nova, 26, p. 81-131,
1992.
RENNÓ, L. Information and Voting: Microfoundations of Accountability in Complex Electoral Environments. Pittsburgh,
Tese de Doutorado. University of Pittsburgh, 2004. _________. “Os militantes são mais informados? Desigualdade e informação política nas eleições de 2002”. Opinião Pública, vol, 12, n° 2, p. 329-347, 2006.
_________. “Desigualdade e Informação Política: As Eleições Brasileiras de 2002”. Dados, 50 (4), p. 721-755, 2007.
RIZOPOULOS, D. “ltm: An R Package for Latent Variable Modeling and Item Response Theory Analyses”. Journal of Statistical Software, 17 (5), p. 1-25, 2006.
SNIDERMAN, P.; BRODY, R.; TETLOCK, P. Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology. New York: Cambridge
University Press, 1991.
SULLIVAN, J.; PIERESON, J.; MARCUS, G. “Ideological Constraint in Mass Publics: A Methodological Critique and Some New
Findings”. American Journal of Political Science, 22 (2), p. 333-349, 1978.
STIMSON, J. “Belief Systems: Constraint, Complexity, and the 1972 Election”. American Journal of Political Science,
19 (3), p. 394-417, 1975.
TURGEON, M.; RENNÓ, L. “Informação política e atitudes sobre gastos governamentais e impostos no Brasil: evidências a
partir de um experimento de opinião pública”. Opinião Pública, vol. 16, n° 1, p. 143-159, 2010.
WEISBERG, H. “Models of Statistical Relationship”. The American Political Science Review, 68 (4), p. 1638-1655, 1974.
ZALLER, J. The Nature and Origins of Mass Opinion. New York: Cambridge University Press, 1992.
_________.; FELDMAN, S. “A Simple Theory of Survey Response: Answering Questions versus Revealing Preferences”.
American Journal of Political Science, 36 (3), p. 579-616, 1992.
ZELLER, R. & CARMINES, E. Measurement in the Social Sciences: The Link Between Theory and Data. Cambridge:
Cambridge University Press, 1980.

Apêndice
Este apêndice discute os procedimentos de construção das escalas utilizadas no artigo. Como
escalas foram avaliadas e elaboradas por meio de técnicas similares, as técnicas são discutidas e seus
resultados descritos de forma mais detalhada apenas para o construto de sofisticação política.
1. Sofisticação política
A sofisticação política é um construto contínuo, isto é, uma habilidade que os indivíduos
possuem em maior ou menor grau. A sofisticação também é uma habilidade latente em relação às
questões de conhecimento perguntadas nas pesquisas. Nesse sentido, é possível conceber essas
baterias de questões que visam captar o mesmo atributo latente como sendo um teste, uma tentativa
de estimar uma habilidade ou característica contínua latente dos indivíduos por meio de um conjunto
de questões que eles respondem18. A Teoria Clássica do Teste (TCT) assume que o escore em uma
questão como essas é o resultado da soma do escore verdadeiro, isto é, a habilidade que a questão
busca captar, com os erros de mensuração (ZELLER & CARMINES, 1980, p. 7). Essa formulação indica a
possibilidade de que certos itens sejam melhores do que outros em captar o construto latente que se
quer medir. Então, ao simplesmente somar as questões e compor uma escala aditiva, corre-se o risco
de levar em conta tanto a habilidade “verdadeira” que se quer captar quanto os erros de mensuração
de cada questão.
A Análise Fatorial tenta minimizar esse problema captando apenas a variância compartilhada
pelas questões. Esse procedimento verifica o quanto cada variável contribui para dimensões latentes
calculadas a partir das combinações de associações lineares entre as variáveis (KIM & MUELLER, 1978,
p. 8). Do ponto de vista da Teoria Clássica do Teste, a utilização desta técnica parte do seguinte
raciocínio: imagine que três questões (A, B e C) foram feitas para captar a variação de um dado
atributo (T). O desempenho de um mesmo conjunto de respondentes nas três questões pode ser
representado pela equação Xi = T + ei, onde i representa cada item. Sendo assim, toda a variação que é
comum a A, B e C corresponde a T, o atributo que se quer medir, e a proporção de variância que cada
questão não compartilha com as demais corresponde aos erros de mensuração ei. Portanto, a Análise
Fatorial permite testar essas suposições quanto às baterias de questões. No entanto, é comum
encontrar certos equívocos entre os trabalhos que lançam mão desta técnica. O principal deles é o de
utilizar a extração por Componentes Principais ao invés da extração por Eixos Principais. A primeira
calcula a carga fatorial, isto é, o peso de cada variável sobre o fator latente, com base no quanto cada
item contribui para a variância total do conjunto das variáveis (o que faz com que esse método
produza, em geral, cargas fatoriais muito mais altas do que os outros). O segundo tipo de extração
computa essas cargas com base no quanto cada item contribui apenas para a variância compartilhada
entre os itens, isto é, o próprio atributo latente T (COSTELLO & OSBORNE, 2005, p. 2). Não faz sentido,
portanto, calcular as cargas com base em toda a variância de cada variável, mas apenas na variância
que os itens compartilham.
18 O fraseado e as opções de respostas das questões de informações políticas utilizadas aqui são fornecidas na Tabela 1 do
artigo.

A Tabela A1 apresenta o resultado da Análise Fatorial por Eixos Principais entre os itens de
sofisticação política, calculada a partir da matriz de correlações tetracóricas entre os itens. Como os
itens são binários, utilizam-se as correlações tetracóricas (ou policóricas, em caso de itens ordinais),
que são mais apropriadas para se captar a associação entre itens binários (ou ordinais) que medem
construtos latentes contínuos.
Tabela A1
Análise Fatorial por Eixos Principais sem rotação dos
itens de sofisticação política
Itens Cargas Fatoriais
Fator 1
Vice-presidente 0,87
Partido de FHC 0,76
País do MERCOSUL 0,75
Presidente da Câmara 0,76
Corso/Delgado 0,7
Senador 0,81
Alpha de Cronbach = 0.80 Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
A análise mostra que é possível aferir a existência de uma única dimensão latente entre os
itens: a sofisticação política. O Alpha de Cronbach é um indicador único de confiabilidade e
dimensionalidade para baterias de questões que buscam medir o mesmo atributo latente. Ele é
utilizado paralelamente à Análise Fatorial, e varia de 0 a 1, sendo que valores acima de 0.6 são
considerados bons.
Entretanto, a Análise Fatorial é apenas um teste de dimensionalidade. Seria possível salvar o
fator como uma variável contínua capaz de discriminar os pesos das respostas em cada item com base
nas cargas, o que aumentaria o número de pontos na escala, levando também ao aumento da
variabilidade no construto. Porém, o modelo fatorial tende a produzir cargas mais baixas para itens
com distribuição muito assimétrica (DELLI CARPINI & KEETER, 1996, p. 297; NUNNALLY, 1978, p. 140).
Sendo assim, itens de conhecimento muito fáceis ou muito difíceis podem ter sua influência
subestimada no fator final por conta de sua baixa variabilidade. Além disso, o modelo de Análise
Fatorial busca explicar a covariância entre os itens, e não a variância de cada item.
A técnica que tem sido cada vez mais utilizada nas Ciências Sociais para construir escalas
como a elaborada aqui é a Teoria de Resposta ao Item ou TRI (BIRNBAUM, 1968; BAKER, 2001;
OSTERLIND, 1983). Em linhas gerais, a TRI propõe que o desempenho do respondente em uma questão
de teste depende de dois fatores principais: a dificuldade da questão e a habilidade que o respondente
possui para respondê-la. É possível modelar essa formulação para itens binários, produzindo o que se
chama de modelo logístico de dois parâmetros (dificuldade e discriminação). Essa técnica possibilita
analisar o desempenho dos itens e calcular o seu peso no construto latente levando-se em conta tanto
sua capacidade de discriminação quanto seu nível de dificuldade. A Tabela A2 apresenta os coeficientes
do modelo logístico de dois parâmetros por máxima verossimilhança para cada item de informação:

Tabela A2
Modelo logístico de dois parâmetros (TRI) para os itens de
sofisticação política
Itens Parâmetro de dificuldade Parâmetro de discriminação
Vice-presidente -0,58 2
Partido de FHC -0,35 2,31
País do MERCOSUL -0,24 3,04
Presidente da Câmara 0,02 1,66
Prefeito 0,22 2,06
Senador 0,3 2,08
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Baker et al (2006).
2. Exposição à informação política na imprensa
Fraseados:
v7a_mediatvyesorno. Agora vamos fazer algumas perguntas sobre seus hábitos de assistir televisão.
Você assiste a algum jornal de televisão? Sim ou não?
v7b1_mediatv1choice - v7b2_mediatv2choice. Quais são os jornais de televisão que você mais assiste?
Só preciso saber de até dois que você mais assista.
1. Jornal Nacional; 2. Jornal do Almoço/RBS; 3. Jornal da Band; 4. Jornal Hoje; 5. Jornal da Record –
Casoy; 6. Cidade Alerta; 7. Primo Piatto – UCSTV; 8. Jornal Alterosa; 9. Bom Dia Brasil; 11. SBT
Noticias; 12. Globo News; 13. Jornal da Globo; 14. Fantástico; 15. MG/TV; 16. Outros; 18. NS; 19. NR
v7b1fq_mediatv1choicefreq - v7b2fq_mediatv2choicefreq. Quantas vezes na semana você assiste a
esses programas?
v8a_mediamagsyesorno. Você lê alguma revista que fale sobre assuntos políticos? Sim ou não?
v8b1_mediamags1choice - v8b2_mediamags2choice Quais são as que você mais lê? Só preciso saber
de até duas revistas que você leia?
1. Veja; 2. Isto é; 3. Época; 4. Caros Amigos; 5. Carta Capital; 6. Exame; 7. Outra; 8. NS; 9. NR
v8b1fq_mediamags1choicefreq -v8b2fq_mediamags2choicefreq. Quantas vezes por mês você lê cada
uma?
v9a_mediapaperyesorno. Você lê notícias sobre política e economia em jornais? Sim ou não?
v9b1_mediapaper1choice - v9b2_mediapaper2choice. Quais são os que você mais lê?
1. Zero Hora; 2. Pioneiro; 3. Correio do Povo; 4. O Sul; 5. Correio Riograndense; 6. Jornal do
Comércio; 7. Tribuna de Minas; 8. Estado de Minas; 9. Diário Regional; 10. O Globo; 11. Extra; 12.
Jornal do Brasil; 13. O Dia; 14. Folha de São Paulo; 15. Estado de São Paulo; 16. Gazeta Mercantil; 17.
Outros ; 18. NS; 19. NR
v9b1fq_mediapaper1choicefreq - v9b2fq_mediapaper2choicefreq. Quantas vezes por semana você lê
esses jornais?
A Análise Fatorial da matriz de correlações policóricas entre os itens de exposição à
informação política na imprensa revelou a existência de duas dimensões latentes. Os itens de exposição
à TV carregaram em uma dimensão, enquanto os itens de exposição a revistas e a jornais carregaram
em outra. Nessa análise, foi preciso utilizar a rotação oblíqua dos fatores, a qual permite que eles se

correlacionem. Foi utilizado o somatório dos itens para se manter a interpretação direta da variável em
termos do número absoluto de vezes que o respondente declarou ter assistido TV, lido jornais e
revistas.
3. Exposição à informação política em conversas
Fraseados:
v16a_conversegroups. Com qual frequência você conversa sobre política nos grupos em que participa?
Frequentemente, Às vezes, Raramente ou Nunca?
v16b_conversenotamob. Com que frequência você conversa sobre política com pessoas do seu bairro
que não sejam da Associação de Moradores do Bairro?
v16c_converseworksorschool. Com que frequência você conversa sobre política no trabalho ou na
escola?
v16d_conversecommute. E no trajeto para o trabalho?
v16e_conversefriends. Com que frequência você conversa sobre política com amigos?
v16f_converseshopping. Quando você está fazendo compras?
v16g_conversefamily. Com que frequência você conversa sobre política com membros da sua família?
A Análise Fatorial da matriz de correlações policóricas permitiu constatar que os itens de
exposição à informação política em conversas representam uma única dimensão latente. Sendo assim,
o último passo da construção do índice de exposição à informação política em conversas foi o de
submeter os itens às análises por TRI e salvar o escore. Como os itens não são binários, utilizou-se o
Modelo de Reposta Gradual (MRG), que é um modelo de TRI adaptado para itens ordinais (RIZOPOULOS,
2006, p. 3). O construto final foi re-escalado de modo a variar entre 0 (Nunca) e 3 (Quase toda
semana), a mesma escala da pergunta original.
4. Associativismo
Fraseados:
v14a_groupsamob. Agora eu vou ler uma lista de grupos e associações. Eu gostaria que você me
dissesse qual é a frequência com que participa de reuniões desses grupos. Com qual frequência você
participa de reuniões da Associação de Moradores: nunca, algumas vezes por ano, uma ou duas vezes
por mês ou quase toda semana?
v14d_groupsunion. Sindicato
v14e_groupsparty. Partido Político
A Análise Fatorial da matriz de correlações policóricas indicou que é possível utilizar os três
itens como representantes do grau de associativismo do respondente. Também foi utilizado o Modelo
de Resposta Gradual para gerar o construto final, que foi re-escalado para variar entre 0 (Nunca) e 3
(Quase toda semana).
Frederico Batista Pereira – [email protected]
Submetido à publicação em novembro de 2011.
Versão final aprovada em maio de 2012.

Robert Bonifácio Doutorando e Professor Substituto do Programa
de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O artigo investiga os perfis de cidadãos associados favoravelmente à ideia do “rouba, mas faz”, que significa
concordância com a conduta de políticos que incorrem em atos de corrupção, mas que realizam um governo entendido como
satisfatório. Utiliza-se como material empírico dois surveys de abrangência nacional, realizados em 2002 e 2006, e os principais
resultados obtidos com as análises dos dados apontam para o forte rechaçamento da ideia de “rouba, mas faz” e para a
importância explicativa de variáveis que indicam avaliação e desconfiança institucional.
Palavras-chave: “rouba, mas faz”; avaliação institucional; confiança institucional; corrupção
Abstract: The paper analyses the citizen’s profiles positively associated with the idea of “he steals, but get things done” that
means agreement with the conduct of politicians who incur acts of corruption, but that performs a government perceived as
satisfactory. It is used as empirical data two nationwide surveys, conducted in 2002 and 2006, and the main results of data´s
analysis are the strong rejection of “he steals, but get things done” idea and distrust of representative actors and institutions.
Keywords: “he steals, but get things done”; institutional evaluations; institutional trust; corruption

Introdução1
Com o advento de novas democracias durante o período que ficou conhecido como a “terceira
onda de democratização”, de 1975 a meados da década de 1990 (HUNTINGTON, 1994), boa parte dos
interesses dos especialistas migrou dos determinantes da emergência de democracias para as
discussões sobre a qualidade desses novos regimes (DIAMOND; MORLINO, 2004, 2005). Entre os temas
envolvidos nessa questão, a corrupção aparece com destaque, uma vez que o primado da lei (rule of law)
e a accountability horizontal e vertical são entendidos como precondições essenciais para a existência de
uma democracia de qualidade.
Sabe-se que a corrupção é um fenômeno global com incidência variada, sendo sua prática
geralmente mais difundida e mais sistematicamente enraizada nos países subdesenvolvidos (ou em
desenvolvimento) do que nos países desenvolvidos, conforme indicam os resultados de pesquisas
comparativas realizadas por Klitgaard (1988). É natural que a amplitude do fenômeno o ponha em
evidência entre os acadêmicos e que muitos estudos a respeito, em diversas áreas do conhecimento,
sejam produzidos.
No campo da Ciência Econômica, as pesquisas são abundantes e, de modo geral, indicam que
a corrupção gera efeitos nocivos para a economia dos países, uma vez que aumenta os custos das
transações financeiras, reduz os investimentos externos e atravanca o crescimento econômico (MAURO,
1995; AIDT, 2003; SHLEIFER; VISHNY, 2003).
Já no campo da Ciência Política, as considerações a respeito nunca foram consensuais, afirma
Seligson (2002). De acordo com ele, autores como Key (1949), Merton (1957), Huntington (1968),
Waterbury (1976) e Leys (1989) entendem que as práticas corruptas podem ser benéficas para o
sistema político por funcionarem como instrumento que desata os nós da burocracia estatal, em especial
nos países subdesenvolvidos e/ou ditatoriais. Por outro lado, há autores que procuram evidenciar os
aspectos negativos que a corrupção provoca aos cidadãos e aos sistemas políticos. Doig e McIvor (1999),
por exemplo, encontram uma associação entre altas taxas de percepção de corrupção e baixos níveis de
confiança institucional. Já Seligson (2002) vê relação entre experiências com atos de corrupção com
baixo apoio ao regime democrático e baixo patamar de confiança interpessoal. Della Porta (2000), por
sua vez, considera que a corrupção é causa e efeito de desempenhos governamentais pífios.
Este artigo focaliza a corrupção, mas em uma forma ainda pouco estudada pelos especialistas.
O objeto de análise são os posicionamentos individuais favoráveis ao “rouba, mas faz”, isto é, as
considerações positivas sobre políticos que são vistos como bons governantes, apesar de possuírem a
pecha de corruptos. O principal objetivo da investigação é identificar os perfis sociais associados à
aceitação do “rouba, mas faz” no Brasil. Para tanto, são apresentadas as contribuições da literatura
1 Agradeço à minha orientadora, Dr.ª Mônica Mata Machado de Castro, e aos amigos, Me. Frederico Batista Pereira e Dr. Jorge
Alexandre Neves, pelas valiosas críticas ao longo do processo de construção do artigo. Também agradeço ao CESOP/ Unicamp,
em especial à Dr.ª Rachel Meneguello, por ter me cedido gratuitamente os resultados das duas pesquisas de opinião aqui
utilizadas. 2 O CSES-ESEB 2002 foi fruto da parceria entre CESOP (Centro de Estudos em Opinião Pública da Universidade Estadual de
Campinas) e DataUff (Núcleo de Pesquisas, Informações e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense) e contou com

especializada e realizados testes empíricos com dados dos seguintes surveys: o “Estudo Eleitoral
Brasileiro” (ESEB), de 20022, e “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas”, de 20063.
Após esta introdução, faz-se uma definição sobre o “rouba, mas faz” e descrevem-se os dados
relacionados. Em sequência, discute-se a contribuição da literatura especializada e formulam-se
hipóteses sobre os perfis sociais associados. Segue-se a isso a análise empírica do problema, através da
utilização de testes estatísticos que indicam respostas às principais indagações. Por fim, são feitas as
considerações finais.
“Rouba, mas faz”: definição e aproximação empírica
Há alguns anos, foi cunhado pela imprensa nacional o termo “rouba, mas faz” para designar
políticos que gozam de popularidade por serem vistos como fazedores de obras ou por realizarem bons
governos, mas que possuem a pecha de corruptos. Relacionou-se o termo primeiramente a Adhemar de
Barros. Em período recente, coube a Paulo Maluf tal reputação, apesar do termo poder ser aplicado a
muitos outros políticos do país4.
Não se pretende investigar opiniões referentes a qualquer político em específico. As variáveis
utilizadas sequer mencionam nomes, sendo constituídas de frases que aludem à ideia do “rouba, mas
faz”. As variáveis indicadoras de cada uma das duas pesquisas utilizadas encontram-se no Quadro 1:
Quadro 1 Variáveis indicadoras do “rouba, mas faz”
Fonte: “Estudo Eleitoral Brasileiro” (2002) e “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas” (2006).
2 O CSES-ESEB 2002 foi fruto da parceria entre CESOP (Centro de Estudos em Opinião Pública da Universidade Estadual de
Campinas) e DataUff (Núcleo de Pesquisas, Informações e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense) e contou com
o financiamento da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Trata-se de survey pós-eleitoral
aplicado em todo o território nacional. Foram realizadas 2514 entrevistas. 3 Pesquisa nacional coordenada pelos professores Dr. José Álvaro Moisés (NUPPS e DCP - Universidade de São Paulo) e Dra.
Rachel Meneguello (CESOP e DCP - Unicamp) e financiada pela FAPESP. A pesquisa realizou 2004 entrevistas nacionais em
junho de 2006. 4 Adhemar de Barros (1901-1969) foi interventor e governador do estado de São Paulo, deputado estadual e prefeito da cidade
de São Paulo. Paulo Maluf (1931-) foi governador do estado de São Paulo e prefeito da cidade de São Paulo. Atualmente é
deputado federal.
ESEB 2002
Para cada uma das frases que eu falar, gostaria que o (a) senhor (a) dissesse se concorda muito, concorda um pouco,
discorda um pouco ou discorda muito.
1. Não faz diferença se um político rouba ou não, o importante é que ele faça as coisas que a população precisa;
2. É melhor um político que faça muitas obras, mesmo que roube um pouco, do que um político que faça poucas
obras e não roube nada;
3. Um político que faz muito e que rouba um pouco merece o voto da população;
4. Um político que faz um bom governo deve poder desviar dinheiro público para financiar sua campanha
DESCONFIANÇA 2006
Vou ler algumas frases sobre os políticos e gostaria de saber se você concorda muito, concorda pouco, discorda muito ou
discorda pouco de cada uma delas:
1. Não faz diferença se um político rouba ou não, o importante é que ele faça as coisas que a população precisa;
2. Um político que faz muito e que rouba um pouco merece o voto da população;
3. Um político que faz muito e que rouba um pouco não merece ser condenado pela justiça;
4. Um político que faz um bom governo deve poder desviar dinheiro público para financiar sua campanha eleitoral;
5. O melhor político é o que faz muitas obras e realizações, mesmo que roube um pouco.

A Tabela 1 ilustra que, em todas as variáveis, há mais rechaçamento do que aprovação das
situações postas em análise, ou seja, as discordâncias superam as concordâncias. Esse cenário é mais
intenso para os dados de 2006:
Tabela 1
Frequência das variáveis indicadoras de “rouba, mas faz” (%)
ESEB 2002
Discorda
muito
Discorda
pouco
Não concorda
nem discorda
Concorda
pouco
Concorda
muito NS/NR Total
Um político que faz um
bom governo deve poder
desviar dinheiro público
para financiar sua
campanha eleitoral 72,8 8,2 0,3 6,5 8,0 4,2
100
Um político que faz muito
e rouba um pouco merece
o voto da população 43,3 12,8 0,9 19,7 19,7 3,6
100
É melhor um político que
faça muitas obras, mesmo
que roube um pouco, do
que um político que faça
poucas obras e não roube
nada 42,8 12,7 1,0 18,2 21,4 3,9
100
Não faz diferença se um
político rouba ou não, o
importante é que ele faça
as coisas que a população
precisa 52,8 9,9 0,8 14,5 18,9 3,1
100
DESCONFIANÇA 2006
O melhor político é o que
faz muitas obras e
realizações, mesmo que
roube um pouco 72,3 8,8 2,2 11,7 4,5 0,5
100
Um político que faz um
bom governo deve poder
desviar dinheiro público
para financiar sua
campanha eleitoral 79,4 9,4 2 6,3 2,4 0,5
100
Um político que faz muito
e rouba um pouco não
merece ser condenado
pela justiça 74,3 10,5 2,2 8 4,5 0,5
100
Um político que faz muito
e rouba um pouco merece
o voto da população 72,7 9,3 1,8 10,5 5,3 0,4
100
Não faz diferença se um
político rouba ou não, o
importante é que ele faça
as coisas que a população
precisa 72,7 9 1,5 10,3 6,2 0,3
100
Fonte: “Estudo Eleitoral Brasileiro” (2002) e “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas” (2006).
A frase em que se observa maior discordância entre os entrevistados (79,4%) é “Um político
que faz um bom governo deve poder desviar dinheiro público para financiar sua campanha eleitoral”
(Pesquisa Desconfiança, 2006 - Tabela 1). Isso significa usurpar o dinheiro público em benefício próprio,
dinheiro que, no caso, desembocaria em sua campanha eleitoral. Já as frases com maiores níveis de

concordância, em ambos os surveys, expressam indiferença em relação a atos corruptos de um político,
desde que ele promova ações que ajudem a população. Em 2002, 39,6% do total de entrevistados
concordam muito ou pouco com a seguinte frase: “É melhor um político que faça muitas obras, mesmo que
roube um pouco, do que um político que faça poucas obras e não roube nada”. Em 2006, a mais alta
concordância (16,5%) é atribuída à frase: “Não faz diferença se um político rouba ou não, o importante é que
ele faça as coisas que a população precisa”.
De um modo geral, os percentuais de discordância são muito expressivos em todas as variáveis
de ambas as pesquisas. Talvez a explicação para isso resida no distanciamento do público entrevistado
às situações postas em análise. Em todos os casos, as frases referem-se ao ambiente de representação
política, ao ofício dos representantes eleitos pelo povo. Tal contexto não faz parte do cotidiano dos
entrevistados e, por isso, os julgamentos tendem a ser rigorosos. A ideia é que, por não se enxergarem
nas situações, é pouco ou nada constrangedor externar opiniões críticas a respeito.
Pode-se afirmar que todos os indicadores do “rouba, mas faz” apresentam um sentido lógico
bastante próximo entre si, ou seja, expressam uma mesma ideia. Contudo, para que se construam
índices a respeito, é essencial um passo a mais: identificar relações estatísticas robustas entre as
variáveis indicadoras.
Para tanto, o teste mais adequado é o de análise fatorial5. O método de extração mais
recomendado para variáveis que não apresentam distribuição normal bem definida é o principal axis
factoring (COSTELO; OSBORNE, 2005). Além disso, é importante que o alpha de Cronbach, um indicador de
consistência interna do fator, tenha um expressivo patamar. Quanto maior o valor do alpha, maior é a
correlação entre os itens que compõem o fator e, por consequência, maior o inter-relacionamento entre
as variáveis (CRONBACH, 1951). Não há valores mínimos válidos definidos tanto para a carga estatística
das variáveis nos fatores criados quanto para o valor de alpha de Cronbach. Contudo, boa parte dos
estudos da área trabalha com valores mínimos de 0,5 e de 0,7 para as cargas estatísticas do primeiro e
segundo fatores, respectivamente.
Os resultados presentes nas Tabelas 2 e 3 evidenciam a satisfação das condições. A única
exceção é o indicador “Um político que faz um bom governo deve poder desviar dinheiro público para financiar
sua campanha eleitoral”, do survey de 2002. Entretanto, por possuir sentido lógico parecido ao das
demais variáveis e por ter redação semelhante a um indicador presente de modo estatisticamente
significante no survey de 2006, opta-se por sua manutenção para a construção do índice de “rouba, mas
faz”.
5 O teste de análise fatorial compõe-se de técnicas estatísticas que objetivam prover descrições simples de inter-relacionamento,
correlações e covariâncias entre as variáveis. Ele torna visível a observação de quais variáveis possuem significativas associações
entre si e as organiza em fatores. Em cada fator, temos as variáveis mais associadas entre si e a intensidade dessa associação,
que se mostrará forte, mediana ou fraca de acordo com a magnitude de sua carga estatística, geralmente compreendida entre - 1
e 1 (KIM; MUELLER, 1978).

Tabela 2
Análise fatorial com variáveis indicadoras do “rouba, mas faz” (2002)
Variáveis Fator
Não faz diferença se um político rouba ou não, o importante é que ele faça as coisas que a
população precisa
0,707
É melhor um político que faça muitas obras, mesmo que roube um pouco, do que um político que
faça poucas obras e não roube nada
0,657
Um político que faz muito e que rouba um pouco merece o voto da população 0,666
Um político que faz um bom governo deve poder desviar dinheiro público para financiar sua
campanha eleitoral
0,399
Alpha de Cronbach= 0,702
Fonte: “Estudo Eleitoral Brasileiro” (2002).
Tabela 3
Análise fatorial com variáveis indicadoras do “rouba, mas faz” (2006)
Variáveis Fator
Não faz diferença se um político rouba ou não, o importante é que ele faça as coisas que a
população precisa 0,852
Um político que faz muito e que rouba um pouco merece o voto da população 0,883
Um político que faz muito e rouba um pouco não merece ser condenado pela justiça 0,798
Um político que faz um bom governo deve poder desviar dinheiro público para financiar sua
campanha eleitoral 0,743
O melhor político é o que faz muitas obras e realizações, mesmo que roube um pouco 0,870
Alpha de Cronbach= 0,916
Fonte: “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas” (2006).
Principais contribuições dos estudos na área
Parte dos estudos do campo da Ciência Política sobre corrupção possui abordagens
estritamente teóricas, buscando conceituar e definir a natureza e as características do fenômeno. Para
Wraith e Simpkins (1963), por exemplo, a corrupção é entendida como uma incapacidade moral de
certos cidadãos, algo deplorável e condenável. Já Nye (1967) possui uma concepção relativamente mais
legalista do fenômeno, definindo corrupção como um comportamento desviante dos deveres formais da
função pública com fins de ganhos monetários ou de status privado (para benefício pessoal, familiar ou
de grupo próximo). Isso inclui comportamentos como suborno, nepotismo e apropriação de recursos
públicos para benefícios privados. Por fim, existem estudos que situam a corrupção mais como um

problema de natureza econômica. Autores dessa vertente consideram que o monopólio de ação do
governo abre oportunidades para ganhos econômicos excessivos por parte de grupos privados, o
chamado rent seeking. O trabalho de Rose-Ackerman (1999) indica que a corrupção ocorre na interface
dos setores público e privado, de acordo com sistemas de incentivo que permitem aos agentes políticos
maximizarem utilidade mediante suborno e propina. Já para Tullock (1967), os agentes buscarão a
maior renda possível, dentro ou fora das regras de conduta.
Estudos que tratam dos posicionamentos individuais sobre atos de corrupção de políticos como
o aspecto a ser explicado são escassos. Todavia, é relativamente ampla a quantidade de estudos que
investigam comportamentos e opiniões individuais em relação à corrupção em suas diversas formas.
Estes são utilizados neste artigo como base para formulação de hipóteses e para a construção do
desenho de análise empírica. O conjunto dos estudos selecionados aponta para cinco principais fatores
explicativos: 1) a confiança em atores e instituições representativas; 2) a avaliação de atores e
instituições representativas; 3) as condições socioeconômicas e demográficas; 4) a exposição a
conteúdos midiáticos e 5) os “vencedores” e “perdedores” de disputas eleitorais.
1- Confiança em atores e instituições representativas
Para Offe (1999), confiar em instituições supõe conhecer a ideia básica ou a função
permanente atribuída a elas pela sociedade, por exemplo, a crença de que a polícia existe para garantir a
segurança e a vida das pessoas. Assim, a confiança política dos cidadãos não é cega ou automática, ela
depende das instituições estarem estruturadas para permitir que eles conheçam, recorram ou interpelem
os seus fins últimos, que são aceitos e desejados pelos cidadãos.
Congruente com o raciocínio de Offe, Moisés (2010) define confiança como a crença das
pessoas na ação futura dos outros. Logo, envolve riscos porque não assegura necessariamente certeza
quanto aos resultados. Pertinente à esfera da política, ela envolve a crença e as expectativas das pessoas
a respeito das funções singulares atribuídas às instituições no regime democrático, algo diretamente
relacionado à sua qualidade.
Moisés e Carneiro (2008; 2010) procuram evidências empíricas no caso brasileiro para as
suposições teóricas anteriormente indicadas. Investigam, dentre outras coisas, a associação entre
desconfiança institucional e apoio ao regime democrático. Um dos seus principais achados indica que
aqueles que desconfiam das instituições, comparados aos que confiam, apresentam menor preferência
pelo regime democrático, embora a desconfiança não esteja associada à preferência pelo autoritarismo.
A desconfiança também se relaciona à aceitação de desenhos institucionais que não incorporam
instituições representativas, como o congresso nacional e partidos políticos.
Os estudos citados levantam a ideia de que a desconfiança é elemento importante para
entender orientações políticas. Também sugerem que ela está relacionada a opiniões que privilegiam o
arcabouço institucional com escassez democrática, caso se considere a noção de que as instituições
representativas são peças essenciais do arranjo democrático.
Seguindo as argumentações de Offe (1999) e Moisés (2010), pode-se considerar que o
indivíduo que desconfia das instituições públicas apresenta enraizadas frustrações em relação ao

ambiente político, já que sua desconfiança é formada por um longo repertório de experiências e
informações negativas em relação àquelas instituições. Tendo esse cenário como o mais realístico, é
esperado que os indivíduos que desconfiam das instituições, além de possuírem pouca afeição ao ideal
democrático, apresentem também maiores disposições de possuírem opiniões divergentes ao ideário
usual de boa governança, que inclui transparência e honestidade no exercício de cargos públicos. Isso
abre margem à suposição de que os desconfiados são menos dispostos a condenarem a ideia de “rouba,
mas faz” do que aqueles em situação oposta. Desse modo, é possível formular a seguinte hipótese:
H1: Cidadãos que desconfiam de instituições e atores representativos apresentam relativamente mais afeição à
ideia de “rouba, mas faz” do que aqueles que confiam nas instituições e atores representativos.
2- Avaliações de instituições e atores representativos
Conforme destacado anteriormente, a confiança institucional forma-se através das avaliações
em relação ao desempenho, além dos julgamentos quanto a consistência e coerência interna das normas
das instituições. Assim, não exprime mera satisfação, mas também saciamento de expectativas
normativas pelas próprias instituições. Já a avaliação institucional pode ser entendida como um
indicador de qualidade do desempenho da instituição arguida. E os critérios têm caráter momentâneo e
são focados no sucesso de suas ações. Logo, confiança e avaliação institucional não podem ser
entendidas como uma mesma coisa, pois exprimem lógicas distintas.
Essas suposições lógicas podem ser verificadas estatisticamente, através do teste de análise
fatorial. Como os dois conjuntos de variáveis encontram-se presentes somente no survey de 2006, o teste
só é aplicado ao mesmo. Os resultados, inseridos na Tabela 4, explicitam a formação de dois fatores e,
em cada um deles, as cargas estatísticas são robustas. O primeiro fator agrega as maiores cargas
estatísticas das variáveis sobre avaliação institucional e o segundo fator, às relativas a variáveis de
confiança institucional. Assim, pode-se interpretar que essas variáveis expressam coisas diferentes.
Tabela 4
Análise fatorial com variáveis indicadoras de avaliação e confiança em
atores e instituições representativas (2006)
Variáveis Fator 1 Fator 2
Avaliação do congresso nacional 0,642 0,224
Avaliação dos partidos políticos 0,609 0,230
Avaliação do governo 0,807 0,226
Avaliação do presidente 0,718 0,262
Confiança no congresso nacional 0,210 0,744
Confiança nos partidos políticos 0,163 0,729
Confiança no governo 0,339 0,714
Confiança no presidente 0,388 0,601
Fonte: “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas” (2006).

Quanto à importância da avaliação, Easton (1965) fornece importantes indicações. Ele alerta
para a existência de dois tipos distintos de apoio ao regime: específico e difuso. O primeiro consiste no
nível de satisfação dos cidadãos com os outputs (ações, respostas) dos governos, sendo, portanto,
intimamente ligado à ideia de avaliações de políticas públicas, de instituições e ações governamentais.
Isso significa que, em parte, o apoio ao sistema depende do quanto os cidadãos são persuadidos de que
outputs governamentais atendem de fato às suas demandas em um tempo razoável. O autor compreende
que a história política demonstra que muitos regimes se mantiveram mesmo em períodos de crise, o que
é um forte indicador de que apenas satisfação com ações dos governos não basta para explicar o apoio
ao sistema político. Por isso, considera haver outro tipo de apoio, o apoio difuso, que é formado por
atitudes e valores que favorecem a existência e a manutenção do regime democrático. Tal apoio é
constituído por aspectos psicológicos e simbólicos e funciona como um reservatório de legitimidade do
sistema, ajudando-o a se manter mesmo em situações onde os outputs se mostram escassos ou mal
avaliados.
O que Easton esclarece é que as avaliações sobre as ações do governo são importantes na
constituição de apoio ao sistema político, apesar de não se constituírem como o único elemento
explicativo. A despeito da grande reverberação que tiveram as considerações do autor, não é comum
encontrar estudos que foquem na importância das avaliações de instituições para as orientações
políticas, em especial àquelas relacionadas à corrupção. Resta, portanto, o exercício de relacioná-los
logicamente, a fim de criarem-se hipóteses válidas. É de se esperar que um indivíduo que avalie
negativamente as instituições também avalie negativamente os políticos que incorrem em atos que
fogem à regra de boa conduta de um governante. Isso porque os políticos são os atores centrais das
instituições representativas e, como tais elementos aparentam ser visivelmente ligados entre si, é de se
esperar que a momentânea insatisfação com qualquer um desses elementos se alastre para os demais.
Considerando esses pontos, tem-se a seguinte hipótese:
H2: Cidadãos que avaliam negativamente as instituições e atores representativos apresentam relativamente
menos afeição à ideia de “rouba, mas faz” do que aqueles que as avaliam positivamente.
3- Condições socioeconômicas e demográficas
Há longa tradição de estudos que relacionam condições socioeconômicas e demográficas com
orientações políticas dos indivíduos. Pode-se considerar que a consolidação desse tipo de estudo se dá a
partir de meados do século passado, com destaque às obras de comportamento eleitoral feitas por
politólogos estadunidenses. Como exemplo, pode-se citar a de Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1948), que
investigaram os possíveis efeitos da mídia na decisão de voto, mas acabaram encontrando que as
condições socioeconômicas objetivas são o principal fator explicativo do voto entre eleitores de uma
cidade estadunidense.
No Brasil, a realização de tais estudos também é prática comum entre os politólogos. A obra de
Castro (1997) traz um panorama das principais contribuições a respeito. Ela enfatiza que os principais
achados dos estudos mais representativos sugerem que há relação entre ambiente relativamente mais

desenvolvido e maiores níveis de identificação partidária; que a maioria dos eleitores não faz a escolha
do voto motivada por questões ideológicas; que os cidadãos com maiores níveis de status
socioeconômicos são os mais informados sobre política e que os desenvolvimentos social, político e
econômico não foram capazes de abolir as relações políticas clientelistas. Como consideração final de
seu estudo, Castro sugere que, apesar de importantes, os fatores socioeconômicos e demográficos não
bastam para compreender as motivações do comportamento eleitoral e da preferência partidária dos
brasileiros.
Com relação às orientações políticas direcionadas a questões sobre corrupção, o estudo de
Almeida (2007) é uma importante referência. O autor focaliza os posicionamentos dos cidadãos
brasileiros em relação a várias questões, como “jeitinho brasileiro”, sexualidade, visões sobre o Estado,
racismo, política de cotas, etc. e seu principal objetivo é testar empiricamente as teses que Roberto
DaMatta faz sobre a sociedade brasileira em dois de seus livros, Carnavais, malandros e heróis (1997) e A
casa e a rua (1985), tentando justificar as peculiaridades nacionais. Apesar das limitações, os achados de
Almeida são úteis para este artigo, pois versam sobre relações de variáveis socioeconômicas e
demográficas com orientações políticas relacionadas à corrupção, a saber, o “jeitinho”6.
Almeida define o “jeitinho” como um instrumento que permite a quebra das regras
estabelecidas. Para tentar medi-lo, pede que os entrevistados classifiquem como favor, corrupção ou
jeitinho algumas situações propostas. São frases que expressam situações rotineiras na vida dos
cidadãos e, ao contrário das afirmações usadas para medir o “rouba, mas faz”, não se referem
exclusivamente aos políticos, mas a atores sociais diversos, como os funcionários públicos, os policiais e
os próprios cidadãos. As variáveis relevantes para explicar a aceitação ao “jeitinho” são idade, região de
moradia e escolaridade. O local de moradia e o pertencimento ao mercado formal de trabalho, por sua
vez, não têm influência.
Em relação à idade, há uma inflexão importante a partir de 45 anos de idade, onde passa a
predominar a concepção de que o “jeitinho” é errado, ao contrário do que ocorre nas faixas de idade
anteriores. Há diferenças regionais importantes, pois os moradores do norte e nordeste tendem a ver o
jeitinho como algo certo, ao passo que os moradores do sul e sudeste tendem a vê-lo como algo errado.
Quanto à instrução, nota-se que, quanto mais anos de estudo o indivíduo tem, menor a tolerância em
relação ao “jeitinho”. Há, porém, uma ressalva importante: o ponto principal de inflexão nesse
julgamento está no nível mais elevado de instrução, o ensino superior. Almeida entende que a
escolaridade é o principal fator explicativo dentre todos os demais.
O trabalho de Winters e Weitz-Shapiro (2010) também é uma importante contribuição para a
construção de hipóteses deste artigo. Os autores baseiam-se em um survey nacional conduzido pelo
6 Para Fialho (2008), o livro “A cabeça do brasileiro”, apesar de ser uma obra pioneira no que se refere a mapear as opiniões, os
costumes e as “visões de mundo” dos brasileiros, possui muitas deficiências. Segundo o autor, Almeida demonstra, por exemplo,
pouca profundidade analítica para explicar os efeitos da escolaridade nas questões postas em análise; raramente realiza
discussões teóricas e testes de hipóteses antes da operacionalização dos dados; não inclui informações auxiliares e medidas de
associação nas tabelas construídas; não faz testes multivariados para verificar relações entre as variáveis e realiza poucas
comparações dos dados nacionais com os de outros países para quem almeja enfatizar as peculiaridades no comportamento do
cidadão brasileiro.

IBOPE em 2010 com 2002 cidadãos de todas as regiões do Brasil e que contém questões com
características de testes experimentais para medir a aceitação dos entrevistados em relação à
corrupção. Constroem uma situação hipotética para saber a opinião das pessoas sobre políticos
corruptos, que é a seguinte:
Fonte: WINTERS, M.; WEITZ-SHAPIRO, R. “’Rouba, mas faz’ or not? Exploring voter attitudes toward corruption in Brazil”. Trabalho
apresentado no Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington D.C, 2010.
O sexo da pessoa hipotética é sempre o mesmo da pessoa entrevistada. Já as distinções entre a
filiação partidária do prefeito, a indicação de que ele é conhecido por aceitar subornos e a informação de
que ele havia completado muitos ou poucos projetos de obras públicas foram itens atribuídos
aleatoriamente aos indivíduos entrevistados. As seguintes combinações resultam da formulação dos
autores: 2 (sexo) x 2 (corrupto/ não corrupto) x 3 (competências) = 12 tipos distintos de combinações.
Tabela 5
Combinações possíveis de opiniões referentes à corrupção
Sem informações sobre
competência (obras) Baixa competência
(obras) Alta competência (obras)
Não corrupto B1 (N= 333) B2 (N= 335) B3 (N= 334)
Corrupto B4 (N= 331) B5 (N= 334) B6 (N= 335)
Fonte: WINTERS, M.; WEITZ-SHAPIRO, R. “’Rouba, mas faz’ or not? Exploring voter attitudes toward corruption in Brazil”. Trabalho
apresentado no Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington D.C, 2010.
Observação: termos traduzidos pelo autor.
Caso a hipótese dos autores esteja correta, ou seja, se os eleitores reagem negativamente
quando descobrem que um político é corrupto, então, espera-se observar menor propensão dos
entrevistados em acharem que a pessoa hipotética votaria no prefeito suspeito de praticar corrupção, em
comparação com a situação onde recaem dúvidas sobre a honestidade do prefeito. Assim, espera-se que
o quantitativo das respostas siga a seguinte ordem: B4 <B1; B5< B2 e B6 <B3. Se, por outro lado, o
“rouba, mas faz” é hipótese corroborada, ou seja, se os eleitores mostram maior propensão em achar
que a pessoa hipotética votaria no prefeito considerado competente, porém corrupto, então, duas
situações são esperadas: 1) menor “punição” do entrevistado ao prefeito corrupto, à medida que o seu
“Imagine uma pessoa chamada Gabriel (ou Gabriela), que é uma pessoa como você, que vive em um bairro como a seu,
mas em uma cidade diferente no Brasil. O prefeito da cidade de Gabriel (ou Gabriela) é candidato à reeleição em
outubro. Ele é membro do PT (Partido dos Trabalhadores) {ou PSDB [Partido da Democracia Brasileira Sociais]}. Na
cidade de Gabriel (ou Gabriela), é sabido que nunca o prefeito aceitou subornos (ou, frequentemente, aceitou subornos)
ao fornecer contratos com o governo. O prefeito completou (poucos ou muitos, ou omitir toda a sentença) projetos de
obras públicas durante seu mandato. Nesta cidade, a eleição para prefeito é esperado para acontecer em breve.
Na sua opinião, qual é a probabilidade de Gabriel votar para este prefeito na próxima eleição: muito provável,
um pouco provável, improvável ou nada provável"?

nível de competência aumenta e 2) maior preferência por prefeito corrupto, mas competente, que por
prefeito incompetente não corrupto. Nesses dois casos, a ordenação dos quantitativos de respostas
serão, respectivamente, B6 – B3 < B4 – B1 < B5 – B2 e B6 > B2.
Dentre os vários testes que realizam, os autores inserem posição de classe (utilizam os termos
“pobres”, “classe média” e “ricos”) para observar diferenciações de comportamentos. A leitura dos
dados indica que os entrevistados da classe alta parecem ser muito mais lenientes com políticos
corruptos e muito mais tendentes a darem créditos aos políticos competentes. Ou seja, a tolerância a
atos corruptos de políticos encontra-se mais espalhada entre os ricos.
Os dois estudos ajudam na formulação de hipóteses a serem testadas. Com base nos achados
de Almeida (2007), podem-se formular as seguintes hipóteses:
H3: As aceitações do “rouba, mas faz” são maiores entre aqueles que possuem os menores níveis de instrução;
H4: As aceitações do “rouba, mas faz” são maiores entre os jovens do que entre os idosos.
Em ambos os estudos há achados contraditórios em relação à renda. Se, por um lado, no
trabalho de Almeida (2007) a riqueza não está associada à tolerância ou intolerância ao “jeitinho”, no
artigo de Winters e Weitz-Shapiro (2010), há indicação de que os pertencentes à classe alta são os mais
lenientes com políticos corruptos. A afirmação desses dois últimos autores vai em direção oposta à
maior parte dos achados dos estudos de Sociologia Política. Em geral, renda e instrução são aspectos
centrais nesses estudos, no sentido em que suas maiores taxas são associadas a maiores níveis de
informação política, presença de ideologização e maiores patamares de civismo. De modo a se esquivar
dos achados contraditórios dos estudos utilizados nesse tópico, segue-se as orientações gerais dos
estudos de Sociologia Política e faz-se a seguinte hipótese:
H5: As aceitações do “rouba, mas faz” são menores entre aqueles que apresentam maiores rendas.
Aspectos importantes para o perfil socioeconômico e demográfico, tais como sexo, local de
moradia e cor do entrevistado não são observados como relevantes para explicar o “jeitinho” na análise
de Almeida e sequer são abordados no estudo de Winters e Weitz-Shapiro. Todavia, neste artigo, tais
aspectos são incorporados às análises dos dados, devido à centralidade explicativa que apresentam em
estudos da área de Sociologia Política em geral.
4- Exposição a conteúdo midiático
Quando se pensa em fontes de informação, é comum imaginar que a mídia ocupa papel
destacado. O potencial da mídia para influenciar percepções dos indivíduos guarda relação com a
centralidade que a comunicação de massa ocupa nas sociedades contemporâneas. Para além do
oferecimento de informação factual, pode-se considerar também que a mídia constrói enquadramentos a
partir dos quais o indivíduo cria mapas de referência para entender o mundo (GOFFMAN, 1986; IYENGAR;
KINDER, 1987; CAPPELLA; JAMIESON, 1997; ALDÉ, 2004).
No que diz respeito às instituições, o sentido dos efeitos específicos da mídia não foi
estabelecido de forma inequívoca. A acusação de que os meios de comunicação favorecem a

desconfiança política e a desmobilização tem o endosso de gerações de pesquisadores (ROBINSON, 1976;
PATTERSON, 1993; CAPPELLA; JAMIESON, 1997; PUTNAM, 1995; 2001). O principal argumento é que a mídia
cria uma representação das instituições que é especialmente crítica e negativa. No entanto, há
evidências de que a exposição à mídia pode afetar o indivíduo também de forma positiva. Ela ampliaria
seu nível de informação, interesse pela política e sentimento de eficácia subjetiva - isto é, a crença de
que é capaz de influir na política - e diminuiria os custos para participar da vida pública. Isso se
verificaria de maneira mais consistente no caso da exposição à mídia jornalística e não à mídia em geral
(NEWTON, 1999; NORRIS, 1996; 2000).
No Brasil, estudos levantaram indícios de que a comunicação de massa não afeta o apoio às
instituições em apenas um sentido. Schlegel (2005) encontrou associação positiva entre exposição à
mídia jornalística e julgamento “de fundo”, não imediato7, de políticos e partidos em 2002. No caso da
avaliação da atuação de Congresso, governo e partidos, a associação foi negativa. No entanto, os dois
grupos de associações não se confirmaram quando controlado o perfil sociodemográfico dos
entrevistados. Mesquita (2008) constatou que, mesmo diante de cobertura com valência negativa para o
governo federal envolvendo o “escândalo do mensalão” em 2005, a audiência do Jornal Nacional (JN)8
estava positivamente associada à satisfação com a democracia e à confiança no governo, no Presidente
da República, nas Forças Armadas, no Poder Judiciário, nos empresários e nos bombeiros em 2006. O
artigo também mostra influência do patamar de audiência à televisão em geral, medido em horas, sobre
os efeitos do JN. O impacto do telejornal foi mais intenso quando era maior sua participação no consumo
diário de exposição do individuo à televisão.
O artigo de Rennó (2007) também é relevante, uma vez que tece considerações sobre possíveis
influências de informações políticas9 no comportamento eleitoral do brasileiro. O aspecto a ser explicado
é o voto para presidente nas eleições de 2006 e os resultados apontam que os cidadãos que apresentam
mais informação política tenderam a votar em maior proporção no principal candidato oposicionista
(Alckmin), em comparação com o candidato da situação (Lula), cujo governo, à época, estava submerso
em escândalos de corrupção, devido a denúncias de deslizes de integrantes de seu partido e da coalizão
de forças partidárias apoiadoras do governo na administração de recursos federais. Entretanto,
comparada com os demais elementos explicativos do modelo de análise, essa variável não se mostrou
muito relevante.
O trabalho de Schlegel (2005) indica efeitos distintos da exposição à mídia, em certos casos
contribuindo para avaliações positivas de algumas instituições e atores e, em outros, aprofundando as
insatisfações. Já em Mesquita (2008), observamos que um período de cobertura jornalística marcado por
notícias negativas em relação ao governo está associado a aumento de satisfação com democracia e
confiança nas instituições. Por fim, Rennó (2007) destaca que informação política tem relevância na
7 O índice usado como variável dependente pelo autor contemplava questões como a concordância com a frase “Políticos muito
honestos não sabem governar” ou “Os partidos só servem para dividir as pessoas”. 8 Trata-se do principal telejornal do país. Em 2006, 52% dos entrevistados no survey “Desconfiança” declaram assistir o JN
quatro vezes ou mais por semana e 89,2% declaram assistir ao menos uma vez por semana. 9 Informação política é medida por um índice que soma respostas corretas a perguntas sobre conhecimento político, que não
inclui informação específica sobre cada candidato ou partido (RENNÓ, 2007).

escolha do voto, mas em magnitude menor quando comparada a outros elementos explicativos. Nota-se
que as contribuições disponíveis não apontam para uma direção unívoca, para um sentido claro dos
efeitos de informações nas orientações políticas dos cidadãos brasileiros. Contudo, pode-se salientar que
os mais informados tendem a fazer escolhas mais críticas do que os menos informados. É assim na
avaliação da atuação de instituições investigadas por Schlegel e no voto no principal candidato a
Presidente oposicionista a um governo marcado, à época, por denúncias de corrupção, identificado por
Rennó. Logo, é possível estabelecer a seguinte hipótese:
H6: Há maior afeição pelo “rouba, mas faz” entre os que apresentam baixa exposição a conteúdo midiático,
quando comparados aos que apresentam alta exposição a conteúdo midiático
5- “Vencedores” e “perdedores” de disputas eleitorais
Em período recente, tem sido comum especialistas investigarem se, e possivelmente o quanto,
as escolhas eleitorais influenciam opiniões e atitudes após os pleitos. A ideia básica é que os
“vencedores” (cidadãos que votaram na eleição anterior em candidatos a cargos políticos que foram
eleitos) possuem visão mais positiva do sistema, instituições e atores políticos do que os “perdedores”
(cidadãos que votaram na eleição anterior em candidatos a cargos políticos que não foram eleitos). As
diferentes posições sobre o campo da política levariam, consequentemente, a distinções de atitudes e
opiniões políticas.
Anderson e Guillory (1997) entendem que certas características estáveis da vida democrática,
como as eleições, ajudam a organizar e a restringir as atitudes políticas dos cidadãos em relação ao
funcionamento do sistema político. Aliado a isso, jogam luzes nas estruturas institucionais, que, para
eles, possuem o papel de mediação de preferências. Assim, acreditam que ser “vencedor” ou “perdedor”
em disputas eleitorais ajuda a explicar orientações políticas.
O objetivo dos autores é verificar se essas suposições se aplicam às satisfações com o
funcionamento da democracia entre cidadãos de países da Europa Central e Oriental (Bélgica,
Dinamarca, França, Grã-Bretanha, Grécia, Irlanda, Holanda, Itália, Portugal, Espanha e Alemanha
Ocidental) no ano de 1990. Primeiramente, observam que os “vencedores” mostram-se mais satisfeitos
com a democracia do que os “perdedores”. Em seguida, apoiam-se nas definições de Lijphart (1984;
1994 apud ANDERSON & GUILLORY (1997)) sobre sistemas políticos consensuais e majoritários e utilizam
essas variáveis agregadas como possíveis mediadoras da relação entre “vencedores” / “perdedores” e
satisfação com democracia. Verificam que, quanto mais consensual é o sistema político, menores são as
insatisfações dos “perdedores” com a democracia e menores são as satisfações dos “vencedores”. A
situação é oposta para países que possuem sistema político com feições majoritárias. A partir desses
achados, os autores afirmam que os estudos sobre satisfação com democracia devem levar em
consideração elementos explicativos em níveis individual e institucional e que é importante focar-se nos
possíveis efeitos de mediação que os últimos desempenham na relação.
Norris (1999) se atém ao mesmo problema de pesquisa, apesar de ter objetivo distinto: tenta
explicar a confiança institucional em um conjunto mais variado de países com base nas ondas de 1980-

84 e 1990-93 do World Values Survey. Identifica em todos os países que os “vencedores” apresentam
maiores taxas de confiança do que os “perdedores”, sendo a França a única exceção. As maiores
diferenças nas taxas de confiança ocorrem em países onde os governos foram comandados por um único
partido durante longo período (Japão, México e Itália). Esses e demais resultados que a autora encontra
a fazem ressaltar que as instituições importam para entender orientações políticas individuais e os
modelos explicativos devem comportar variáveis de níveis micro e macro.
Com base nas argumentações de Tversk e Kahneman (1992), Anderson e Lotempio (2002)
afirmam que os votantes preferem ser vitoriosos a derrotados e que os insucessos pesam mais do que os
sucessos. Se a ideia for válida, acreditam que uma consequência natural seria essa situação de
“vencedor” e “perdedor” afetar orientações relativas ao sistema político. Para tentarem comprovar a
ideia, os autores utilizam dados do National Election Survey de 1972 e 1996 para investigarem se há
distinção na confiança política dos “vencedores” e dos “perdedores” entre os estadunidenses.
Os resultados confirmam uma de suas hipóteses: os “vencedores” apresentam maiores taxas de
confiança política do que os “perdedores”. Contudo, não se observa magnitude de efeitos em forma
ordinal, conforme indicado na hipótese dois: os autores criam quatro tipificações de votantes, com base
em sucessos e insucessos nas eleições presidenciais e congressuais (câmara e senado) e o tipo
duplamente vitorioso (“vencedor” na eleição presidencial e congressual) não possui maiores taxas de
confiança do que o tipo vencedor parcial presidencial (aquele que vence a eleição presidencial, mas é
perdedor na eleição congressual). Os achados vão em direção aos já encontrados por Anderson e Guillory
(1997), indicando que o fato de as pessoas serem “vencedoras” ou “perdedoras” em pleitos eleitorais
ajuda a entender o ambiente político e a explicar atitudes políticas subsequentes.
Tais estudos são úteis para os objetivos deste artigo, uma vez que seus resultados tornam
possível imaginar que os “vencedores” de uma eleição tendem a possuir visão mais positiva acerca do
governo subsequente do que os “perdedores”. Essa visão positiva pode influenciar as orientações
políticas, incluindo a aceitação da ideia do “rouba, mas faz”. A convicção dos votantes de que seu
candidato a cargo político vencedor é a melhor das opções lançadas e/ ou o perfil mais adequado para
assumir o governo pode implicar avaliações enviesadas de seu desempenho. Tal situação pode levar, por
exemplo, a níveis altos de afeição pelo político, a tal ponto de desconsiderar a importância das práticas
corruptas por ele praticadas. Assim, é plausível supor que os “vencedores” acreditam com maior
intensidade do que os “perdedores” que a imersão em corrupção pelo político incumbente é minorada
pelas ações positivas realizadas ao longo do governo. Logo, é possível formular a seguinte hipótese:
H7: Os “vencedores” apresentam maior aceitação à ideia de “rouba, mas faz” do que os “perdedores”.
Procedimentos Metodológicos
A análise empírica do artigo está baseada nos surveys “Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB)”, de
2002 e “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas”, de 2006. Nesta seção, descrevem-
se as variáveis dependentes e independentes de cada survey, utilizadas nos testes de regressão logística
a serem expostos na próxima seção.

1- Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB), 2002
Variável dependente:
* Índice de “rouba, mas faz”: constituído das variáveis descritas no Quadro 1. Foi atribuído valor 1 (um)
às opções de respostas que indicavam favorecimento da ideia de “rouba, mas faz” e valor 0 (zero) para
as demais. A partir daí, foi feita uma soma entre as variáveis, resultando na formação de outra, que
contém valores de 0 a 4. Após isso, criou-se o índice, uma variável de tipo qualitativa ordinal, onde o
valor zero corresponde a “nenhuma aceitação”, os valores 1 e 2 indicam “moderada aceitação” e os
valores 3 e 4 expressam “forte aceitação” à ideia de “rouba, mas faz”. A descrição da variável encontra-
se na Tabela 6:
Tabela 6
Índice de “rouba, mas faz” (2002)
Frequência Percentual Percentual válido
Nenhuma aceitação 886 35,3 37,7
Moderada aceitação 934 37,2 39,7
Forte aceitação 531 21,1 22,6
Total 2351 93,5 100
Valores ausentes 162 6,5
Total 2513 100
Fonte: “Estudo Eleitoral Brasileiro” (2002).
Variáveis independentes:
* Avaliações de atores e instituições representativas: congresso nacional, partidos políticos e governo
federal: avaliações negativa e regular/positiva;
* Características socioeconômicas e demográficas: a) sexo masculino e feminino; b) cor branca e demais;
c) faixas de idade: de 16 a 24; 25 a 34; de 35 a 45; de 46 a 59 e mais de 60 anos; d) renda familiar
mensal: até um salário mínimo; mais de um até cinco salários mínimos e mais de cinco salários
mínimos; e) faixas de níveis de instrução: analfabeto/ primário incompleto e completo; fundamental
incompleto/ completo; médio incompleto/ completo; superior incompleto ou mais e f) local de
residência: cidades do interior e capitais.
* Exposição a conteúdo midiático: a) consumo de televisão diário: não costuma assistir/ até 1 hora; de 2
a 3 horas e 4 horas ou mais.
* “Vencedores” / “perdedores”: Voto nas últimas eleições presidenciais: voto nos candidatos perdedores
e voto no candidato vencedor.
2- A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas, 2006
Variável dependente:
* Índice de “rouba, mas faz”: constituído das variáveis descritas no Quadro 1. Foi atribuído valor 1 (um)
às opções de respostas que indicavam favorecimento da ideia de “rouba, mas faz” e valor 0 (zero) para
as demais. A partir daí, foi feita uma soma entre as variáveis, resultando na formação de outra, que
contém valores de 0 a 5. Como as frequências dos itens que expressam valor de 1 a 5 mostram-se
relativamente baixas (37,7%) para formar duas categorias - como feito na pesquisa de 2002 -, decidiu-se

pela junção de todos esses itens em uma única opção de resposta do índice, qual seja, “alguma
aceitação” à ideia de “rouba, mas faz”. Ao item com valor zero foi atribuída a designação “nenhuma
aceitação”. A descrição do índice de “rouba, mas faz” utilizado encontra-se na Tabela 7:
Tabela 7
Índice de “rouba, mas faz” com duas categorias (2006)
Frequência Percentual Percentual válido
Nenhuma aceitação 1237 61,7 62,3
Alguma aceitação 749 37,3 37,7
Total 1986 99 100
Valores ausentes 18 1,0
Total 2004 100
Fonte: “A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas” (2006).
Variáveis independentes:
* Confiança em atores e instituições representativas: congresso nacional, partidos políticos, governo
federal e Presidente da República: pouca/ nenhuma e alguma/ muita;
* Avaliações de atores e instituições representativas: congresso nacional, partidos políticos, governo
federal e Presidente da República: avaliações negativa e regular/positiva;
* Características socioeconômicas e demográficas: a) sexo masculino e feminino; b) cor branca e demais;
c) faixas de idade: de 16 a 24; 25 a 34; de 35 a 45; de 46 a 59 e mais de 60 anos; d) renda familiar
mensal: até um salário mínimo; mais de um até cinco salários mínimos e mais de cinco salários
mínimos; e) faixas de níveis de instrução: analfabeto/ primário incompleto e completo; fundamental
incompleto/ completo; médio incompleto/ completo; superior incompleto ou mais e f) local de
residência: cidades do interior e regiões metropolitanas/ capitais.
* Exposição a conteúdo midiático: a) consumo de televisão diário: não costuma assistir/ até 1 hora; de 2
a 3 horas e 4 horas ou mais e b) quantidade de dias na semana em que assiste Jornal Nacional: nenhum
dia/ até 1 dia; de 2 a 3 dias; 4 ou mais dias.
* “Vencedores” / “perdedores”: Voto nas últimas eleições presidenciais: voto nos candidatos perdedores
e voto no candidato vencedor.
Resultados
Para análise dos dados, foram realizados testes de regressão logística, onde se analisa a
associação entre cada variável independente com a dependente, tendo um conjunto de variáveis
independentes elencadas. Para o ano de 2002, foi aplicada a regressão logística multinomial e, para o
ano de 2006, a regressão logística binária. A leitura dos resultados nos dois casos ocorre em termos de
chances de sucesso e com dois valores de referência, expressos tanto nas categorias da variável
dependente (“moderada” ou “forte aceitação”, em referência a nenhuma aceitação para 2002 e “alguma
aceitação” em relação a nenhuma aceitação, em 2006) quanto nas variáveis independentes (a categoria
de resposta selecionada como valor de referência). Assim, o efeito percentual de qualquer variável
independente sempre deve ser relacionado: 1) à categoria de resposta da variável independente
selecionada como referência e 2) à categoria de resposta de referência da variável dependente, que é

sempre a que indica “nenhuma aceitação” ao ‘rouba, mas faz’”. A leitura dos dados é a mesma para
qualquer um dos dois tipos de regressão10.
Para cada ano foram construídos três modelos de análise. Isso ajuda a observar o quanto as
incorporações de variáveis independentes ao modelo inicial (1) aumentam a sua capacidade explicativa.
Para o ano de 2002 (Tabelas 8 e 9), foram construídos três modelos: o modelo 1 contém variáveis que
expressam características socioeconômicas e demográficas; o modelo 2 incorpora variáveis sobre
avaliações de instituições e atores representativos e o modelo 3 adiciona variáveis de exposição a
conteúdo midiático e “vencedores” e “perdedores” da eleição presidencial anterior. Para o ano de 2006
(Tabela 10), também são três modelos, mas o segundo contém, além das variáveis avaliativas, as de
confiança nas mesmas instituições e atores representativos, e no modelo 3 há a incorporação de uma
variável relativa à exposição a conteúdos midiáticos.
Referente aos dados do survey de 2002, observa-se que o teste que possui forte aceitação do
“rouba, mas faz” como categoria a ser explicada (Tabela 9) apresenta mais variáveis independentes
estatisticamente significantes. Também é possível perceber que, nas duas tabelas (8 e 9), quase todas
as variáveis que expressam características socioeconômicas e demográficas estão associadas de modo
estatisticamente significante com a variável a ser explicada (exceção para as que indicam sexo e local de
residência do entrevistado). As variáveis sobre níveis de instrução, em especial a categoria que indica
analfabetismo e primário incompleto ou completo, são as que contêm as maiores magnitudes
percentuais em relação - que, nesse caso, possui sentido positivo - com a variável dependente.
Dentre as variáveis que mensuram avaliações negativas de instituições e atores representativos,
apenas a relativa ao governo federal apresenta significância estatística, sempre em sentido negativo, isto
é, de diminuição de chances de se ter moderada ou forte aceitação da ideia de “rouba, mas faz”, em
comparação às avaliações regulares e positivas. Já as variáveis que indicam exposição a conteúdos
midiáticos e apontam os “vencedores” e “perdedores” da eleição presidencial anterior não aparecem
associadas de modo estatisticamente significante com a categoria a ser explicada nos dois casos em
análise.
Na leitura dos dados, mais dois aspectos merecem destaque: 1) nas situações em que a
mesma variável independente aparece associada de modo estatisticamente significante para explicar
moderada e forte aceitação à ideia de “rouba, mas faz”, a magnitude percentual é sempre maior no
segundo caso; 2) a incorporação de variáveis nos modelos sempre aumenta o valor de qui-quadrado para
além dos valores críticos mínimos, considerando os graus de liberdade e valor alfa de 0,05. Isso significa
que a incorporação das variáveis ajuda no aumento da capacidade explicativa11. Essa condição se mostra
10 Tomando como exemplo os resultados do modelo 1 da Tabela 8 para dados de 2002, observa-se que os entrevistados que
declaram ser da cor branca possuem menos 36,4% de chances do que os entrevistados que declaram ser das demais cores de
expressarem moderada aceitação da ideia de “rouba, mas faz”, ao invés de expressarem nenhuma aceitação à ideia. 11 Os valores de qui-quadrado concedem noção de capacidade explicativa do modelo estatístico. Essa noção sempre se dá de
modo comparativo, isto é, na comparação de um modelo com o outro. Em testes de regressão logística multinomial, deve-se
multiplicar o número de categorias da variável dependente postas em interação (neste caso, duas: moderada e forte aceitação do
“rouba, mas faz”) com o número de categorias das variáveis independentes inseridas num novo modelo. Com posse do resultado,
deve-se escolher um valor de alfa (o mais comum é 0,05) e consultar numa tabela de qui-quadrado o valor crítico
correspondente. Se a diferença de valores obtida da subtração de um modelo com mais variáveis com modelo com menos
variáveis for superior ao valor crítico observado na tabela, é possível concluir que a adição das variáveis ajuda a aumentar a

mais robusta no caso do modelo 2 em relação ao modelo 1, onde ocorre adição de variáveis sobre
avaliações de instituições.
Tabela 8 Teste de regressão logística multinomial tendo “moderada aceitação ao rouba, mas faz”
como categoria a ser explicada12 (2002)
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Variáveis independentes B P valor Efeito
(%)
B P valor Efeito
(%)
B P valor Efeito
(%)
Intercepto ,160 - ,262 - ,045
Masculino -,126 - - 11,9 ,130 - - 12,2 -,097 - - 9,2
Cor branca -,452 *** - 36,4 ,470 *** - 37,5 -,462 *** - 37
16 a 24 anos ,031 - 3,1 ,171 - 18,7 -,004 - - 0,4
25 a 34 anos ,115 - 12,2 ,290 - 33,6 ,421 * 52,3
35 a 44 anos ,065 - 6,7 ,201 - 22,3 ,350 - 42
45 a 59 anos -,101 - - 9,4 -,044 - - 4,3 ,068 - 7,1
Analfabetos e primário
incompleto/ completo
,704 *** 102,1 ,797 *** 121,8 ,882 *** 141,5
Fundamental
incompleto/ completo
,670 *** 95,4 ,725 *** 106,6 ,482 ** 62
Ensino médio incompleto/ completo
,282 - 32,5 ,339 * 40,3 ,266 - 30,5
Mais de 1 até 5 SM -,216 - - 19,4 ,-249 - - 22 -,187 - - 17,1
Mais de 5 SM -,526 *** - 40,9 -,580 * - 44 -,505 * - 39,6
Residente em capital ,105 - 11,1 ,122 - 13 ,287 ** 33,2
Avaliação governo
federal: negativa
-,503 *** - 39,5 -,579 *** - 44
Avaliação partidos políticos: negativa
,094 - 9,9 ,159 - 17,2
Avaliação congresso: negativa
-,043 - - 4,2 ,024 - 2,4
JN: nunca/ raramente/ 1 dia
,014 - 1,4
JN: de 2 a 3 dias -,028 - - 2,8
“Vencedores” ,027 - 2,8
Cox e Snell 0,100 0,128 0,149
R de Nagelkerke 0,114 0,145 0,170
Qui-quadrado 722,6 2016 2302
Fonte: Estudo Eleitoral Brasileiro (2002).
*** = p valor ≤ 0,01; ** = 0,01 < p valor ≤ 0,05; * = 0,05 < p valor ≤ 0,10.
capacidade explicativa do teste. No caso deste artigo, toda incorporação de variáveis nos modelos 2 e 3 das Tabelas 8 e 9 gera
uma diferença de valor de qui-quadrado superior ao mínimo a ser alcançado, segundo valores indicados na tabela de qui-
quadrado. Vários livros de estatística possuem a tabela de qui-quadrado, que também pode ser consultada no seguinte endereço
eletrônico: <http://www.ime.unicamp.br/~hlachos/TabelaQuiQuadrado.pdf>. Acesso em: 19 out. 2011. 12 Grupos de referência para cada variável independente: para sexo masculino, sexo feminino; para cor branca, demais cores;
para níveis de instrução, ensino superior ou mais; para faixas de idade, mais de 60 anos; para renda, até um salário mínimo
mensal; para residência; residir no interior; para avaliações, as regulares e positivas; para nível informacional, assistir Jornal
Nacional quatro ou mais dias na semana. Essas informações também são válidas para a leitura dos dados da Tabela 9.

Tabela 9
Teste de regressão logística multinomial tendo “forte aceitação ao rouba, mas faz”
como categoria a ser explicada (2002)
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Variáveis independentes B P valor
Efeito (%)
B P valor Efeito
(%) B P valor
Efeito (%)
Intercepto -1,2 *** -,986 ** -1,45 ***
Masculino -,197 - - 17,9 -,173 - - 15,9 -,236 - - 21
Cor branca -,624 *** - 46,4 -,663 *** - 48,5 -,823 *** -56,1
16 a 24 anos ,457 * 57,9 ,592 ** 80,7 ,685 * 98,3
25 a 34 anos ,365 - 44 ,516 * 67,5 ,769 ** 115,7
35 a 44 anos ,192 - 21,2 ,297 - 34,5 ,419 - 52
45 a 59 anos ,149 - 16,1 ,306 - 35,8 ,521 * 68,4
Analfabetos e primário
incompleto/ completo
1,70 *** 451,9 1,68 *** 435,7 1,98 *** 626,6
Fundamental incompleto/
completo
1,60 *** 395,8 1,54 *** 365 1,58 *** 385,3
Ensino médio incompleto/
completo
,844 *** 132,5 ,744 ** 110,3 ,827 ** 128,6
Mais de 1 até 5 SM -,287 - - 25 -,316 - - 27,1 -,308 - - 26,9
Mais de 5 SM -,834 *** - 56,6 -,930 *** - 60,5 -,720 ** - 51,3
Residente em capital
,017 - 1,7 ,032 - 3,2 ,157 - 17
Avaliação governo
federal: negativa
-,544 *** - 42 -,631 *** - 46,8
Avaliação partidos
políticos: negativa
,198 - 21,9 ,189 - 20,8
Avaliação congresso: negativa
-,152 - - 14,1 -,175 - - 16,1
JN: nunca/ raramente/ 1 dia
,116 - 12,3
JN: de 2 a 3 dias ,118 - 12,5
“Vencedores” ,174 - 19,1
Cox e Snell 0,100 0,128 0,149
R de Nagelkerke 0,114 0,145 0,170
Qui-quadrado 722,6 2016 2302
Fonte: Estudo Eleitoral Brasileiro (2002).
*** = p valor ≤ 0,01; ** = 0,01 < p valor ≤ 0,05; * = 0,05 < p valor ≤ 0,10.
Os resultados das regressões aplicadas aos dados de 2006 (Tabela 10) apresentam muitas
semelhanças em relação aos resultados obtidos com os dados de 2002. Observam-se associações de
mesmo sentido nos dois anos para as variáveis independentes que expressam cor, idade, escolaridade e
renda dos cidadãos entrevistados. As diferenças ficaram restritas às relações das variáveis de cunho

avaliativo. Dentre os três casos que podem ser comparados (não há avaliação de presidente nos dados
de 2002), em dois deles o sentido da associação com a variável dependente é oposto - congresso
nacional e governo federal, que possuem relação de sentido negativo em 2002 e positivo em 2006 com
aceitações da ideia de “rouba, mas faz” - e em apenas um há compatibilidade - relação de sentido
positivo para partidos políticos. Quanto à frequência de acesso a informações noticiadas pelo Jornal
Nacional, nos dois anos, predominam as associações positivas dos indicadores de menor frequência com
a variável dependente, porém, para o ano de 2002, as relações não são estatisticamente significantes.
Por fim, cabe enfatizar a dificuldade de se indicar qualquer tendência de relação entre variáveis relativas
à confiança e aceitação da ideia de “rouba, mas faz”. Em duas das quatro variáveis - desconfiança no
congresso nacional e no Presidente, por sinal, a única estatisticamente significante - a associação se dá
em direção negativa e, nas demais - confiança em partidos políticos e governo federal - ocorrem
associações positivas.
Os dados para 2006 também apontam incremento no valor do qui-quadrado em cada modelo
adicionado, o que indica aumento de capacidade explicativa. Comparativamente, a magnitude do
aumento dos valores se dá de modo mais equilibrado que no ano de 2002. Nesse ano, a adição de
valores do qui-quadrado é muito mais robusta do modelo inicial em relação ao modelo que incorpora
variáveis avaliativas do que deste modelo para o que possui variáveis sobre informação política. Já em
2006, verificam-se aumentos de valores em patamares semelhantes: aumento de 140,45% do modelo 1
para o modelo 2 e de 127,42% do modelo 2 para o modelo 3. Esses aumentos são significativos, uma
vez que ultrapassam os valores críticos de qui-quadrado para o número de categorias das variáveis
independentes inseridas13.
13 Como já descrito na nota 11, os valores de qui-quadrado concedem a noção de capacidade explicativa do modelo estatístico,
noção essa que sempre se dá na comparação de um modelo com o outro. Em testes de regressão logística binária, deve-se
multiplicar o número de categorias das variáveis independentes inseridas em um modelo por 3,84, o que gera o valor crítico do
qui-quadrado. Em seguida, faz-se uma subtração do valor do qui-quadrado do modelo mais completo com o valor do modelo
inicial. Se o valor resultante da subtração for superior ao do qui-quadrado crítico, há a indicação de que o modelo com mais
variáveis tem maior capacidade explicativa do que o modelo inicial.

Tabela 10 Teste de regressão logística binária tendo “alguma aceitação ao rouba, mas faz”
como categoria a ser explicada14 (2006)
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Variáveis independentes
B P valor Efeito
(%) B P valor
Efeito (%)
B P valor Efeito
(%)
Intercepto -,894 ** -59,1 -,751 * -52,8 -,807 * -55,4
Masculino ,147 - 15,9 ,144 - 15,5 ,306 ** 35,8
Cor branca -,316 ** -27,1 -,302 ** -26,1 -,289 * -25,1
16 a 24 anos ,420 * 52,2 ,506 * 65,8 ,498 - 64,6
25 a 34 anos ,203 - 22,5 ,250 - 28,4 ,320 - 37,8
35 a 44 anos ,115 - 12,2 ,170 - 18,5 ,193 - 21,3
45 a 59 anos -,137 - -12,8 -,090 - -8,6 -,023 - -2,2
Analfabetos e primário
incompleto/ completo ,713 ** 104 ,694 ** 100 ,632 * 88
Fundamental incompleto/ completo
,497 * 64,4 ,426 - 53,1 ,461 - 58,6
Ensino médio
incompleto/ completo ,246 - 27,9 ,221 - 24,7 ,169 - 18,4
Mais de 1 até 5 SM -,303 * -26,1 -,258 - -22,7 -,359 ** -30,2
Mais de 5 SM -,414 - -33,9 -,333 - -28,3 -,361 - -30,3
Residente em capital e RM´s
,183 - 20,1 ,063 - 6,5 -,107 - -10,2
Avaliação congresso:
negativa ,193 - 21,3 ,174 - 19
Avaliação partidos
políticos: negativa ,095 - 9,9 ,166 - 18,1
Avaliação governo: negativa
,020 - 2 ,045 - 4,6
Avaliação presidente: negativa
-,407 ** -33,4 -,598 *** -45
Desconfiança congresso nacional
-,219 - -19,6 -,282 - -24,5
Desconfiança partidos
políticos ,043 - 4,4 ,006 - 0,6
Desconfiança governo ,330 - 39,1 ,331 - 39,2
Desconfiança presidente
-,438 ** -35,5 -,531 ** -41,2
JN: nunca/ raramente/ 1 dia
,515 ** 67,3
JN: de 2 a 3 dias ,329 * 39
Consumo diário de TV:
nada até 1h -,029 - -2,8
Consumo diário de TV:
de 2h a 3h ,126 - 13,5
“Vencedores” -,127 - -12
Cox e Snell 0,033 0,047 0,068
R de Nagelkerke 0,045 0,064 0,093
Qui-quadrado 35,62 50,03 63,75
Fonte: A Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas (2006).
*** = p valor ≤ 0,01; ** = 0,01 < p valor ≤ 0,05; * = 0,05 < p valor ≤ 0,10.
14 Grupos de referência para cada variável independente: para sexo masculino, sexo feminino; para cor branca, demais cores;
para níveis de instrução, ensino superior ou mais; para faixas de idade, mais de 60 anos; para renda, até um salário mínimo
mensal; para residência; residir no interior; para avaliações, as regulares e positivas; para nível informacional, assistir Jornal
Nacional quatro ou mais dias na semana e consumo diário de TV igual ou maior a quatro horas diárias e, para variáveis de
desconfiança, ter alguma confiança em cada instituição analisada.

Considerações Finais
Após a exposição dos resultados, cabe verificar quais hipóteses são refutadas e corroboradas.
Em relação à desconfiança de atores e instituições representativas, tem-se um cenário confuso, uma vez
que somente uma das variáveis - desconfiança em Presidente - aparece associada de modo
estatisticamente significante, em sentido negativo, com “alguma aceitação ao rouba, mas faz”. Ademais,
não há padrão no sentido das associações das quatro variáveis indicadoras, com duas delas
apresentando associação negativa e duas delas associações positivas. Desse modo, torna-se difícil tecer
considerações sobre a hipótese, sendo mais prudente realizar um estudo posterior com dados de
variados anos para tentar chegar a resultados mais esclarecedores. O cenário é parecido para as
variáveis de avaliações de atores e instituições representativas. Do mesmo modo, não há padrão no
sentido das associações e sequer a maioria das variáveis possui relação estatisticamente significante
com a variável dependente, nos dois anos pesquisados. Sendo assim, as respostas para as três primeiras
hipóteses elaboradas ficam em aberto.
Apesar de resultados discrepantes e confusos, não se pode prescindir dessas variáveis caso se
queira buscar explicações para as considerações positivas à ideia de “rouba, mas faz”. A adição delas
nos modelos de análise sempre gera fortes aumentos dos valores de qui-quadrado, indicando que as
suas incorporações ajudam no aumento de capacidade explicativa dos testes de regressão aplicados.
A relevância explicativa das condições socioeconômicas e demográficas apresenta-se muito
semelhante nos dois surveys. Neles, pode-se observar que os cidadãos brancos e com maiores rendas
familiares estão associados negativamente com a aceitação da ideia de “rouba, mas faz”; já os mais
jovens e os menos escolarizados encontram-se em situação oposta. Assim, pode-se afirmar que as
hipóteses três, quatro e cinco são corroboradas.
No que concerne às variáveis de exposição a conteúdo midiático e “vencedores” e “perdedores”
da eleição presidencial anterior, observa-se que a inserção delas no modelo gera aumento de valor de
qui-quadrado em magnitude muito inferior ao acréscimo proporcionado pela inserção de variáveis
avaliativas no ano de 2002. O cenário é um pouco distinto em 2006, uma vez que as incorporações de
variáveis nos modelos 2 e 3 ocasionam aumentos de valores de qui-quadrado em patamares parecidos.
Somente no ano de 2006 aparecem associações estatisticamente significantes de variáveis sobre
exposição a conteúdo midiático com a ideia de “rouba, mas faz”, indicando que os cidadãos que menos
acessam notícias veiculadas pelo Jornal Nacional são os mais simpáticos à sua aceitação. A relação
entre essas variáveis apresenta a mesma direção nos dados de 2002, mas sem significância estatística.
Os resultados sustentam as considerações presentes na hipótese seis.
Por último, não se observa qualquer relação estatisticamente significante entre “vencedores”
das eleições presidenciais anteriores às aplicações das pesquisas de opinião e aceitação do “rouba, mas
faz”, tampouco padrão no sentido das associações: em 2002, elas ocorrem de modo positivo e, em
2006, de modo negativo. Assim, não se tem evidências para corroborar ou refutar a hipótese sete.
Os principais achados do artigo são dois. Primeiramente, a verificação de amplo rechaço à
aceitação da ideia de “rouba, mas faz”. Em todos os indicadores que formam os índices em ambos os

anos, há forte predominância de discordância com as afirmações lenientes com a ideia do “rouba, mas
faz”. Em segundo lugar, há a indicação da relevância explicativa de variáveis avaliativas e de confiança
em relação a atores e instituições representativas. A despeito da dificuldade de se observar alguma
tendência associativa, é facilmente identificável que a incorporação dessas variáveis ajuda a elevar a
capacidade explicativa do modelo de análise empírica. Talvez a solução para o problema passe por uma
reformulação na inserção dessas variáveis no teste, com a utilização de índices ao invés das variáveis
desmembradas, tal como ocorreu. Outra possível solução, quiçá a mais eficiente, é a realização de uma
análise empírica longitudinal mais ampla, com surveys abrangendo períodos mais longos. Essa proposta
esbarra, porém, na limitação dos questionários dos surveys disponíveis, que ou não comportam variáveis
sobre “rouba, mas faz” (o que se deseja explicar) ou deixam de fora as variáveis sobre confiança e/ ou
avaliações de instituições e atores representativos. Por fim, há de ser enfatizado o fortalecimento de
argumentos tradicionais relacionados à área de Sociologia Política, de que aspectos socioeconômicos e
demográficos são importantes para se entender as orientações políticas individuais. Neste artigo, há
indicação de que maiores níveis de renda e instrução estão associados negativamente a aceitação do
“rouba, mas faz”.
Referências Bibliográficas
AIDT, T. “Economic analysis of corruption: a survey”. The Economic Journal, vol. 113, nº 491, 2003.
ALDÉ, A. A construção da política: democracia, cidadania e meios de comunicação de massa. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
ALMEIDA, A. A cabeça do brasileiro. São Paulo: Record, 2007.
ANDERSON, C.; GUILLORY, C. “Political institutions and satisfaction with democracy: a cross-national analysis of consensus
and majoritarian systems”. The American Political Science Review, vol. 91, nº 1, 1997.
ANDERSON, C.; LOTEMPIO, A. “Winning, losing and political trust in America”. British Journal of Political Science, vol. 32,
2002.
CAPPELLA, J.; JAMIESON, K. Spiral of cynicism: the press and the public good. New York: Oxford University Press, 1997.
CASTRO, M. “O comportamento eleitoral no Brasil: diagnóstico e interpretações”. Teoria e Sociedade, nº 1, 1997.
COSTELLO, A.; OSBORNE, J. “Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from
your analysis”. Practical Assessment, Research and Evaluation, vol. 10, nº 7, 2005.
CRONBACH, L. “Coefficient alpha and the internal structure of tests”. Psychometrika, vol. 16, nº 3, 1951.
DELLA-PORTA, D. Social capital, beliefs in government and political corruption. In: PHARR, S.; PUTNAM, R. (Eds.). Disaffected
democracies. Princeton: Princeton University Press, 2000.
DIAMOND, L.; MORLINO, L. “The quality of democracy: an overview”. Journal of Democracy, vol. 15, nº 3, 2004.
_________. Assessing the Quality of Democracy: Theory and Empirical Analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2005.
DOIG, A.; MCIVOR, S. “Corruption and its control in the developmental context: an analysis and selective review of the
literature”. Third World Quarterly, vol. 20, n° 3, 1999.
EASTON, D. A system analysis of political life. New York: Wiley, 1965.

FIALHO, F. M. “Vicissitudes de uma análise de survey à brasileira”. Resenha de ALMEIDA, A. C. A cabeça do brasileiro. Rio
de Janeiro: Record, 2007. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 23, nº 66, 2008.
GOFFMAN, E. Frame analysis: an essay of the organization of experience. Boston: Northeastern University Press, 1986.
HUNTINGTON, S. Political order in changing societies. New Haven: Yale University Press, 1968.
_________. A terceira onda: a democratização no final do século XX. São Paulo: Ática, 1994.
INGLEHART, R. Culture shift in advanced societies. Princeton: Princeton University Press, 1990.
IYENGAR, S.; KINDER, D. News that matters. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
KEY, V. Southern politics in state and nation. New York: Vintage Books, 1949.
KIM, J.; MUELLER, C. Factor analysis: statistical methods and practical issues. Beverly Hills: Sage Publications, 1978.
KLITGAARD, R. Controlling Corruption. Los Angeles: University of California Press, 1988.
LAZARSFELD, P.; BERELSON, B.; GAUDET, H. The People’s Choice: how to voter makes up his mind in a presidential campaign.
New York: Columbia University Press, 1948.
LEYS, C. What are the problems about corruption? In: HEIDENHEIMER, A.; JOHNSTON, M.; LEVINE, V. (Eds.). Political corruption:
a handbook. New Brunswick: Transaction, 1989.
MAURO, P. “Corruption and growth”. Quarterly Journal of Economics, vol. 110, n° 3, 1995.
MERTON, R. Social theory and social structures. New York: Free Press, 1957.
MESQUITA, N. C. “Mídia e democracia no Brasil: Jornal Nacional, Crise Política e Confiança nas Instituições”. São Paulo.
Tese de Doutorado em Ciência Política. FFLCH-USP, 2008.
MOISÉS, J. A confiança e seus efeitos sobre as instituições democráticas. In: MOISÉS, J. (Org.). Democracia e confiança: por
que os cidadãos desconfiam das instituições públicas? São Paulo: Edusp, 2010.
_________.; CARNEIRO, G. “Democracia, desconfiança política e insatisfação com o regime: o caso do Brasil”. Opinião
Pública, vol. 14, nº 1, 2008.
_________. Democracia, desconfiança política e insatisfação com o regime: o caso do Brasil. In: MOISÉS, J. (Org.).
Democracia e confiança: por que os cidadãos desconfiam das instituições públicas? São Paulo: Edusp, 2010.
NEWTON, K. “Mass media effects: mobilization or media malaise?” British Journal of Political Science, vol. 29, no 4, 1999.
NORRIS, P. “Does television erodes social capital? A reply to Putnam”. PS: Political Science & Politics, vol. 29, no 3, 1996.
_________. Institutional explanation for political support. In: NORRIS, P. (Org.). Critical citizens: global support for
democratic government. New York: Oxford University Press, 1999.
_________. A Virtuous Circle: Political Communications in Post-Industrial Democracies. Cambridge: Cambridge University Press,
2000.
NYE, J. “Corruption and political development: a cost-benefit analysis”. American Political Science Review, vol. 61, nº 2,
1967.
OFFE, C. How can we trust our fellow citizens? In: WARREN, M. (Org.). Democracy and trust. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.
PATTERSON, T. Out of order. New York: Vintage Books, 1993.
PUTNAM, R. “Tuning in, Tuning out: the strange disappearance of social capital in America”. PS: Political Science & Politics, vol. 27,
no 4, 1995.
________. Bowling alone: the collapse and revival of american community. New York: Simon and Schuster, 2001.

RENNÓ, L. “Escândalos e voto: as eleições presidenciais de 2006”. Opinião Pública, vol.13, nº 2, 2007.
ROBINSON, M. “Public affairs television and the growth of political malaise: the case of 'The selling of pentagon'”. American
Political Science Review, no 70, 1976.
ROSE-ACKERMAN, S. Corruption and government: causes, consequences and reform. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999.
SCHLEGEL, R. “Mídia, Confiança Política e Mobilização”. São Paulo. Dissertação de Mestrado em Ciência Política. FFLCH-
USP, 2005.
SELIGSON, M. “The impact of corruption on regime legitimacy: a comparative study of four Latin American countries”.
Journal of Politics, vol. 64, nº 2, 2002.
SHLEIFER; A.; VISHNY, R. “Corruption”. The Quarterly Journal of Economics, vol. 108, nº 3, 1993.
_________. “Stock market driven acquisitions”. Journal of Financial Economics, vol. 70, n° 3, 2003.
TULLOCK, G. “The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft”. Western Economic Journal, nº 5, 1967.
TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. “Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty”. Journal of Risk and
Uncertainty, vol. 5, 1992.
WATERBURY, J. “Corruption, political stability and development: comparative evidence from Egypt and Morocco”.
Government and Opposition, vol. 11, n° 4, 1976.
WINTERS, M.; WEITZ-SHAPIRO, R. “’Rouba, mas faz’ or not? Exploring voter attitudes toward corruption in Brazil”. Trabalho
apresentado no Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington D.C, 2010.
WRAITH, R.; SIMPKINS, E. Corruption in Developing Countries. Londres: Allen and Unwin, 1963.
Robert Bonifácio - [email protected]
Submetido à publicação em novembro de 2011.
Aprovado para publicação em janeiro de 2012.

Ana Lúcia Henrique Doutoranda em Sociologia
Universidade Federal de Goiás
Resumo: Há uma crise mundial de credibilidade do Poder Legislativo. Para a literatura culturalista, ela decorre principalmente da
reprovação ao desempenho dos representantes e da ausência de “responsividade” das instituições às demandas de cidadãos
cada vez mais escolarizados, exigentes e críticos. Nesta perspectiva, o conhecimento do papel institucional é determinante para
a cidadania ativa e para a qualidade do regime e as ações de educomunicação podem aumentar o conhecimento, a familiaridade
e a confiabilidade das instituições. O artigo analisa as orientações dos visitantes ao Congresso Nacional para avaliar o impacto de
programas de visitação na percepção institucional e, por esta via, na qualidade do regime. As conclusões abrem novas
perspectivas sobre o papel do Legislativo como educador para a cidadania pela análise das percepções sobre o desempenho dos
parlamentares, a adesão à democracia e a confiança política, em amostras antes e depois da visita.
Palavras-chaves: confiança política; cidadania; turismo cívico; qualidade da democracia
Abstract: Confidence in legislatures is at low ebb. For literature, it derives from Congressional job disapproval due to lack of
responsiveness to the demands of citizens more educated, thus, more critical. In this perspective, knowledge of the institution’s
role is important to active citizenship and actions of edu-communication may be relevant to increase familiarity. The article
examines the perceptions and orientations among visitors to the Brazilian National Congress to assess familiarization visits as
tools for improving legislatures’ reputation, therefore enhancing the quality of democracy. It reveals new perspectives to the
legislatures’ role on civic education through the analyses of visitor’ orientations on specific congressmen’s performance
assessment and diffuse political support.
Keywords: political trust; citizenship; civic tourism; quality of democracy

Introdução1
Lijphart (2003, p. 70) estabelece um mínimo de 20 anos ininterruptos de observação dos oito
requisitos propostos por Dahl (1997, p. 27) para que um sistema político seja considerado democrático.
Assim, vencido o período de “estágio probatório” do regime iniciado com a eleição direta do primeiro
presidente civil, em 1989, o Brasil parece ter abandonado o rol das democracias “instáveis” para ser
hoje considerado não só um país democrático pela Freedom House2, como também uma das quatro
maiores democracias do mundo em número de eleitores. Certamente, por este fato, associado ao
verdadeiro “tsunami democrático” que vem “assolando” o mundo desde o fim do século XX (HUNTINGTON,
1991), a estabilidade da democracia brasileira deixou de ser tema central do debate da Ciência Política,
que hoje se debruça sobre a legitimidade e a qualidade do regime (DIAMOND; MORLINO, 2005). A questão é
particularmente importante em novas democracias (LINZ; STEPAN, 1996; MERKEL, 2004), como o Brasil,
onde o chamado déficit democrático pode incidir em prejuízo para a participação cidadã, a consolidação
dos direitos, o progresso (HARRISON; HUNTINGTON, 2000), a redução de desigualdades e a governança
democrática (NORRIS, 2011; 2012).
Paradoxalmente, neste mesmo período, sete entre dez brasileiros, em média, desconfiam do
Congresso Nacional, instituição central da democracia (HENRIQUE, 2009). A queda dos índices de
confiança nas instituições legislativas não é prerrogativa brasileira. É fenômeno que atinge poliarquias
modelares (DALTON, 2004) e novas democracias (MOISÉS, 2010). O ceticismo em relação às instituições
democráticas centrais, no entanto, é visto com preocupação pela literatura culturalista, que tem como
obra seminal a Cultura Cívica de Almond e Verba (1963), por suas consequências para a formação do
capital social - principal elo entre a confiança e a qualidade da democracia (PUTNAM, 1993; 1995; 2000),
e para a participação cidadã, fundamental para um regime que se pretende inclusivo e responsivo (DAHL,
1997; DIAMOND; MORLINO, 2005). Segundo Powell (2005):
“A responsividade ocorre quando o processo democrático induz o governo a formar e
implementar políticas públicas que os cidadãos desejam. Uma democracia é considerada
de alta qualidade quando o processo cumpre este papel consistentemente” 3 (POWELL,
2005, p. 62).
Nesta perspectiva, a confiança social e a confiança em instituições democráticas aparecem
entre os valores centrais para a qualidade da democracia, enquanto parte de uma cultura cívica, ou seja,
“uma distribuição particular de padrões de orientação com relação a objetos políticos entre os membros
1 A autora é bolsista da FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás), professora e pesquisadora do Centro de
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (CEFOR). Lattes:
http://lattes.cnpq.br/8090637859440030. Este artigo deriva de trabalho do Grupo de Pesquisa (GPE) “Comunicação Política e
Qualidade da Democracia - Opinião pública, confiança e adesão social ao Poder Legislativo” do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (CEFOR). Agradeço ao professor José Álvaro Moisés (USP), pela consultoria ao
projeto e ao coordenador do GPE, João Luiz Marciano, pela ajuda na elaboração da amostra, questionário e primeiras análises
estatísticas. Agradeço ainda à colaboração e ao empenho da equipe do Serviço de Visitação da Coordenação de Relações
Públicas da Câmara dos Deputados. Agradeço também a Vivian Rodrigues de Oliveira pela tabulação dos dados e a Ricardo
Braga pela revisão. O trabalho contou com a valiosa ajuda de Lizie Câmara Moita de Andrade (Mestranda em Ciência Política
IESP-UERJ) na elaboração dos inúmeros cálculos, quadros e regressões estatísticas. A ela, um agradecimento mais do que
especial. Sem ela, este artigo, certamente, não teria sido possível. 2 O Brasil tem índice 2, em uma escala decrescente de 7 a 1. Disponível em: <http://www.freedomhouse.org/regions/americas>.
Acesso em: 23 set. 2012. 3 Tradução livre da autora do original em inglês.

de uma nação”, internalizada pelo aprendizado (dimensão cognitiva), pelo sentimento (dimensão afetiva)
e pelas opiniões (dimensão avaliativa), forjadas pela informação disponível (ALMOND; VERBA, 1963,
p. 13-14).
Assim, embora a confiança (trust) e a familiaridade sejam valores distintos, a confiabilidade e a
segurança (confidence) advêm de um mundo conhecido4. As condições de familiaridade e seus limites
não podem ser negligenciados quando da análise das condições de confiança (trust) (LUHMANN, 2000,
p. 1), portanto. Não por acaso, o programa de visitas monitoradas da Câmara dos Deputados compõe as
ações de educação cívica da instituição5 cuja folheteria convida os visitantes a conhecer a “casa de todos
os brasileiros” com o slogan “pode entrar, que a casa é sua”.
A desconfiança chama particularmente a atenção da literatura quando assume caráter difuso
(EASTON, 1965b) em democracias em consolidação (PUHLE, 2005; LINZ; STEPAN, 1996; MERKEL, 2004),
onde a falta de uma cultura cívica basilar para a cidadania ativa pode importar no mau funcionamento
das instituições democráticas, pela baixa accountability societal (PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2006) e o
agravamento das desigualdades sociais (LAGOS, 2001).
Nem toda desconfiança, no entanto, é considerada perniciosa ao regime democrático. A
desconfiança política assume perspectiva positiva quando revela a emergência de “cidadãos críticos”
(NORRIS, 1999; 2009; 2011; INGLEHART, 1999), ou “democratas insatisfeitos” (DAHL, 2000), mais
escolarizados, bem informados e exigentes, que, egressos do mundo das necessidades (INGLEHART,
1988), aderem à democracia de forma difusa, ao mesmo tempo em que confirmam sua opção pelos
princípios democráticos - pelo menos enquanto melhores do que os princípios de qualquer outro regime
conhecido -, e criticam o desempenho institucional em caráter específico (EASTON, 1965a; 1965b), por
exigirem maior atuação e melhor desempenho dos atores institucionais. Nesta dimensão, a queda dos
índices de confiança nas assembleias (legislatures), ao contrário, pode indicar um potencial aumento da
participação cidadã e da accountability vertical e societal (PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2006), como reflexo de
uma cidadania autoconfiante (ALMOND; VERBA, 1963) e politicamente eficaz (LAGOS, 2001), fundamental
para a democracia nas chaves representativa e participativa.
A literatura concorrente à do capital social, por sua vez, atribui a constante desconfiança no
Congresso Nacional à frustração de expectativas com relação ao desempenho da instituição, avaliado
pela atuação dos parlamentares, frequentemente envolvidos em denúncias de corrupção e escândalos de
grande repercussão na mídia (DELLA PORTA, 2000; PHARR, 2000; POWER; JAMISON, 2005), marcada por um
“forte viés anti-institucional” (PORTO, 1996). Seja como for, nas duas perspectivas, a confiança e a
desconfiança nas instituições advêm do confronto do desempenho com o papel esperado das mesmas,
ou seja, do conhecimento indutivo, obtido pela escolarização, pela informação e pela experiência
democrática (OFFE, 1999; MOISÉS, 2010), nesta literatura.
No Brasil, também observamos uma melhoria dos índices sociais, relacionada a uma cidadania
mais crítica (HENRIQUE, 2009; 2010b; 2011), e aumento da adesão à democracia (MOISÉS, 2010;
MENEGUELLO, 2010), fundamentando um déficit democrático positivo (NORRIS, 2011). Os dados do IBGE
4 Para uma discussão sobre as diferentes acepções e versões do conceito de confiança na literatura da cultura cívica, ver
Henrique (2009). 5 “Contribuir para o exercício da Cidadania e para o fortalecimento da democracia representativa” é um dos papéis institucionais
constantes do Mapa Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados.

mostram que o rendimento médio dos brasileiros que têm ao menos um trabalho remunerado vem
aumentado nos últimos anos e as taxas de escolarização chegam a 97,6% na faixa entre 6 e 14 anos
(PNAD, 2009). A adesão ao regime democrático também cresceu 21 pontos percentuais entre 1989 e
2006, chegando ao patamar de 65% (MENEGUELLO, 2007), mas a preferência democrática (na
perspectiva churchilliana) apresenta características específicas, como a ambivalência (MOISÉS, op. cit.) e
a valorização da dimensão eleitoral e do voto como forma de accountability vertical e de intervenção na
política (MENEGUELLO, 2010). Estaria, no Brasil, o aumento da desconfiança no Legislativo atrelado a uma
exigente e rigorosa avaliação do desempenho parlamentar por cidadãos mais escolarizados e com maior
renda como ocorre nas democracias de onde a literatura provém? Para responder a esta pergunta, é
preciso saber o quê o cidadão brasileiro entende como missão do Congresso Nacional e do parlamentar
e quais parâmetros ou meios utiliza para avaliar o desempenho - ou seja, como avalia a instituição,
pergunta normalmente relevada pelas pesquisas. O survey que fundamenta o presente artigo, ao incluir
estas duas dimensões no questionário, pretende preencher esta lacuna.
Como ponto de partida da análise, a pesquisa se debruça sobre um paradoxo instigante: a
constatação de que ao mesmo tempo em que o Congresso Nacional permanece entre as instituições
menos confiáveis e mais criticadas pela opinião pública, o número de participantes do programa de
visitas monitoradas ao Congresso Nacional cresce anualmente: 30,87% de 20046 a 2009 (ano de início
do survey). O que faz com que quase 180 mil pessoas (dados de 2009) procurem uma instituição que
reprovam tão fortemente? Até que ponto os escândalos têm um efeito colateral interessante ao aguçar a
“curiosidade” do cidadão sobre a instituição que o representa? Seria a procura decorrente apenas do
aumento do turismo nacionalmente?
A Secretaria de Turismo não dispõe de uma série histórica do número de turistas que
procuraram o Distrito Federal no mesmo período. Já que o público da pesquisa é o turista brasileiro,
uma boa proxy pode ser o número de desembarques nacionais de passageiros no aeroporto de Brasília,
que subiu 10,21% entre 2004 e 2009, de acordo com dados do Ministério do Turismo7. Já se tomarmos
por base a movimentação (embarques e desembarques) de voos domésticos no período, o aumento é de
21,78%, de acordo com a Infraero8. Com base nestes dados, podemos inferir que a procura pela visita
ao Congresso Nacional aumentou em proporção maior do que o turismo em Brasília. Não há como
mensurar os reais motivos da procura. A multidimensionalidade do fenômeno dificulta a determinação
da variável independente, mas a aplicação de survey entre os visitantes do Congresso Nacional pode ao
menos começar a decifrar o “enigma” ao captar as orientações daqueles que cada vez mais “batem à
porta” de uma instituição que, como se diz popularmente, só “apanha” da opinião pública brasileira.
Este tipo de sondagem é bastante frequente em estudos de Mercadologia, de Administração e
de Comunicação, que investigam a percepção da qualidade do produto/serviço e o grau de satisfação do
cliente. Há também trabalhos que analisam os programas de visitação na área do Turismo ou, no caso
6 Em abril de 2004, a visitação, feita até então separadamente no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, foi unificada. Por
isso, 2004 foi escolhido como marco da série histórica de visitantes. 7 Em 2004, 5.344.474 passageiros desembarcaram em voos domésticos no Aeroporto Juscelino Kubitschek. Em 2009, este
número subiu para 5.890.166. Fonte: Anuário Estatístico Embratur, volumes 32 e 37. 8 O número de passageiros em voos domésticos no Aeroporto Internacional de Brasília foi de 9.900.520, em 2004. Em 2009,
este número subiu para 12.056.606. Fonte: Movimento Operacional Acumulado da Rede Infraero. Disponível em:
<http://www.infraero.gov.br/index.php/br/estatistica-dos-aeroportos.html>. Acesso em: 11 ago. 2013.

do Congresso Nacional, do Turismo Cívico. Em se tratando de uma instituição central para a democracia,
no entanto, a “satisfação do cliente” sai da arena da simples opinião pública, migrando para a seara da
educação cívica como fator relevante para a qualidade da democracia. Em outras palavras, adentra
conteúdos da Ciência Política.
Viu-se que, na abordagem culturalista, o conhecimento do papel institucional, assim como o
estabelecimento de laços afetivos com as instituições importam para a formação de uma cultura cívica e,
por esta via, para a qualidade da democracia (HENRIQUE, 2010a). Nesta perspectiva, as orientações
reveladoras da cultura política, por sua vez, são “captadas” por surveys entre os cidadãos (ALMOND;
VERBA, 1963). A pesquisa entre os visitantes do Congresso Nacional ancora-se, portanto, nesta literatura.
Até que ponto o conhecimento das dependências do Palácio do Congresso Nacional, o contato
físico, a familiaridade com o local de trabalho do representante e o acesso à informação sobre o
processo legislativo e sobre o funcionamento da instituição, disponibilizado pela visita, influenciam a
percepção da mesma pelo cidadão? Há carência de estudos sobre os programas de visitação como
ferramentas de educação para a democracia. Neste artigo, a análise das percepções e orientações dos
visitantes teve como objetivo preencher esta lacuna da literatura da Ciência Política.
O Programa de Visitas Monitoradas ao Congresso Nacional
Fruto de uma parceria entre as coordenações de Relações Públicas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, o “Visite o Congresso” é um programa de visitas monitoradas para turistas
estrangeiros, brasileiros, estudantes de todos os níveis de ensino, além de grupos organizados. As visitas
partem do Salão Negro do Congresso Nacional, de meia em meia hora, das 9h30 às 17h, todos os dias,
inclusive nos finais de semana. O objetivo do programa é a educação cívica, a promoção da participação
ativa do cidadão, a melhoria da imagem e da percepção de desempenho da instituição e, por esta via, da
qualidade e legitimidade do regime. Para tanto, os visitantes recebem informação sobre a organização
política brasileira, o processo legislativo e as formas de participação e de interação com o Legislativo,
além de dados sobre a arquitetura e as obras de arte dispostas no Palácio do Congresso Nacional.
Mais de 135 mil pessoas participaram do programa “Visite o Congresso” em 2004, número
que subiu para 145.208 em 2005 - ano marcado por recordes em reprovação ao desempenho dos
parlamentares na esteira da divulgação do escândalo do mensalão -, chegando a 177.632 visitantes em
2009 - número base do survey9.
O Perfil do Visitante (população)
O número de visitantes é bem distribuído entre dias de semana e finais de semana: em média,
52% e 48%, respectivamente. As estatísticas são classificadas em estudante, turista brasileiro, turista
estrangeiro e grupo organizado10 (com objetivo específico). A maior parte do público (cerca de 80%) é
composta por turistas brasileiros, chamados de “visitantes espontâneos”, porque acorrem ao Congresso
Nacional com o objetivo de conhecer a instituição sem outro propósito específico. Em segundo lugar,
estão os estudantes (15%). Nesse caso, percentuais oscilam durante os meses do ano, dependendo do
9 Os números referem-se aos dados fornecidos pela Coordenação de Relações Públicas da Câmara dos Deputados utilizados
como base para o survey, em 2009. 10 Esta classificação comporta os grupos que não se enquadram nas categorias anteriores, como os organizados pela própria
Câmara para a ambientação de funcionários novos ou para treinamento.

calendário escolar. O turista estrangeiro representa o terceiro grupo, com menos de 5%. O percentual de
grupos organizados que não se enquadram nas demais categorias é insignificante. Entre as instituições
atendidas, 88% são de ensino, sendo 51,14% delas de Ensino Fundamental, 18,18% de Ensino Médio e
30,68% de Ensino Superior.
A Metodologia da Pesquisa e Seleção da Amostra
O objetivo inicial da pesquisa era conhecer a percepção do público que literalmente “bate à
porta” do Congresso Nacional, em outras palavras, o chamado visitante espontâneo. Diferentemente dos
grupos organizados, estes visitantes não recebem qualquer orientação prévia por parte dos
organizadores sendo, por isso, escolhidos para avaliar o impacto da visita.
A pesquisa foi aplicada, diariamente, no Salão Negro, local de onde partem os grupos
monitorados. Para garantir a aleatoriedade e a liberdade de opinião nas respostas, os questionários
foram dispostos em display de acrílico sobre a bancada onde os visitantes normalmente preenchem
postais do Congresso Nacional, afastada, portanto, do balcão dos monitores, que abordavam os
visitantes antes ou depois da visita para convidá-los a responder uma “pesquisa acadêmica de adesão
espontânea”, realizada de forma anônima e sem qualquer ajuda 11 . Os questionários podiam ser
respondidos antes ou depois da visita, nunca antes e depois da visita pela mesma pessoa, garantindo,
desta forma, duas amostras aleatórias distintas.
Inicialmente, foram aplicados questionários exploratórios com perguntas abertas, que depois
foram fechadas com as opções mais frequentes entre os visitantes (Cf. Apêndice 1). Foram testadas 11
versões de questionários até a versão final: um questionário, com 34 questões, em sua maioria
perguntas de múltipla escolha (Cf. Apêndice 2), ou seja, preponderantemente estruturado. Para facilitar
a análise comparada, foram usadas perguntas e categorias idênticas ou próximas às das pesquisas “A
Desconfiança dos Cidadãos das Instituições Democráticas”12 e Datafolha.
A Metodologia de Análise dos Dados do Survey
Os dados tabulados foram analisados em complexidade crescente. Inicialmente, as repostas às
34 questões foram distribuídas em tabelas de frequência para verificar o perfil da amostra e os
percentuais brutos de orientações dos visitantes. Em seguida, a associação entre avaliação de
desempenho dos parlamentares (qualificada) e a confiança em cada uma das instituições (qualificada)
foi testada com relação à escolaridade (variável independente chave na literatura). Como se trata de
variáveis categóricas qualitativas, adotou-se um método mais parcimonioso para avaliar a relação entre
elas: a análise das tabelas de contingência (crosstabs), dos quadros de diferença entre frequências
observadas e esperadas e a aplicação do teste de qui-quadrado. A regressão múltipla de variáveis
associadas nos primeiros testes de correlação só foi usada como ferramenta inicial de exploração. A
assunção de seus resultados como explicativos importaria em ainda maior discretização artificial de
variáveis não quantitativas, categóricas e subjetivas, o que, a meu ver, não seria parcimonioso.
11 Quando solicitado, o monitor podia atuar como ledor, no caso de visitantes analfabetos ou com baixa escolaridade, desde que
sem acompanhante apto para tanto. Somente eram aceitos um representante por unidade familiar. 12 Survey nacional aplicado a 2004 eleitores brasileiros em junho de 2006, coordenado pelos professores Dr. José Álvaro Moisés
(NUPPs e DCP-USP) e Dra. Rachel Meneguello (CESOP e DCP-Unicamp) e apoiado pela FAPESP.

Desta forma, os quadros de frequências esperadas e observadas foram escolhidos como
principal fonte de análise de dados, mesmo porque a construção do questionário e a tabulação da
pesquisa foram feitas de forma a identificar outras variáveis explicativas para possibilitar uma análise
mais rica do conteúdo. A tabulação separou, por exemplo, as categorias de não-opinião: “não sei” e “não
respondeu”. A opção foi proposital. A não-resposta pode representar muito mais do que o simples
desconhecimento. Pode refletir uma forma de protesto, o cansaço ou mesmo à rejeição à pesquisa, por
exemplo. Observa-se no Gráfico 1 que a opção pela não-resposta é consideravelmente maior nas
questões finais (31 a 34), só respondidas após a visita:
Gráfico 1
Frequência de questionários não respondidos por questão (%)
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
1 D
ata
2 A
nte
s o
u d
ep
ois
Mo
tivo
Já p
arti
cip
ou
5 F
inal
idad
e
6 O
bri
gaçõ
es
7 D
ese
mp
en
ho
8 F
orm
a d
e A
valia
ção
9 O
pin
ião
10
Imp
ren
sa
11
Re
levâ
nci
a
12
Info
rmad
o
13
Fu
nçã
o Im
pre
nsa
14
Co
nfi
ança
CD
15
Co
nfi
ança
SF
16
Co
nfi
ança
CN
17
De
mo
crac
ia
18
Co
ngr
ess
o
19
re
call
voto
CD
20
re
call
par
tid
o C
D
21
re
call
vo
to S
F
22
re
call
par
tid
o S
F
23
re
call
de
pu
tad
o
24
re
call
sen
ado
r
25
Se
xo
26
Idad
e
27
Re
nd
a
28
Esc
ola
rid
ade
29
Cid
ade
UF/
Re
gião
30
A O
cup
ação
30
B P
EA
31
O q
ue
go
sto
u
32
O q
ue
não
go
sto
u
33
Ap
ren
de
u
34
Mu
do
u o
pin
ião
Percentual
Item
Para garantir maior segurança dos resultados, as categorias “não-resposta” e “não sei” foram
descartadas e o teste foi refeito nos casos onde a diferença entre a não-opinião observada e esperada foi
alta. De outra forma, a diferença entre o observado e o esperado em uma categoria não relevante para a
análise poderia elevar “artificialmente” o valor do teste de qui-quadrado, gerando risco de “dependência
espúria”, como será demonstrado oportunamente.
Para buscar as possíveis implicações do contato com a instituição e do conteúdo informacional
da visita sobre as orientações dos entrevistados, passou-se à aplicação de testes de qui-quadrado e à
análise de quadros de frequências observadas e esperadas de percepção de desempenho, de confiança
institucional e de adesão à democracia entre os que responderam antes e depois do programa e entre os
que participaram de visitas anteriores. As análises das tabelas de contingência entre os que haviam
Fonte: elaboração da autora.

visitado em outra oportunidade (visita anterior), no entanto, foram descartadas, já que os testes não
rejeitaram a hipótese de independência com segurança. O motivo é simples. Houve uma sensível redução
da amostra, nestes casos, especialmente quando controlado por outras variáveis pouco frequentes. A
maior parte dos entrevistados visitava o Congresso Nacional pela primeira vez (71%). Assim, a amostra
de visitantes que participaram de visitas anteriores era de apenas 123 questionários. Entre eles, apenas
dois tinham Ensino Fundamental, ambos com avaliação positiva, por exemplo. Os estatísticos ponderam
que o tamanho da amostra (n) é fundamental para a segurança da independência. “Quanto maior for o
valor do n tanto mais facilmente se descobre uma falta de independência” (HOEL, 1989, p. 287).
Outros testes foram aplicados para maior segurança em variáveis consideradas importantes.
No caso da confiança na Câmara dos Deputados, devido ao baixo valor do qui-quadrado, calculou-se a
razão de chance, ou seja, a probabilidade de um visitante confiar na instituição antes e depois da visita,
respectivamente.
Perfil da Amostra
O objetivo inicial era uma amostra aleatória simples, sem cotas, de 384 questionários, com
margem de erro de 2.5 pontos percentuais. A princípio, acreditava-se que, pela extensão do questionário
e pelo desinteresse, haveria um baixo índice de resposta. O campo ocorreu entre outubro de 2009 e
janeiro de 2010. Neste período, 432 questionários foram respondidos, sendo que, mesmo após a
retirada da urna, alguns visitantes que retornaram ao Congresso Nacional posteriormente procuraram a
pesquisa para preenchimento, o que denota o interesse do cidadão em ser ouvido.
Só cidadãos brasileiros acima de 16 anos, ou seja, aptos ao voto, podiam responder aos
questionários.
Aleatoriamente, foram aplicados 221 questionários antes da visita e 211 questionários depois
da visita, o que também garantiu amostras praticamente paritárias: 51,16% e 48,84%, respectivamente.
Trinta e seis por cento das repostas foram obtidas em dias úteis e 64% nos fins de semana. Embora a
distribuição dos visitantes entre os dias úteis e finais de semana seja praticamente homogênea, o turista
espontâneo é maioria nos fins de semana. O afluxo de turistas espontâneos também costuma ser maior à
tarde. A metodologia da aplicação garantiu que a amostra fosse a mais fidedigna possível à população de
visitantes espontâneos.
O turismo (76,4%) e a curiosidade (33,8%) foram apontadas como as principais razões para a
visita. Dezenove por cento dos entrevistados citaram a motivação cívica e 12% o desejo de conhecer os
parlamentares como razões para escolher a visita ao Congresso Nacional como atividade de lazer.
Apenas 3% dos entrevistados disseram estar ali porque tinham outro compromisso no Congresso
Nacional. O questionário permitia respostas múltiplas neste item. Sendo assim, a metodologia atingiu o
objetivo: entrevistar aquele que espontaneamente procura conhecer as dependências da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
As mulheres corresponderam a 46% dos entrevistados, contra 54% de homens13. Com relação
à faixa etária, 57% da amostra tinham até 34 anos, sendo 37,5% dos entrevistados entre 25 e 34 anos,
13 As mulheres correspondem a 51% da população e a 52% dos eleitores brasileiros (Censo e TSE, 2010).

como pode ser visto no Gráfico 2. Todos os percentuais dos indicadores sociodemográficos restringem-
se às respostas válidas.
Gráfico 2
Entrevistados por faixa etária (%)
16 ou 17 anos
4,6
18 a 24 anos
14,9
25 a 34 anos
37,5
35 a 44 anos
19,7
45 a 59 anos
17,7
60 anos ou
mais
5,6
A escolaridade da amostra é alta (Gráfico 3). Mais de 70% dos entrevistados têm pelo menos
Ensino Superior (superior 42,75% e 31,87% pós-graduação), mesmo que incompleto, o que corresponde
a mais de 11 anos de estudo. A população brasileira tem em média 7,6 anos de estudo (PNAD, 2009).
Gráfico 3
Entrevistados por escolaridade (%)
Fundamental
3,6
Médio 21,8
Superior
42,7
Pós-
graduação
31,9
Fonte: Elaboração da autora.
Fonte: Elaboração da autora.

A amostra também é, preponderantemente, de alta renda: 63,32% dos entrevistados ganham
mais de 5 salários mínimos, sendo que destes, metade tem renda superior a 10 salários mínimos, como
pode ser visto no Gráfico 4. Quase 33% da população brasileira ganham um salário mínimo e apenas 3%
ganham mais de 10 salários mínimos, de acordo com o Censo 2010.
Gráfico 4
Entrevistados por renda (%)
Até 2 SM
10,9
De 2 a 5 SM
25,8
De 5 a 10 SM
31,2
Mais de 10 SM
32,1
Fonte: Elaboração da autora.
A maior parte dos entrevistados mora em capitais e regiões metropolitanas (70%), sendo quase
23% do próprio Distrito Federal, seguido do estado de São Paulo (17,5%) e do Rio de Janeiro (9%).
Interessante observar que apenas 7% dos entrevistados vieram de Goiás, estado limítrofe. Finalmente,
mais de 80% dos entrevistados estão na População Economicamente Ativa (PEA)14.
A Missão do Congresso Nacional e o Papel dos Parlamentares
Ao contrário da confiança horizontal, estabelecida entre indivíduos em relações onde são
percebidos como iguais, a confiança vertical e, em particular a confiança política, forma-se em relações
percebidas assimetricamente15 entre pessoas animadas e instituições ou entre pessoas e representantes,
sejam eles simbólicos - standing for representation (PITKIN, 1967) -, ou mandatários (como os
parlamentares), o que aumenta a multidimensionalidade do fenômeno. Logo, enquanto a confiança
horizontal depende da interação e da reciprocidade, a confiança vertical remete à segurança. Desta
forma, confiar em instituições implica em saber que suas regras, valores e normas são compartilhados e
obedecidos pelos seus operadores. Implica também em acompanhar a informação sobre o desempenho
dos mesmos. Mais do que ao relacionamento, a confiança política está, portanto, intimamente ligada à
confiabilidade da instituição política e à credibilidade dos seus agentes, mensurada pela opinião
14 A PEA corresponde à “potencial mão-de-obra”. São excluídas, portanto, as pessoas incapacitadas para o trabalho, os
desempregados há mais de um ano (desalentados), os estudantes e as donas de casa. 15 Para uma melhor compreensão da terminologia, ver Henrique (2009, p. 38-40; 2010c).

declinada em surveys. Nesta chave, o cidadão precisa conhecer o papel institucional e de seus atores
para que possa avaliar o desempenho. Daí a importância da informação e da escolarização.
De acordo com os resultados do survey, a principal função do Congresso Nacional percebida
pelo visitante é legislar (79,9%), seguida por representar (50,2%), e por fórum de debate (40,3%), como
pode ser visto no Gráfico 5. Importante lembrar que o questionário permitia respostas múltiplas, e,
portanto, os percentuais ultrapassam cem por cento.
Gráfico 5
Finalidade do Congresso Nacional (%)
Out. 2009 / Jan. 2010
3,3
3,7
5,3
18,1
40,3
50,2
79,9
Sem opinião
Ajudar os necessitados
Governar
Fiscalizar
Debater
Representar
Fazer leis
Fonte: Elaboração da autora.
É fácil perceber porque a função legiferante é a primeira lembrança. Ela está no próprio nome
do poder “Legislativo”, sendo também a mais reforçada pela imprensa na avaliação da “produtividade”
do Congresso Nacional. Importante observar que o cidadão percebe a função representativa, uma função
relevada pela maioria das pesquisas. Também percebe o Congresso como uma “casa debatedora”,
enquanto boa parte da mídia demanda “produção”. A função fiscalizadora - outra função comumente
esquecida - foi apontada por 18% dos entrevistados.
Da mesma forma, para o visitante, legislar é a principal função dos parlamentares (81,3%),
seguida de representar (46,8%). A função de “despachante” (ajudar a resolver problemas em órgãos
públicos) também é apontada por 11,8%, como pode ser visto no Gráfico 616:
16 Entre as “outras obrigações” percebidas (6%), a questão da ética, da probidade e do combate à corrupção aparece em ¼ das
respostas.

Gráfico 6
Obrigação dos Deputados e Senadores (%)
Out. 2009 / Jan. 2010
2,8
6
2,5
2,1
5,6
11,8
46,8
81,3
Sem opinião
Outras obrigações
Ajudar eleitores a conseguir um
emprego
Dar dinheiro/ajudar pessoas
necessitadas
Fazer obras em seu estado
Ajudar a resolver problemas em
órgãos públicos
Representar eleitorado
Discutir/ aprovar projetos de lei
Fonte: Elaboração da autora.
A Avaliação de Desempenho dos Parlamentares
A pesquisa replicou a pergunta do Instituto Datafolha que avalia o desempenho dos
parlamentares: “Você acha que os deputados e senadores que estão atualmente no Congresso estão
tendo um desempenho: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?” As categorias foram agrupadas
(desempenho qualificado) em positivo (somatório das categorias ótimo e bom), regular, e negativo
(somatório das categorias ruim e péssimo). Conforme esperado, a maior parte dos visitantes (51,2%)
não está contente com o trabalho desenvolvido pelos representantes; 34,5% o classificam como regular;
9% como positivo, 3% não sabiam e 2,3% não responderam.
Os percentuais são bem próximos aos encontrados por outras pesquisas, particularmente à
média dos índices do Datafolha (2005/2010) para o segmento de escolaridade superior ou acima (9%,
positivo; 37% regular; 53% negativo; 3% sem opinião)17 18.
Conforme apontado pela literatura mundialmente, também nesta amostra são os mais
escolarizados aqueles que mais reprovam o desempenho dos parlamentares (Gráfico 7), o que, mais
uma vez, corrobora achados de outras pesquisas que revelam a existência de uma cidadania crítica
(NORRIS, 1999; 2009; 2011) também no Brasil (MENEGUELLO, 2007; 2010).
17 Média dos índices de avaliação de desempenho dos parlamentares da Pesquisa Datafolha entre 2005 e 2010. Dados disponíveis
em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/avaliacaodegoverno/congressonacional/eleitosem2006/indice-1.shtml>.
Elaboração da autora. 18 Para uma análise mais detalhada dos índices de avaliação de desempenho dos parlamentares entre os diferentes segmentos
de escolaridade no período de 2005 a 2008, ver Henrique (2009; 2010b).

Entre os menos escolarizados, a aprovação sobe para 28,6% e a reprovação cai para 14,3%. Já
entre os que têm pós-graduação, a avaliação positiva cai para 4,1% e a avaliação negativa sobe para
60,2%. A avaliação regular é semelhante entre os dois níveis mais altos de escolaridade. A opção
“regular” costuma ser um “refúgio” para a indecisão e a não-opinião, por isso, de difícil análise. A
relação inversa entre aprovação e escolaridade e reprovação e escolaridade é evidente no Gráfico 7:
Gráfico 7
Avaliação do Desempenho dos Parlamentares por Escolaridade (%)
28,6
10,7
7,34,1
57,1
47,6
32,7 33,3
14,3
36,9
55,2
60,2
4,8 4,21,60,6 0,8
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Fundamental Médio Superior Pós-Graduação
Pe
rcentu
al
Escolaridade
Positivo Regular Negativo Não sei Não respondeu
A correlação entre desempenho qualificado e escolaridade na amostra foi significativa, mas
fraca (0,194), a 99%19. Para entender melhor a relação entre as duas variáveis categóricas, partiu-se
para o teste de qui-quadrado e a análise das frequências esperadas e observadas (Quadro 1).
Quadro 1 Diferença entre a frequência observada e a frequência esperada na amostra para Avaliação do
Desempenho dos Parlamentares Qualificada e Escolaridade20
Avaliação de Desempenho dos Parlamentares Qualificada
Escolaridade Positiva Regular Negativa Não sei Não respondeu
Fundamental 2,108003108 0,62701 -0,72576 -1 -1
Médio 0,189532117 0,3838 -0,27695 0,586043 -1
Superior -0,194522755 -0,0513 0,077918 0,409585 -0,738219895
Pós-Graduação -0,550157445 -0,0345 0,174883 -0,46019 -0,649122807
Não sei -1 -1 1,262443 -1 -1
Não respondeu 1,218934911 -0,6128 -0,04281 -1 6,692307692
19 0.01 level (2-tailed). 20 Os valores encontrados em cada célula correspondem ao resultado da diferença entre a Frequência Observada e a Frequência
Esperada dividido pela Frequência Esperada (Fo-Fe)/Fe. No cálculo do X², a diferença (Fo-Fe) é elevada ao quadrado. O
procedimento torna todos os resultados positivos, o que inviabilizaria a análise da direção do desvio.
Fonte: Elaboração da autora.

O teste qui-quadrado permite-nos descartar a independência das variáveis com segurança (x² =
95,28)21. No Quadro 1, no entanto, observa-se uma alta diferença entre a frequência observada e a
esperada de não-resposta às duas questões (6,692), o que poderia gerar uma dependência espúria (Cf.
item “A Metodologia de Análise dos Dados do Survey”). Por isso, o teste foi refeito excluindo-se os valores
de “não-resposta” de ambas as variáveis. Adotou-se o mesmo procedimento parcimonioso em todos os
cálculos em que esta suspeita ocorreu.
Quadro 2
Diferença entre a frequência observada e a frequência esperada na amostra para Avaliação do
Desempenho dos Parlamentares Qualificada e Escolaridade
Avaliação de Desempenho dos Parlamentares Qualificada
Escolaridade Positiva Regular Negativa Não sei
Fundamental 2,666667 0,538462 -0,72362 -1
Médio 0,375 0,282051 -0,28601 0,410256
Superior -0,06098 -0,11351 0,073508 0,264071
Pós-Graduação -0,47404 -0,09521 0,17349 -0,5145
Não sei -1 -1 0,934673 -1
Mesmo sem a não-resposta, o valor do teste de qui-quadrado permite que a independência das
variáveis seja refutada com segurança22 . A escolaridade importa para a avaliação de desempenho,
particularmente entre os menos escolarizados. A análise do Quadro 2 mostra que a aprovação é maior
do que a esperada entre os menos escolarizados, particularmente os que têm Ensino Fundamental,
enquanto os visitantes com nível Superior ou com Pós-Graduação tendem a orientações mais críticas.
Os valores negativos (-1) não foram considerados na análise porque representam a ausência de
frequência observada naquela categoria.
Ocorre que, conforme ponderam Diamond e Morlino (2005, p. XI), a forma como as pessoas
percebem a qualidade não necessariamente decorre de uma análise do “processo” e do “conteúdo”.
Tomando emprestada a terminologia da Administração Mercadológica, de onde o conceito se origina,
isto significa dizer que, embora o “produto final” atenda a todas “especificações”, ainda assim a
“satisfação do cliente” dependerá de outras variáveis intangíveis. Desta forma, ao contrário do que
advoga a literatura (OFFE, 1999), a avaliação de desempenho pode não derivar somente da percepção do
trabalho parlamentar dentro da instituição.
Para testar esta hipótese, a pesquisa agregou uma perspectiva nova aos surveys introduzindo a
pergunta “Como o(a) senhor(a) avalia o desempenho do Congresso Nacional?” De fato, a maioria dos
entrevistados avalia o desempenho institucional pelo trabalho dos deputados e senadores (51,2%), mas
as atitudes dos parlamentares, mesmo fora do ambiente de trabalho, importam - e muito - nesta
avaliação (42,8%), conforme mostra o Gráfico 8. Este é um achado importante da pesquisa, que merece
maior investigação empírica.
21 N=432. O parâmetro para 20 graus de liberdade é de 37,6 para 1% de significância. 22 N=385 X² = 29,1, graus de liberdade = 12, ponto crítico 26,217 p = 1%.

Gráfico 8
Como avalia o desempenho do Congresso Nacional (%)
Out. 2009 / Jan. 2010
10,7
19,2
42,8
51,2
Sem Opinião (Não sei + Não
respondeu)
Pelas ações da instituição
Pelas atitudes dos deputados e
senadores, mesmo que fora do
Congresso Nacional
Pelo trabalho dos deputados e
senadores
Os resultados revelaram ainda outro dado importante: 19,2% dos visitantes também avaliam o
Congresso Nacional pelas ações institucionais. Como no caso das “obrigações dos deputados” e da
“finalidade do Congresso Nacional”, a pergunta sobre como se avalia o desempenho do Congresso
Nacional permite respostas múltiplas. O achado é particularmente relevante porque implica em dizer que
os parlamentares podem não ser os únicos agentes institucionais percebidos, embora a literatura não
faça menção ao corpo administrativo na avaliação de desempenho das legislatures, ao contrário do que
ocorre com outras instituições (HENRIQUE, 2010c).
Pela amostra, não se pode afirmar, no entanto, que os critérios, de alguma forma, influenciem a
avaliação. O valor do qui-quadrado para avaliação de desempenho do Congresso Nacional e avaliação de
desempenho pelas ações da instituição é insignificante. E os testes entre desempenho e avaliação pelo
trabalho dos parlamentares dentro da instituição e pelas atitudes fora dela não permitiram descartar a
hipótese de independência com segurança. Assim, a análise sobre os parâmetros explicativos da
avaliação de desempenho dos parlamentares ainda está longe de ser esgotada.
A Confiança no Congresso Nacional
Da mesma forma, na amostra, a confiança nas duas casas do Congresso Nacional é compatível
com os índices encontrados na bibliografia: em torno de 30%. Também corroborando a revisão da
literatura empírica (HENRIQUE, 2009), a desconfiança é um pouco maior com relação à Câmara dos
Deputados (65,5%), do que com relação ao Senado Federal (62,5%). A desconfiança no Congresso
Nacional, como um todo, é ligeiramente menor: 58,1%, embora os índices sejam bastante compatíveis. A
pergunta sobre as três instituições do Legislativo em separado é proposital. Busca identificar a
Fonte: Elaboração da autora.

percepção de diferenças entre as instituições pelos cidadãos, opção incomum em surveys sobre apoio
político.
Ao que tudo indica, o visitante não diferencia muito bem as casas do Congresso Nacional,
conforme mostra o Gráfico 9. Esta constatação confirma a experiência reportada pelos monitores de que
o visitante não consegue, muitas vezes, diferenciar o locus do trabalho não só dos deputados e
senadores, como também do chefe do Executivo. Confirma também a literatura. Políticos, partidos e
Congresso são percebidos e classificados pelos cidadãos comuns em uma só classe: a política (POWER;
JAMISON, 2005, p. 71).
Gráfico 9
Confiança no Congresso Nacional (%)
Out. 2009 / Jan. 2010
26,2
65,5
8,3
29,6
62,5
7,9
33,8
58,1
8,1
Positiva Negativa Sem Opinião
Câmara dos Deputados Senado Federal Congresso Nacional
Viu-se que, de acordo com a literatura, a confiança institucional decorre de uma avaliação do
desempenho dos atores: no caso do Congresso Nacional, os parlamentares (OFFE, 1999). De fato, na
amostra, há uma correlação significativa positiva e baixa entre a avaliação de desempenho qualificada
(variável independente) e a confiança qualificada na Câmara dos Deputados (r = 0,328), no Senado
Federal (r = 0,298) e no Congresso Nacional (r= 0,280)23. Em outras palavras, a avaliação do trabalho
dos parlamentares explica (e/ou causa) a confiança nas casas do Legislativo.
Os valores do qui-quadrado permitiram rejeitar com segurança, também nesta amostra, a
hipótese de independência entre as variáveis avaliação de desempenho dos parlamentares e confiança
23 Todas a 0,01 (2-tailed).
Fonte: Elaboração da autora.

nas casas do Congresso Nacional. Mesmo com a retirada das categorias de não-opinião24, os valores
continuaram altos: X² = 85,261, n = 385; X² = 76,072, n=386; X² = 65,401, n =385, para Câmara dos
Deputados, Senado Federal e Congresso Nacional, respectivamente, com dois graus de liberdade, ponto
crítico de 9,21, a 1%.
Pela distribuição do Quadro 3, observa-se que, na amostra, entre os que avaliam o desempenho
dos parlamentares positivamente, há mais indivíduos que confiam na Câmara dos Deputados (1,506659)
do que na hipótese de que não houvesse nenhuma relação entre as variáveis (hipótese nula). Percepção
semelhante foi observada com relação ao Senado Federal (1,636612) e ao Congresso Nacional
(1,086207).
Quadro 3
Diferença entre frequência observada e esperada para Confiança na Câmara dos
Deputados Qualificada e Avaliação de Desempenho Qualificada
Avaliação de Desempenho Qualificada
Confiança na CD Qualificada Positiva Regular Negativa
Positiva 1,506659 0,630205 -0,64846
Negativa -0,59502 -0,24889 0,256096
Assim como ocorre com a avaliação de desempenho, a literatura relaciona as confianças social
e política à escolaridade. Uma análise da PESB 2002 (ALMEIDA; SCHROEDER; CHEIBUB; 2002) mostra que a
escolaridade aparece inversamente associada à confiança na Câmara dos Deputados (HENRIQUE, 2011).
Também entre os visitantes são os menos escolarizados que mais confiam na Câmara (57,1% contra
26,2% na amostra como um todo), no Senado (57,1%, contra 29,6% na amostra como um todo) e no
Congresso Nacional (42,9%, contra 33,8% na amostra como um todo), como pode ser observado nos
Gráficos 10, 11, 12, respectivamente.
Observa-se ainda nestes gráficos que o contingente de não-resposta é maior entre os menos
escolarizados, o que corrobora achados de pesquisa anterior da autora sobre os índices de avaliação de
desempenho dos parlamentares do Datafolha entre 2005 e 2008. Quase sempre “invisíveis” nas
pesquisas de opinião e na academia, estes contingentes são, por isso, chamados de “cidadãos ocultos”
(HENRIQUE, 2009; 2010b). Pela sua invisibilidade (HONNETH, 2001), exclusão e não participação, esta
pode ser a mais perniciosa forma de cidadania, porque triplamente danosa para a qualidade do regime.
Infelizmente, devido à reduzida amostra (n), as frequências das categorias de não-opinião controladas
pela escolaridade não puderam ser levadas em conta em testes de associação nesta amostra (Cf. item “A
Metodologia de Análise dos Dados do Survey”).
24 Além da não-resposta, retirou-se ainda a categoria “não-sei” para que não houvesse o risco de dependência espúria, já que a
diferença entre a frequência observada e a esperada era alta (12,252). Mesmo assim, a independência não pôde ser descartada.

Gráfico 10
Confiança na Câmara dos Deputados por Escolaridade (%)
57,1
31,0
27,3
22,0
28,6
65,5
69,7
76,4
1,23,0
0,8
14,3
2,40,8
Fundamental Médio Superior Pós-Graduação
Perc
entu
al
Escolaridade
Positivo Negativo Não sei Não respondeu
Note-se que os índices de confiança e de desconfiança entre os menos escolarizados são
idênticos com relação à Câmara dos Deputados (Gráfico 10) e ao Senado Federal (Gráfico 11).
Provavelmente, há menor diferenciação entre as duas casas do Congresso Nacional neste segmento.
Gráfico 11
Confiança no Senado Federal por Escolaridade (%)
57,1
32,1 33,3
25,228,6
63,165,5
73,2
7,1
2,4 1,2 0,8
7,1
2,40,8
Fundamental Médio Superior Pós-Graduação
Perc
entu
al
Escolaridade
Positivo Negativo Não sei Não respondeu
Fonte: Elaboração da autora.
Fonte: Elaboração da autora.

Interessante observar também que a confiança e a desconfiança no Congresso Nacional não
diferem entre os menos escolarizados (Gráfico 12). O mesmo ocorre com a alta não-opinião, idêntica à
com relação ao Senado Federal.
Gráfico 12
Confiança no Congresso Nacional e Escolaridade (%)
42,9
36,9 38,2
30,9
42,9
57,160,6
67,5
7,13,6
0,6 0,8
7,1
2,40,6 0,8
Fundamental Médio Superior Pós-Graduação
Perc
entu
al
Escolaridade
Positivo Negativo Não sei Não respondeu
No caso do Congresso Nacional, a baixa diferenciação pode decorrer da falta de capacidade
cognitiva e de sofisticação intelectual para entendimento do conceito. Além da dificuldade de
compreensão do termo, o Congresso Nacional é constantemente usado como acepção de “parlamentar”,
confusão reforçada pela mídia e, muitas vezes, até por uma desatenção na academia. É comum a
divulgação dos resultados da avaliação de desempenho dos congressistas como índices de avaliação da
própria instituição Congresso Nacional. Este fenômeno dá indícios, e ao mesmo tempo, reforça uma
característica importante da confiança no Congresso Nacional, mais evidente com relação à Câmara dos
Deputados, que mescla aspectos da confiança horizontal e vertical, em um fenômeno que classifico
como “metonímia do Legislativo”. A relação de confiança no parlamentar é precoce, frequentemente
anterior à vida pública, e perpetua-se na campanha, conforme relatos dos próprios parlamentares, e
após a posse no cargo, mesclando traços pessoais e institucionais. Importante ressaltar que, nesta
mesma amostra, 42,8% dos entrevistados declaram que as atitudes dos parlamentares, mesmo que fora
do Congresso Nacional, importam para a avaliação do desempenho (Cf. Gráfico 8). A metonímia é uma
figura de linguagem que consiste no emprego de um termo (a parte) por outro (o todo), e que evidencia
uma relação de semelhança ou a possibilidade de associação existente na percepção subjetiva dos
conceitos. Nesta chave, pode-se entender o contágio da falta de credibilidade dos parlamentares para a
confiabilidade da instituição (HENRIQUE, 2010c).
Fonte: Elaboração da autora.

A literatura aponta correlação entre escolaridade e confiança nas casas do Legislativo. Também
na amostra há correlação significativa e moderada entre escolaridade e confiança qualificada na Câmara
dos Deputados (0,404), no Senado Federal (0,413) e no Congresso Nacional (0,385)25 . Devido à
proximidade dos valores, à pouca diferenciação entre as duas casas e o Congresso Nacional e ao papel
representativo da instituição, o artigo concentrou a análise das variáveis somente na chamada “Casa de
todos os brasileiros”.
Os valores do qui-quadrado descartaram a hipótese de independência entre escolaridade e
confiança na Câmara dos Deputados, mas, com a exclusão da “não-resposta” (método mais
parcimonioso), com menor segurança (nível de significância de 5%)26. A análise das frequências também
mostra que a confiança na Câmara dos Deputados é maior entre os visitantes que têm Ensino
Fundamental do que no caso da independência das variáveis (Quadro 4):
Quadro 4
Diferença entre frequência observada e frequência esperada para Confiança
na Câmara dos Deputados Qualificada e Escolaridade27
Confiança na Câmara dos Deputados Qualificada
Escolaridade Confiança Positiva Confiança Negativa Não sei
Fundamental 1,380062 -0,52488 -1
Médio 0,131981 -0,04396 -0,33449
Superior -0,02634 -0,00656 0,65368
Pós-Graduação -0,2099 0,098238 -0,55269
Não sei 2,570093 -1 -1
Os achados confirmam pesquisa anterior da autora. A análise dos índices de avaliação de
desempenho parlamentar do Datafolha durante o período do mensalão mostra que a aprovação é maior
entre os menos escolarizados e a reação ao escândalo menor, mesmo em períodos de grande
repercussão de notícias negativas sobre o Congresso Nacional (HENRIQUE, 2009; 2010b; 2011). Devido à
segura e direta relação entre avaliação de desempenho e confiança, confirmada na amostra e na
literatura, tais cidadãos são, no trabalho citado, classificados como “cidadãos crentes”, por apresentar
um tipo de confiança que pouco reflete a avaliação indutiva de Offe (1999) que fundamenta a “cidadania
crítica”, mas que mais se assemelha à crença (LUHMANN, 2000) ou à “fé cega” (GIDDENS, 1990) no
Congresso Nacional, enquanto sistema perito.
O Impacto da Visita Monitorada nas Orientações dos Visitantes
Ancorado na literatura supracitada, procedeu-se à análise das principais orientações dos
visitantes com relação ao Congresso Nacional, nas amostras colhidas antes e depois da visita, como
forma de observar possíveis mudanças trazidas pelo programa de visitação. Para tanto, escolheram-se
três variáveis: a avaliação de desempenho, o que representaria influência no apoio específico; a confiança
na Câmara dos Deputados, o que denotaria implicações para o apoio difuso, na perspectiva eastoniana; e
25 0,01 level (2-tailed). 26 N = 382; X² = 16,534; graus de liberdade: 8; ponto crítico: 15,5 para 5% e 20,1 para 1%. 27 Excluindo a não resposta.
Fonte: Elaboração da autora.

a adesão à democracia (Questão 18), importante fator de uma cidadania crítica, e nesta chave, basilar
para uma perspectiva positiva da reprovação ao desempenho.
O impacto no apoio específico se daria pela “boa impressão” passada pela visita, e seria reflexo
de percepções momentâneas e não relacionadas à qualidade do sistema democrático, como a simpatia
ou a antipatia do monitor, a beleza arquitetônica, o bom ou o mau atendimento (dimensão afetiva). Uma
segunda dimensão, mais ligada à compreensão do conteúdo passado pela visita (dimensão cognitiva),
estaria relacionada ao entendimento do papel da instituição para a democracia (dimensão avaliativa) e,
desta forma, importaria em aumento do apoio difuso ao sistema político.
Os testes de associação entre as variáveis “desempenho qualificado”, “confiança na Câmara
dos Deputados qualificada” ou “adesão à democracia” e a “realização da visita” (amostras antes e depois
da visita) não mostraram resultados significantes. Os valores do qui-quadrado tampouco permitiram
refutar a hipótese de independência das variáveis. Pela amostra, portanto, não se pode afirmar com
segurança que a participação na visita per se mude as orientações dos visitantes. A mudança ocorre, no
entanto, se controlada pela escolaridade, principal “filtro” das percepções, de acordo com a literatura,
como será mostrado a seguir.
O Impacto da Visita sobre a Avaliação de Desempenho dos Parlamentares
Em termos gerais, o programa impacta positivamente na melhoria da avaliação de desempenho
dos parlamentares. Antes da visita, 57% dos visitantes reprovavam o desempenho dos parlamentares,
enquanto apenas 7,2% aprovavam o trabalho dos seus representantes, e outros 30,8% avaliavam o
desempenho como regular. Após a visita, há um aumento de 3,7 pontos percentuais na avaliação positiva
e uma redução de 12 pontos percentuais na avaliação negativa. A avaliação regular também subiu 7,6
pontos percentuais.
Como dito anteriormente, os testes não permitiram confirmar qualquer relação entre a
avaliação de desempenho e a participação na visita. Quando controlado pela escolaridade, no entanto, o
teste de qui-quadrado refuta a hipótese nula seguramente28. De forma diversa do observado no Quadro 2
- que mostra a diferença dentre as frequências observadas e esperadas na amostra como um todo (antes
e depois da visita) - na amostra colhida antes da visita, a diferença da avaliação positiva entre os menos
escolarizados é muito maior. Entre os que têm Ensino Fundamental, a aprovação é significantemente
maior antes da visita (6,4).
Quadro 5 Diferença entre frequência observada e frequência esperada para
Avaliação de Desempenho Qualificada e Escolaridade antes da visita
Avaliação de Desempenho Qualificada
Escolaridade Positiva Regular Negativa Não sei
Fundamental 6,384615 -0,01538 -0,70642 -1
Médio 0,801126 0,224765 -0,26964 -0,01538
Superior -0,43195 -0,05325 0,08398 0,146269
Pós-Graduação -0,55913 -0,07417 0,130494 -0,8
28 N = 192; X² = 27,28; parâmetro = 21,666; graus de liberdade = 9; p = 1%. Excluindo a categoria não resposta. Não houve
resposta “não sei” para escolaridade antes da visita em quaisquer categorias de avaliação de desempenho.

Na amostra colhida após a visita, verifica-se uma queda substancial da diferença na avaliação
positiva observada e esperada entre os com Ensino Fundamental, com relação à amostra colhida antes
da visita (Quadro 6). A queda pode ser observada também, embora em menor grau, entre os com Ensino
Médio. Há ainda um aumento da diferença da avaliação positiva observada e esperada entre os com
Ensino Superior, embora em menor proporção. Observa-se também um aumento da avaliação regular
entre os com Ensino Fundamental. Como já observado, a avaliação regular costuma tanto abrigar
“indecisos”, quanto pessoas que migraram de uma orientação extrema (positiva e negativa), mas que
ainda não tomaram uma nova posição, ou que não querem tomá-la.
Quadro 6 Diferença entre frequência observada e frequência esperada entre Avaliação
de Desempenho Qualificada e Escolaridade depois da visita
Avaliação de Desempenho Qualificada
Escolaridade Positiva Regular Negativa Não sei
Fundamental 0,419118 0,855769 -0,73194 -1
Médio 0,056088 0,323494 -0,30181 0,122093
Superior 0,188098 -0,16562 0,072222 0,402616
Pós-graduação -0,38075 -0,10023 0,208687 -0,56136
Não sei -1 -1 1,144444 -1
Entretanto, o valor do qui-quadrado (14,419) não permite afirmar que esta queda seja
relacionada à visita, já que não descarta a hipótese de independência das variáveis com a mesma
segurança da amostra colhida antes da visita29. A queda, no entanto, é evidente, mesmo com relação à
amostra como um todo, onde as variáveis estão relacionadas, o que, sem dúvida, denota um impacto da
visita sobre as avaliações de desempenho dos parlamentares entre os visitantes, particularmente, os
menos escolarizados.
Ao contrário do que ocorre com a observada mudança de opinião, o teste de qui-quadrado
descarta a independência entre a declarada mudança de opinião e a avaliação de desempenho. Entre os
que responderam após a visita e disseram ter mudado de opinião, a aprovação ao desempenho dos
parlamentares é maior (1,366).
Quadro 7
Diferença entre frequências observadas e esperadas para Avaliação de Desempenho
Qualificada e Mudança de Opinião após a visita30
Avaliação de Desempenho Qualificada
Mudança de opinião Positiva Regular Negativa Não sei
Sim 1,366738 0,048555 -0,31343 0,204885
Não -0,59078 -0,02099 0,135484 -0,08856
A análise das respostas à pergunta aberta “Como?”, no entanto, não corrobora a melhoria da
avaliação após a visita. Em outras palavras, a mudança impacta no aumento da aprovação e na
29 Retirou-se a não-resposta. N= 193; X² = 14,419; graus de liberdade 12. Pontos críticos: 21,026 (5%); 14,84 p =25%, e 11,34
p = 50%. 30 N = 222; X² =21,95; grau de liberdade = 3; ponto crítico: 11,345; p = 1%. Retirou-se a não-resposta.

diminuição da reprovação ao desempenho parlamentar na amostra em geral, mas o visitante não
identifica o que promoveu a melhoria da avaliação. Há ainda a possibilidade de o efeito resultar
simplesmente do bom atendimento, gerando lip service.
Viu-se que a literatura associa o aumento da crítica às instituições democráticas ao aumento da
escolaridade e da renda, com consequente mudança de valores (INGLEHART, 1988; 1999; 2003). Na
análise dos índices de avaliação do trabalho parlamentar do Datafolha no período do mensalão,
mencionada anteriormente, a escolaridade é mais importante do que a renda no que tange à mudança
na avaliação de desempenho no período (HENRIQUE, 2011). A reação dos menos escolarizados frente a
um escândalo conhecido por 84% dos brasileiros um mês após a primeira divulgação, de acordo com a
pesquisa Datafolha, é mais lenta, e, provavelmente, dependente de mídias mais acessíveis.
Há, portanto, uma perspectiva alvissareira para o programa “Visite o Congresso” tanto
enquanto ferramenta de melhoria da imagem institucional quanto de promoção de uma cultura cívica.
Por um lado, após a visita, há um aumento da avaliação positiva do trabalho parlamentar na amostra em
geral, preponderantemente com Ensino Superior, o que pode atestar a eficiência do programa enquanto
ação de comunicação para a melhoria da percepção institucional. Por outro lado, os cidadãos menos
escolarizados tornam-se mais críticos após a visita, o que pode significar uma melhoria nas dimensões
cognitiva e avaliativa, refletida no aumento da insatisfação frente ao não atendimento de expectativas de
desempenho dos parlamentares após a compreensão do papel deles esperado. Os monitores procuram
divulgar os conteúdos de forma didática e acessível, além de permitir a interação entre o emissor e o
receptor, para esclarecimento de dúvidas. Se resultante de maior avaliação de desempenho objetiva, a
diminuição da aprovação pode importar em percepção de aumento da competência subjetiva dos
“cidadãos crentes” (HENRIQUE, 2011), na chave de Almond e Verba (1963), e, consequentemente, da
cultura cívica e da participação.
Pelas possíveis consequências para a inclusão social e política dos menos escolarizados -
61,24% do eleitorado têm até o Ensino Fundamental (TSE, 2010) -, esta conclusão é particularmente
importante para um programa de educação para a cidadania proposto pela “Casa de todos os
brasileiros”.
O impacto da Visita sobre a Confiança no Congresso Nacional
Da mesma forma que ocorreu com o desempenho, houve um aumento da confiança após a
visita: de 23,5% para 28,9%. A desconfiança também diminuiu na amostra colhida após a participação
no programa em 4,9 pontos percentuais (67,9% e 63%), mas, como dito anteriormente, a mudança não
pôde ser atribuída ao impacto da visita per se.
A diferença também é mais visível entre os menos escolarizados, só que em menor proporção e
em sentido contrário (Quadro 8). Depois da visita, a diferença entre a frequência observada e esperada
de indivíduos que confiam na Câmara dos Deputados entre os com Ensino Fundamental é ligeiramente
maior (0,92 para 1,49 antes da visita e após a visita, respectivamente). A segurança, no entanto, é
menor (nível de significância 5%)31, o que permite concluir que a visita aumenta a confiança entre os
menos escolarizados, mas timidamente.
31 N=193; X² = 15,618; graus de liberdade = 8 e parâmetro 15,507; p = 5%. Retirou-se a não-resposta.

Quadro 8
Diferença entre frequências observadas e esperadas para Confiança na Câmara
dos Deputados Qualificada e Escolaridade após a visita
Confiança na Câmara dos Deputados Qualificada
Escolaridade Confiança Positiva Confiança Negativa Não sei
Fundamental 1,49569 -0,62597 -1
Médio 0,160786 -0,02578 -1
Superior -0,11006 0,009014 0,870155
Pós-Graduação -0,21348 0,115292 -0,41515
Não sei 2,327586 -1 -1
Estes achados também corroboram a literatura. A confiança é um valor que se desenvolve a
partir de um relacionamento, que aumenta em proporção direta ao tempo, e que, ao contrário da maioria
dos bens, não se esgota, mas aumenta com o uso (PUTNAM, 1993). É, por isso, um componente
importante do apoio difuso ao sistema político (EASTON, 1965a; 1965b). Logo, a participação em uma
breve visita não pode ter o mesmo impacto sobre a confiança institucional que tem sobre a avaliação de
desempenho.
Similarmente, a análise do Quadro 9 permite observar que o aumento da confiança e a
diminuição da desconfiança entre aqueles que disseram mudar de opinião ocorre, só que de forma bem
mais tênue se comparada à avaliação de desempenho (Cf. Quadro 7).
Quadro 9
Diferença entre frequências observada e esperada para Confiança na Câmara dos
Deputados e Declaração de Mudança de Opinião32
Confiança na Câmara dos Deputados
Mudou de opinião Confiança Positiva Confiança Negativa Não sei
Sim 0,390909 - 0,15172 -0,44192
Não -0,16645 0,064602 0,188172
Para confirmar a “tímida” mudança de opinião, calculou-se a razão de chance entre os
visitantes que confiam e os que desconfiam da Câmara dos Deputados antes (grupo um) e depois da
visita (grupo dois). A razão de chance é calculada para comparar a probabilidade de algo acontecer em
um grupo com a probabilidade de algo acontecer em outro grupo33.
A probabilidade de um visitante confiar na Câmara dos Deputados é maior depois da visita
(OR=0,78). A probabilidade de um visitante desconfiar da Câmara dos Deputados é maior antes da visita
(OR=1,42). Além disso, a probabilidade da dúvida, associada à resposta “não sei” também é maior
depois da visita (OR= 0,16). Estes resultados podem revelar o impacto da visita sobre um aumento da
confiança na instituição, o que representa fator relevante, pelo aspecto difuso da confiança política.
32 N = 221; X² = 6,199, graus de liberdade: 2; pontos críticos 5,99; p=5%. Retirou-se a não-resposta. 33 Calculada a razão de chance (Odds Ratio, ou OR) entre os dois grupos, se obtivermos um valor igual a 1 significa que a
probabilidade do evento acontecer em um grupo é igual a probabilidade de ela acontecer no outro. Se OR < 1, significa que a
probabilidade de o evento acontecer no segundo grupo é maior do que acontecer no primeiro grupo. Se OR > 1, significa que a
probabilidade de o evento acontecer no primeiro grupo é maior do que no segundo.

Tal repercussão pode ser confirmada pela possível mudança de opinião em outras variáveis
fundamentais para o apoio difuso ao sistema político, como a adesão ao regime democrático.
O Impacto da Visita sobre a Adesão à Democracia
Neste survey, a adesão à democracia foi avaliada a partir de escolha única entre três opções
sobre a forma de governo. A primeira, “A democracia é preferível a qualquer forma de governo”, de
acordo com a metodologia de Moisés (2010), estaria mais ligada a um comportamento “democrata”; a
segunda, “Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível à democracia”, estaria
mais próxima de uma orientação intermediária; e a terceira, “Tanto faz se o governo é democrático ou
autoritário, o que importa é ter um bom governo para o povo”, seria mais congruente com um
comportamento autoritário.
A maioria dos entrevistados escolheu a opção mais democrática (59%), mas 22% dos visitantes
escolheram a opção mais autoritária A opção intermediária foi a escolha de apenas 9,5% dos
entrevistados, mesmo percentual dos que não responderam.
De maneira geral, a preferência pela opção mais democrática cai na amostra após a visita
(61,1% pra 56,9%) e a opção mais autoritária aumenta de 17,6% para 26,5%, o que, em termos de
apoio difuso, não seria congruente com o aumento da confiança após a participação no programa. A
literatura associa a adesão à democracia a uma maior confiança política. Os resultados podem derivar
do comportamento ambivalente do brasileiro, ou seja, aquele que mistura traços de orientações
democráticas e autoritárias, ainda comum entre os que viveram “lapsos importantes de suas vidas sob a
influência de concepções autoritárias no tocante às suas instituições políticas” (MOISÉS, 2010, p.89). No
Brasil, o contingente de ambivalentes chega a 54%, contra 40% na América Latina.
O resultado do teste de qui-quadrado, no entanto, não permitiu confirmar evidência de relação
entre nenhuma destas variáveis. Entretanto, o mesmo teste descartou com segurança a independência
das variáveis adesão à democracia e escolaridade na amostra como um todo34. Os menos escolarizados
tendem a preferir a opção mais autoritária (Quadro 10):
Quadro 10
Diferença entre frequências observadas e esperadas para Forma de Governo
e Escolaridade na amostra em geral35
Forma de Governo
Escolaridade Democrático Intermediáio Autoritário
Fundamental -0,3691 -1 1,451311
Médio -0,35939 0,135628 0,939499
Superior 0,015602 0,200257 -0,1288
Pós-Graduação 0,246964 -0,25564 -0,57624
Não sei 0,51417 -1 -1
34 N =374 ; X²= 48,339; graus de liberdade = 8; ponto crítico = 20,09; p = 1%. 35 Retirou-se a não-resposta.

Controlado pela escolaridade, pôde-se observar o impacto da visita sobre as orientações dos
visitantes. Antes da visita (Quadro 11), é maior a frequência da opção autoritária entre os menos
escolarizados, particularmente, os que têm Ensino Fundamental (2,854):
Quadro 11
Diferença entre frequências observada e esperada para Forma de Governo
e Escolaridade antes da visita36
Forma de Governo
Escolaridade Democrático Intermediário Autoritário
Fundamental -0,63867 -1 2,854167
Médio -0,33594 0,190476 1,083333
Superior -0,03036 0,226643 -0,02426
Pós-Graduação 0,267428 -0,32234 -0,76282
Conforme observado no Quadro 12, após a visita, é sensível a queda da diferença de frequência
da preferência pela opção mais autoritária no mesmo segmento (de 2,854 para 0,783).
Quadro 12
Diferença entre frequências observada e esperada para Forma de Governo e Escolaridade depois da visita37
Forma de Governo
Escolaridade Democrático Intermediário Autoritário
Fundamental -0,20588 -1 0,783019
Médio -0,3802 0,084648 0,826507
Superior 0,065052 0,177163 -0,20289
Pós-Graduação 0,205882 -0,17647 -0,40566
Não sei 0,588235 -1 -1
Embora a comparação das amostras antes e depois da visita aponte um aumento da opção
mais autoritária após a participação no programa, quando controlado pela escolaridade, observa-se um
impacto positivo da visita sobre a diminuição desta preferência entre os menos escolarizados, nesta
amostra.
Conclusão
O survey realizado entre os visitantes do Congresso Nacional confirma uma série de achados da
literatura. Mesmo entre os cidadãos que o procuram em suas horas de lazer, os índices de reprovação ao
trabalho parlamentar e de desconfiança com relação à instituição são compatíveis com a literatura em
uma amostra mais escolarizada. Nesta amostra, a avaliação de desempenho também está relacionada à
confiança em todas as Casas do Congresso Nacional.
A análise das orientações coletadas em amostras antes e depois da visita permite afirmar que o
contato com a instituição (dimensão afetiva) e a informação prestada durante a visita (dimensão
36 N= 185; X²= 31,279; graus de liberdade = 6; ponto crítico: 16,8; p=1%. Retirou-se a não-resposta. 37 N= 189; X²= 20,041; graus de liberdade=8; ponto crítico= 20,09; p=1% e ponto crítico 15,5% a 5%. Retirou-se a não-resposta.

cognitiva) acabam por modificar a percepção da instituição e de seus atores (dimensão avaliativa). As
variáveis, no entanto, só estão relacionadas quando controladas pela escolaridade, fator determinante
para a percepção da confiança na Câmara dos Deputados, para a avaliação de desempenho e para a
adesão à democracia (na amostra e na literatura).
O impacto da visita é maior sobre a avaliação de desempenho dos parlamentares, o que, na
perspectiva eastoniana, pode importar em aumento do apoio específico. A aprovação é maior na amostra
coletada após a visita - o que pode atestar a eficácia do programa de visitação como ferramenta para a
melhoria da imagem institucional. A mudança de opinião e a avaliação de desempenho estão
relacionadas. Há maior aprovação entre aqueles que declaram ter mudado de opinião após participar do
programa em relação à hipótese de independência das variáveis.
Por outro lado, há uma sensível diminuição da diferença entre as frequências esperada e
observada da aprovação ao desempenho dos parlamentares entre os segmentos menos escolarizados,
minoritários na amostra, particularmente os com Ensino Fundamental, após a participação no programa.
Os menos escolarizados são os que mais aprovam o desempenho parlamentar na amostra e na
literatura. Esta mudança poderia representar um aumento da capacidade de avaliação indutiva do papel
esperado dos representantes entre os menos escolarizados, que, possivelmente pelo menor acesso à
informação e à instituição, tornam-se mais suscetíveis aos conteúdos, expostos de maneira didática e
concreta.
Já com relação à confiança na Câmara dos Deputados, observa-se pequeno aumento após a
visita na amostra como um todo. Quando controlado pela escolaridade, o aumento também é maior
entre os com Ensino Fundamental. O menor impacto é previsível. Ao contrário da avaliação específica do
desempenho - que pode decorrer simplesmente do bom ou do mau atendimento -, a confiança constrói-
se a partir da reciprocidade ao longo do tempo, como afirma a própria literatura. Ainda assim, as
chances de um visitante confiar na Câmara dos Deputados após a visita são maiores do que antes de
participar do programa.
Os resultados tornam-se mais relevantes quando acompanhados de diminuição de orientações
autoritárias e/ou de aumento da adesão à democracia - valor central do apoio difuso ao sistema político,
na perspectiva eastoniana. A frequência da opção mais autoritária - representada pela resposta: “Tanto
faz se o governo é democrático ou autoritário, o que importa é ter um bom governo para o povo”, diminui
sensivelmente em relação à hipótese nula entre os com Ensino Fundamental, após a visita, embora a
tendência não seja observada na amostra como um todo.
Estes achados, embora modestos, são importantes para o programa de visitas enquanto
instrumento de educomunicação e de melhoria da qualidade do regime, pela construção de uma cultura
cívica, na perspectiva de Almond e Verba. As conclusões mostram que a visita pode aumentar a
cidadania crítica, especialmente no segmento onde ela é mais necessária: os segmentos menos
escolarizados e com menor renda.
Em termos de Brasil, o impacto é ainda maior. Embora o segmento com Ensino Fundamental
seja o menos presente na amostra, ele é o mais numeroso entre a população brasileira e entre os
eleitores. Além disso, a baixa escolaridade está associada à baixa renda na amostra e na literatura.

Os achados abrem, portanto, nova perspectiva para a pesquisa na Ciência Política: os
programas de visitação do Legislativo como ferramentas de educação para a democracia, e, por esta via,
de promoção da melhoria da qualidade do regime, inclusive porque, embora o trabalho e as atitudes dos
parlamentares dentro e fora da instituição ainda sejam o principal parâmetro para a avaliação do
desempenho do Congresso Nacional, as ações institucionais também contam para 19% dos visitantes.
A crítica, o debate e a pesquisa são, portanto, muito bem-vindos. Para tanto, o banco de dados
deste survey será disponibilizado no Consórcio de Informações Sociais (CIS)38.
Referências Bibliográficas
ALMEIDA, A. C.; SCHROEDER, A.; CHEIBUB, Z. (Orgs.). PESB: Pesquisa Social Brasileira, 2002 (Banco de dados). Rio de
Janeiro: Universidade Federal Fluminense (UFF). Disponível: Consórcio de Informações Sociais, 2004. Disponível em:
<http://www.cis.org.br>. Acesso em: 27 mar. 2010.
ALMOND, G; VERBA, S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 3ª ed. Newbury Park: Sage,
1963.
DAHL, R. A. Poliarquia: Participação e Oposição. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1997.
_________. “A Democratic Paradox?”. Political Science Quarterly, New York, vol. 115, nº 1, p. 35-40, nov. 2000.
DALTON, R. Democratic Challenges: The Erosion of political Support in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford
University Press, 2004.
DELLA PORTA, D. Social capital, beliefs in government, and political corruption. In: PHARR, S.; PUTNAM, R. D.
(Eds.). Disaffected democracies: what's troubling the trilateral countries? Princeton: Princeton University Press,
p. 202-228, 2000.
DIAMOND, L.; MORLINO, L. (Orgs.). Assessing the Quality of Democracy. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2005.
EASTON, D. Framework for Political Analyses. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1965a.
_________. A System Analysis of Political Life. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1965b.
GIDDENS, A. The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press, 1990.
HARRISON, L. E.; HUNTINGTON, S. P. A Cultura Importa. Rio de Janeiro: Record, 2000.
HENRIQUE, A. L. “Cidadãos Crentes, Críticos e Ocultos: as várias faces da cidadania brasileira em sua relação com a confiança e
as instituições democráticas na Nova República.” [Online] Brasília. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – Iuperj, 2009. Disponível em:
<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/3635>. Acesso em: 10 ago. 2013.
_________. “Confiança e democracia: aspectos de uma instável relação estável”. E-Legis - Revista Eletrônica do Programa
de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, Brasília, 4, jun. 2010a. Disponível em: <http://inseer.ibict.br/e-
legis/index.php/e-legis/article/view/37>. Acesso em: 01 jul. 2010.
_________. Cidadãos Crentes, Críticos e Ocultos: Assimetrias da Confiança no Congresso Nacional. [Online] Trabalho
apresentado no 7º Encontro ABCP. 2010b. Disponível em:
<http://cienciapolitica.servicos.ws/abcp2010/arquivos/12_7_2010_11_26_57.pdf> Acesso em: 15 nov. 2011.
_________. A Metonímia do Legislativo: aspectos da confiança no Congresso Nacional enquanto sistema perito. [Online]
Trabalho apresentado na 34º Conferência Anual da Anpocs. 2010c. Disponível em:
<http://www.anpocs.org.br/portal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=90> Acesso em: 15 nov. 2011.
38 Disponível em:< http://www.nadd.prp.usp.br/cis/>.

_________. Quando Imagem vira Caso de Democracia: Aspectos da Desconfiança no Congresso Nacional Brasileiro.
In: NICOLAU, J; BRAGA, R. (Orgs.). Para Além das Urnas: reflexões sobre a Câmara dos Deputados. Brasília: Centro de
Documentação e Informação. Edições Câmara, p. 417-452, 2011.
HOEL, P. Estatística Elementar. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1989.
HONNETH, A. Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser. In: FRASER, N.; HONNETH, A. (orgs.).
Redistribution or recognition? Invisibility: on the Epistemology of Recognition, A Philosophical Exchange. London: Verso,
2001.
HUNTINGTON, S. P. The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century. Norman: University of Oklahoma Press,
1991.
INGLEHART, R. “The Renaissance of Political Culture”. American Political Science Review, vol. 82, n° 4, p. 1203-1230,
1988.
_________. Trust, Well-Being and Democracy. In: WARREN, M. (Ed.). Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 88-120, 1999.
_________. How solid is mass support for democracy - and how can we measure it?. 2003. Disponível em:
<http://www.asianbarometer.org/newenglish/publications/ConferencePapers/2003conference/T_03_no.11.pdf> Acesso
em: 15 nov. 2011.
LAGOS, M. “Between Stability and Crisis in Latin America”. Journal of Democracy, vol. 12, n° 1, p. 135-145, 2001.
LINZ, J.; STEPAN, A. “Toward consolidated democracies”. Journal of Democracy, p. 14-16, 1996.
LIJPHART, A. Modelos de Democracia. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003.
LUHMANN, N. Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. In: GAMBETTA, D. (Ed.). Trust: Making and
Breaking Cooperative Relations, electronic edition. Department of Sociology, University of Oxford, chapter 6, p. 94-107,
2000. <http://www.sociology.ox.ac.uk/papers/luhmann94-107.pdf>.
MENEGUELLO, R. A Democracia Brasileira, 21 anos depois. In: Primer Congreso Latinoamericano de Opinión Publica.
"Opinión Pública, conflicto social y orden político”. Uruguai: abr. 12-14, 2007. Anais... Disponível em:
<http://www.waporcolonia.com/presentaciones.html>. Acesso em: 15 nov. 2008.
_________. Aspectos do Desempenho Democrático: Estudo sobre a Adesão à Democracia e Avaliação do Regime. In:
MOISÉS, J. Á. (Ed.). Democracia e Confiança. São Paulo: Edusp, p. 123-148, 2010.
MERKEL, W. “Embedded and Defective Democracies”. Democratization, vol. 11, n° 5, p. 33-58, 2004.
MOISÉS, J. A. (Org.). Democracia e Confiança: por que os cidadãos desconfiam das instituições públicas? São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2010.
NORRIS, P. Introduction: the growth of critical citizens? In: _________. (Ed.). Critical citizens: global support for democratic
government. New York: Oxford University Press, p. 1-27, 1999.
_________. Critical citizens: global support for democratic government. Oxford: Oxford University Press, 1999.
_________. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
_________. Making Democracy Governance Work. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
OFFE, C. How can we trust our fellow citizens? In: WARREN, M. (Ed.). Democracy & Trust. Cambridge: Cambridge University
Press, p. 42-87, 1999.
PHARR, S. Officials´ misconduct and public distrust: Japan and the trilateral democracies. In: PUTNAM, R. (ed.). Disaffected
democracies: what´s troubling the trilateral countries? Princeton: Princeton University Press, 2000.
PERUZZOTTI, E.; SMULOVITZ. C. Social Accountability: An Introduction [online]. University of Pittsburgh Press. 2006.
Disponível em: <http://www.upress.pitt.edu/htmlSourceFiles/pdfs/9780822958963exr.pdf.> Acesso em: 15 nov. 2011.
PITKIN, H. F. The Concept of Representation. London: University of California Press, Ltd., 1967.
PORTO, M. A crise de confiança política e suas instituições. In: BAQUERO, M. (Org.). Condicionantes da consolidação
democrática: ética, mídia e cultura política. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996.

POWELL, G. B. The Chain of Responsiviness. In: DIAMOND, L.; MORLINO, L. (Orgs.). Assessing the Quality of Democracy.
Baltimore: The John Hopkins University Press, 2005.
POWER, T. J.; JAMISON, G. “Desconfiança política na América Latina”. Opinião Pública, vol. XI, n°1, p. 64-93, 2005.
PUHLE, H. J. Democratic Consolidation and "Defective Democracies". In: Conferencia Impartida Universidad Autonoma de
Madrid, Anais.... Madrid, p. 1-20, 2005.
PUTNAM, R. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, New Jersey, USA: Princeton University
Press, 1993.
_________. “Bowling Alone: America's Declining Social Capital”. Journal of Democracy, vol. 6, n° 1, p. 65-78, 1995.
_________. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster Paperbacks,
2000.
Apêndices
Apêndice 1 Questionário para usuários do Programa de Visitação
Prezado visitante,39
Este questionário faz parte de uma pesquisa universitária e pretende conhecer a opinião dos visitantes
da Casa quanto a diversos aspectos da vida política. Ele se divide em duas partes: a primeira é apresentada antes do
início da visita e a segunda logo depois do passeio pela Casa ter se encerrado.
Não é necessário se identificar. Caso queira, você pode deixar seu contato, a fim de receber, ao final da
pesquisa, os relatórios obtidos. Em nenhum momento a identificação do respondente será utilizada para outro fim que
não seja o de envio autorizado do relatório da pesquisa.
Muito obrigado(a) por sua participação.
Informações preliminares
1. Dia da Visita:
2. Horário:
3. Guia:
ANTES da Visita
4. Você sabe como se chama o local onde você está?40
( ) Câmara ( ) Senado ( ) Congresso Nacional
( ) Outra:__________________________________________
5. Qual é o motivo da sua visita?
( ) Turismo ( ) Conhecer os representantes ou outra motivação cívica
( ) Curiosidade ( ) Necessidade (água, descanso, banheiros, fugir do sol e do calor)
( ) Outra:________________________________________
6. O que é o Congresso Nacional?
7. Qual é a finalidade da/Para que serve a Câmara dos Deputados?
( ) Fazer leis ( ) Fiscalizar os outros Poderes ( ) Representar os eleitores
( ) Outra:__________________________________________
8. Quem trabalha na Câmara?
( ) Deputados ( ) Senadores ( ) Presidente da República
( ) Outra: ________________________________________
9. O que você espera do trabalho dos deputados?
10. Qual é a finalidade do/Para que serve o Senado?
( ) Fazer leis ( ) Fiscalizar os outros Poderes ( ) Representar os eleitores
( ) Outra: ________________________________________
39 O entrevistador informa ao entrevistado sobre estas condições. Preferencialmente, o texto pode ser lido ou entregue de forma
impressa, a fim de uniformizar o entendimento. O público consiste de potenciais eleitores (acima de 16 anos e até 70 anos). As
respostas são únicas para cada questão e espontâneas (não induzidas). 40 Para todas as questões que se seguem, as opções não são fornecidas, apenas assinaladas pelo entrevistador.

11. Quem trabalha no Senado?
( ) Deputados ( ) Senadores ( ) Presidente da República ( ) Outra:__________________________________________
12. E o que você espera do trabalho dos senadores?
13. O que faz um deputado?
14. O que faz um senador?
15. Você acha que os deputados e senadores que estão no Congresso hoje estão tendo um desempenho:
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo
16. Você acha que os deputados que estão no Congresso hoje estão tendo um desempenho:
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo
17. Você acha que os senadores que estão no Congresso hoje estão tendo um desempenho:
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo
Vou citar algumas instituições e gostaria de saber qual é o grau de confiança que você tem em cada um delas:
18. Câmara dos Deputados
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança ( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança
19. Senado Federal?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança ( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança
20. Congresso Nacional?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança ( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança
21. E quanto aos deputados federais?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança ( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança
22. E quanto aos senadores?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança ( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança
23. Você se lembra em quem votou para deputado federal na última eleição (2006)?
( ) Sim ( ) Não
24. Você se lembra em quem votou para senador na última eleição (2006)?
( ) Sim ( ) Não
25. Você poder dizer o nome de algum deputado federal em exercício?
( ) Sim:________________________________________ Vc sabe a que partido pertence? ( ) Sim ( ) Não
( ) Não
26. Você poder dizer o nome de algum senador em exercício?
( ) Sim:________________________________________ Vc sabe a que partido pertence? ( ) Sim ( ) Não
( ) Não
27. Diga a primeira palavra ou nome que vem à sua cabeça quando eu falo em:
Governo _______________
Congresso Nacional _________________
Câmara dos Deputados________________________
Senado Federal _______________________
Deputado Federal ______________________________
Senador ____________________________________
Democracia_____________________________________
28. Sua opinião sobre o Congresso Nacional é formada basicamente por qual fonte?
( ) Imprensa ( ) Familiares ( ) Amigos ( ) Escola
( ) Ambiente de trabalho
Outra:_____________________________________________
29. As notícias sobre política veiculadas pela imprensa representam suas dúvidas e/ou opiniões?
( ) Não representam ( ) Representam pouco ( ) Representam
( ) Representam muito
30. Em sua opinião, a imprensa traz as questões mais importantes sobre política nacional?
( ) Sim ( ) Não
31. Em sua opinião, qual é a função da imprensa?
32. Você se sente suficientemente informado(a) pela imprensa sobre os trabalhos do Congresso Nacional?
( ) Não ( ) Pouco informado(a) ( ) Informado(a) ( ) Muito informado(a)
33. Você usa outro meio para se informar sobre os trabalhos do Congresso que não seja qualquer material de imprensa
(jornais e revistas, TV ou rádio)?
( ) Sim ( ) Não
34. Você pode dizer seu nome para a segunda parte do questionário, logo depois da visita?
Nome:__________________________________________
35. Você quer deixar um contato (preferencialmente e-mail / endereço de correio eletrônico)?

Endereço: _______________________________________
Telefone: ________________________________________
e-mail: ____________________________________________
36. Sexo:
( ) Feminino ( ) Masculino
37. Qual é sua faixa etária (anos completos no momento da visita):
( ) 16 ou 17 anos ( ) 18 a 24 anos ( ) 25 a 34 anos ( ) 35 a 44 anos
( ) 45 a 59 anos ( ) 60 a 70 anos ( ) 71 anos ou mais
38. Você pode dizer qual é a sua renda familiar mensal?
( ) Até 2 SM ( ) Mais de 2 SM até 5 SM ( ) Mais de 5 SM até 10 SM ( ) Mais de 10 SM
39. Qual é a sua escolaridade completa?
( ) Não completou o ensino fundamental ( ) Fundamental ( ) Médio
( ) Superior ( ) Pós-graduação
40. Em que cidade você mora?
Cidade: ____________________________________ UF:__
41. O que você faz? _____________________
( ) Desempregado41 ( ) Inativo(a) ( ) Aposentado(a)
( ) Estudante ( ) Dona de casa
___________________________________________________
( ) Pertence à População Economicamente Ativa (PEA)
( ) Não pertence à PEA
DEPOIS da visita
1. O que você mais gostou na visita?
2. O que você menos gostou na visita?
3. Você aprendeu alguma coisa sobre a Câmara, o Senado Federal e/ou o Congresso Nacional que não sabia antes da
visita?
( ) Não
( ) Sim ___________________________________________________
4. Como você responde agora à pergunta “para que serve a Câmara”?
( ) Fazer leis ( ) Fiscalizar os outros Poderes ( ) Representar os eleitores
( ) Outra: _______________________________________
5. Como você responde agora à pergunta “para que serve o Senado”?
( ) Fazer leis ( ) Fiscalizar os outros Poderes ( ) Representar os eleitores
( ) Outra: _______________________________________
6. Você acha que os deputados que estão no Congresso hoje estão tendo um desempenho:
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo
7. Caso tenha mudado a opinião, qual o motivo da mudança?
8. Você acha que os senadores que estão no Congresso hoje estão tendo um desempenho:
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo
9. Caso tenha mudado a opinião, qual o motivo da mudança?
10. E agora, qual o grau de confiança que você tem na Câmara dos Deputados?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança ( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança
11. Caso tenha mudado a opinião, qual o motivo da mudança?
12. E no Senado Federal?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança ( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança
13. Caso tenha mudado a opinião, qual o motivo da mudança?
Muito obrigado (a) por sua participação.
41 Tem procurado emprego no período da pesquisa (um ano)? Se não, é inativo, ou seja, não pertence à PEA.

Apêndice 2 Questionário para usuários do Programa de Visitação
Prezado visitante,
Este questionário faz parte de uma pesquisa universitária e pretende conhecer a opinião dos visitantes da Casa quanto a
diversos aspectos da vida política. Não é necessário se identificar. Ao final, pedimos que o questionário seja depositado
na urna identificada, ou que seja entregue a um de nossos atendentes. Muito obrigado por sua participação. Ela é muito
importante!
Informações preliminares
1. Data da Visita:__ / __/ __
Dia da semana:_________ Horário:_____
2. Você está respondendo? ( ) antes da visita ( ) depois da visita
3. Qual é o motivo da sua visita? ( ) Turismo ( ) Conhecer os parlamentares
( ) Motivação cívica ( ) Curiosidade ( ) Compromisso no Congresso
( ) Para tomar água, descansar, banheiros, fugir do sol e do calor
( ) Outro:_______________________________________
4. Você já participou da visita ao Congresso Nacional antes de hoje?
( ) Sim Quantas vezes?_________ ( ) Não
5. Qual é a finalidade da/Para que serve o Congresso Nacional?
( ) Fazer leis/aprovar projetos ( ) Fiscalizar os outros Poderes ( ) Representar eleitores/cidadãos
( ) Debater temas de interesse da nação
( ) Governar ( ) Ajudar os necessitados ( ) Não sei
6. Em sua opinião, são obrigações dos deputados e senadores:
( ) Discutir e aprovar projetos de lei ( ) Representar eleitorado
( ) Ajudar a resolver problemas em órgãos públicos
( ) Dar dinheiro/ajudar pessoas necessitadas ( ) Fazer obras em seu estado
( ) Ajudar seus eleitores a conseguir um emprego
( ) Outra __________________________ ( ) Não sei
7. Você acha que os deputados e senadores que estão atualmente no Congresso estão tendo um desempenho:
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo ( ) Não sei
8. Como você avalia o desempenho do Congresso Nacional?
( ) Pelo trabalho dos deputados e senadores
( ) Pelas atitudes dos deputados e senadores, mesmo que fora do Congresso Nacional
( ) Pelas ações da Instituição ( ) Não sei
9. Sua opinião sobre o Congresso Nacional é formada principalmente por qual fonte?
( ) Jornais ( ) Revista ( ) TV ( ) Familiares ( ) Amigos
( ) Instituição de ensino ( ) Ambiente de trabalho ( ) Não sei
10. As notícias sobre política veiculadas pela imprensa representam suas dúvidas e/ou opiniões?
( ) Sim, representam pouco ( ) Sim, representam
( ) Sim, representam muito ( ) Não representam ( ) Não sei
11. Em sua opinião, a imprensa traz as questões mais importantes sobre política nacional?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
12. Você se sente suficientemente informado(a) pela imprensa sobre os trabalhos do Congresso Nacional?
Sim: ( ) Pouco informado(a) ( ) Sim, Informado(a) ( ) Muito informado(a)
( ) Não Informado (a) ( ) Não sei
13. Em sua opinião, qual é a função da imprensa? ( ) Informar ( ) Denunciar ( ) Ser fórum de discussões
( ) Ajudar na tomada de decisões ( ) Outra: ___________ ( ) Não sei
Vou citar algumas instituições e gostaria de saber qual é o grau de confiança que você tem em cada uma delas:
14. Câmara dos Deputados?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança
( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança ( ) Não sei
15. Senado Federal?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança
( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança ( ) Não sei
16. Congresso Nacional?
( ) Muita confiança ( ) Alguma confiança
( ) Pouca Confiança
( ) Nenhuma Confiança ( ) Não sei

17. Com qual das seguintes frases você está mais de acordo:
( ) A democracia é preferível a qualquer forma de governo
( ) Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível à democracia
( ) Tanto faz se o governo é democrático ou autoritário, o que importa é ter um bom governo para o povo.
18. Com qual das seguintes frases você está mais de acordo:
( ) O Congresso Nacional é fundamental para a democracia
( ) Em algumas circunstâncias, o Congresso pode ser fechado.
( ) Podemos viver sem o Congresso Nacional. O que importa é ter um bom governo para o povo.
19. Você se lembra em quem votou para deputado federal em 2006?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não votou (facultativo) ( ) Não votou (pular para pergunta 21)
20. Lembra o partido do candidato?
( ) Sim Qual___________________ ( ) Não
21. Você se lembra em quem votou para senador na última eleição (2006)? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não votou
(facultativo) ( ) Não votou (pular para pergunta 23)
22. Lembra o partido?
( ) Sim Qual___________________ ( ) Não
23. Você poder dizer o nome de algum deputado federal em exercício?
( ) Sim Cite: ____________________________ ( ) Não
24. Você poder dizer o nome de algum senador em exercício?
( ) Sim. Cite: ___________________________ ( ) Não
Dados Pessoais:
25. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
26. Quantos anos você tem (completos no momento da visita):
( ) 16 ou 17 anos ( ) 18 a 24 anos ( ) 25 a 34 anos
( ) 35 a 44 anos ( ) 45 a 59 anos ( ) 60 anos ou mais
27. Você pode dizer qual é a sua renda familiar mensal?
( ) Até 2 SM ( ) Mais de 2 SM até 5 SM ( ) Mais de 5 SM até 10 SM ( ) Mais de 10 SM ( ) Não Sei
28. Qual é seu grau de escolaridade, mesmo que incompleta?
( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior ( ) Pós-graduação ( ) Não sei
29. Em que cidade você mora? Cidade:___UF:____
30. O que você faz (ocupação principal)? ___
( ) Desempregado Há quanto tempo? ______
Se já fez a visita, responda:
31. O que você mais gostou da visita:
( ) Plenário Câmara ( ) Plenário Senado ( ) Salão Verde
( ) Túnel do Tempo ( ) Nada ( ) Não sei
32. O que você menos gostou da visita:
33. Você aprendeu alguma coisa sobre a Câmara, ou sobre o Senado Federal e/ou o Congresso Nacional que não sabia
antes da visita?
( ) Não ( ) Sim O quê?_______________________
34. Sua opinião sobre o Congresso mudou após a visita? ( ) Não ( ) Sim Como?___________
Ana Lúcia Henrique - [email protected]
Submetido à publicação em dezembro de 2011.
Versão final aprovada em julho de 2013.

Thiago Sampaio Doutorando em Ciência Política
Universidade Federal de Minas Gerais
Marina Siqueira Mestranda em Ciência Política
Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Nas últimas três décadas, programas de educação cívica tornaram-se recorrentes em várias partes do mundo. Tais
programas possuem como princípio formulador o compromisso de imbuir nos envolvidos valores democráticos, desmistificar o
mundo da política e fomentar o interesse sobre a atuação do Legislativo. Este artigo analisa o processo cognitivo de
aprendizagem dos participantes do principal programa de educação cívica desenvolvido em Minas Gerais, o Parlamento Jovem
(PJ), e também discorre sobre os motivos que levam programas de educação cívica como o PJ a obterem resultados opostos aos
esperados. Além disso, apresenta os meandros da construção do conhecimento político nos participantes e o impacto do PJ. A
análise parte de dados obtidos na pesquisa quase-experimental “O Parlamento Jovem como espaço de socialização política?”.
Palavras-chaves: Parlamento Jovem; educação cívica; engajamento cívico; afeto; cognição política
Abstract: In the last three decades, civic education programs have become recurring in many parts of the world. Such programs
have as principle formulator the commitment to instill democratic values, demystify the world of politics and foster interest in the
work of the legislative. This article examines the cognitive process of learning of the participants of the main civic education
program developed in Minas Gerais, the Parlamento Jovem (PJ). As also discusses the reasons why civic education programs
such as the PJ to obtain opposite results than expected. Moreover, this paper presents the intricacies of the construction of
political knowledge among the participants and the impact of the PJ. The analysis is based on data obtained in the quasi-
experimental study “The young Parliament as locus of political socilaization?”.
Keywords: The Young Parliament; civic education; civic engagement; affect; policy cognition

Introdução1
O presente artigo analisa os efeitos gerados por programas de educação cívica na formação de
jovens cidadãos e verifica os fatores que levam à disparidade de conhecimento político entre os atores
envolvidos em tais programas. Nos últimos anos, programas de educação cívica foram fomentados com
o intuito de disseminar valores democráticos, sobretudo entre os jovens de países com instituições
políticas frágeis e instáveis.
Nesse sentido, espera-se que, a partir de intervenções focadas na informação e na vivência de
situações políticas, seja possível ampliar o conhecimento e interesse pelas questões políticas, como
também reordenar atitudes e valores possibilitando ações pautadas por princípios democráticos (FINKEL
& SMITH, 2011). No entanto, quais são os verdadeiros benefícios de tais programas para a construção de
uma sociedade mais democrática? De fato, quais são as variáveis que impactam a aquisição de
conhecimento político dos jovens?
Para responder a essas indagações, este artigo analisa o caso do Projeto Parlamento Jovem
(PJ) de Minas Gerais, edição de 2008. O PJ é exemplar na compreensão de como se estruturam os
programas de educação cívica no Brasil, pois ele agrega as características que regem o funcionamento e
objetivos dos vários outros programas em execução.
O PJ tem como público alvo os jovens do ensino médio das escolas públicas e privadas de Belo
Horizonte (MG). O programa nasceu da parceria entre a Escola do Legislativo de Minas Gerais (ELMG) -
vinculada à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) - e a Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas).
No Brasil, os programas de educação cívica possuem como característica marcante serem
promovidos pelo Poder Legislativo2 em articulação com ONGs, escolas e agentes internacionais. Tais
programas, em sua maioria, são gestados com objetivos que vão além do simples fortalecimento da
democracia: por trás, há, geralmente, o desejo de propagar a imagem do Legislativo como espaço
transparente e aberto ao diálogo (FUKS e FIALHO, 2009; MANGUE, 2008).
Desse modo, o PJ é pautado pela busca em ampliar o conhecimento político dos envolvidos3,
desmistificar o processo legislativo e melhorar a imagem da Assembleia Legislativa. Em síntese, é
esperado que, após participar do PJ, os jovens apresentem maior conhecimento político e que este
conhecimento impacte nas mudanças de atitudes, em especial, na confiança institucional. No entanto, é
isso mesmo que vem acontecendo?
Esse artigo parte da hipótese de que os jovens inseridos no programa estão lá por se
destacarem entre os demais, principalmente, no tocante ao conhecimento político. A própria seleção dos
participantes para o projeto já realiza esta clivagem. Isso acontece pois, quando as escolas não
selecionam os alunos que já se destacam por possuírem conhecimento diferenciado dos demais
(melhores alunos), elas deixam que a opção de participar ou não participar parta da iniciativa deles
1 Os autores agradecem a Mario Fuks por ter gentilmente cedido os dados da pesquisa “O Parlamento Jovem como espaço de
socialização política?” e a Ernesto Amaral pelas críticas e sugestões. 2 Programas desse tipo podem ser observados no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais, bem como em diversas
Câmaras Municipais. 3 Até a edição de 2009 do PJ Mineiro as oficinas de formação política eram promovidas por monitores do curso de Ciências
Sociais da PUC-MG. Este vínculo fortaleceu o objetivo do Projeto de propiciar aos participantes o aprendizado político. Devido a
esta característica não se deve ver o PJ como um projeto que quer propiciar somente a aproximação afetiva da ALMG e dos
participantes.

próprios. No entanto, aqueles que optam por participar, em sua maioria, apresentam maior nível de
conhecimento. Tais jovens, com bom nível de conhecimento político, têm posições mais sedimentadas
quando comparados àqueles que não apresentaram interesse em participar do programa. Com isso,
mudanças de postura provocadas por programas de educação cívica são quase imperceptíveis.
Nesse sentido, para responder às indagações propostas, iniciamos descrevendo como o
Parlamento Jovem funciona e o contextualizamos diante dos projetos de educação cívica existentes no
mundo. Na sequência, será apresentado como se desenvolve o processo de aprendizagem política. A
terceira seção apresenta o desenho da pesquisa para que se mantenha articulada com a teoria captando
as nuances das trocas de informações e estruturação do conhecimento. Por último, a análise dos dados
baseia-se na hipótese central de que a sofisticação política dos participantes do PJ transforma o
programa em uma arena contraproducente.
Educação cívica e o Parlamento Jovem (PJ)
O crescimento do número de projetos de educação cívica ao redor do mundo não acontece de
forma padronizada4. Há experiências relatadas destes programas vinculados a escolas (JENKINS et al,
1990), organizações não governamentais (FINKEL et al, 2000; FINKEL & SMITH, 2011), organizações
externas (CAROTHERS, 1997), próprio aparato governamental (SLOMZYNSKI & SHABAD, 1998) e instituições
de ensino superior (FUKS, 2011). No entanto, apesar de fomentados por instituições distintas,
apresentam como aspecto comum o desejo de munir o público alvo com informações políticas a partir de
atividades, palestras, dinâmicas e vivências sobre cidadania, participação política e democracia.
O PJ de Minas Gerais surge em 2004 e, a partir daí, passa a contar com edições anuais. Ele é
conduzido por monitores, alunos do curso de Ciências Sociais da PUC-MG, que são treinados por
professores do departamento de Ciências Sociais da universidade e pelo corpo técnico da ALMG. A
capacitação dada aos monitores visa, entre outros propósitos, possibilitar a atuação no desenvolvimento
de oficinas de formação política para os alunos participantes do Programa. As cinco primeiras oficinas
são teóricas e tratam dos seguintes temas: democracia, participação política, cidadania e Poder
Legislativo.
Após este período, os participantes são estimulados a debater sobre o foco da edição5 e sobre a
construção de “leis” que, posteriormente, serão analisadas por seus pares em plenária. Vale destacar
que, em Minas Gerais, o PJ é o projeto de educação cívica que possui maior investimento financeiro e
humano do Poder Legislativo estadual.
A metodologia do PJ é participativa6, com os participantes sendo desafiados a resolverem
problemas políticos práticos através de dinâmicas e atividades lúdicas. Intercalado com as oficinas nas
escolas, o projeto é acrescido de outras atividades, como palestras com especialistas sobre o tema da
edição, visitas técnicas à ALMG e PUC, oficinas de teatro e de expressão corporal.
4 Ver estudos de Finkel et al (2000) e Carothers (1997). 5 Cada edição possui um tema diferente para nortear os trabalhos de todas as escolas envolvidas. Este é votado na sessão de
abertura do projeto com a presença de todos os inscritos. Na edição de 2008, o tema foi: “Violência e Juventude: o jovem é
provocador ou vítima?”. 6 Ver Finkel & Smith (2011).

Após esse processo, há a Plenária Final do projeto7, onde as propostas são debatidas e postas
em votação. Quando aprovadas pelos jovens, as propostas são entregues à Comissão de Participação
Popular (CPP) e passam a tramitar na ALMG como projetos de leis.
Nesse aspecto, o PJ Mineiro diferencia-se dos demais Parlamentos Jovens do Brasil, já que a
Plenária Final possibilita que o programa não seja apenas uma simulação. Com base nisso, existe a
possibilidade de que ideias agregadas pelos participantes possam ser colocadas em prática podendo,
em alguns casos, ganhar o status de lei.
O PJ como mecanismo de “ativação” e socialização política para a juventude
O PJ procura estimular a socialização política daqueles que se encontram envolvidos em suas
arenas. Nesse sentido, ele cumpre a função de municiar e induzir os cidadãos à vida política. No entanto,
vale observar que tal função é, também, compartilhada por diversas outras instituições8. Assim, o PJ
vem dar complementaridade a tarefas já exercidas e que são desenvolvidas em intensidade maior por
instituições como a família e a escola, e como o alcance dessas instituições é mais amplo, os programas
de educação cívica são desenhados para não colidirem com valores que elas já transmitem.
Por outro lado, isso limita a atuação do PJ no debate de temas polarizados e que possam
colocar em xeque normas e valores preconizados pelas escolas participantes. Além de evitar esse
conflito, a tarefa do PJ torna-se ainda mais árdua pelo crescente desencanto e desinteresse sobre a
política que abraça os jovens contemporâneos (JENKINS et al, 2002).
Assim, o Parlamento Jovem apresenta-se como espaço de socialização voltado a ativar em seus
participantes valores como a confiança nas instituições, interesse pela política e participação cívica, além
de disseminar conhecimento político como ferramenta de solidificação da democracia e criação de um
ambiente político pautado pelo equilíbrio entre os atores e políticas mais justas. É necessário
compreender como se estrutura o conhecimento político, como ele é tratado dentro do PJ e os meios
utilizados para sua disseminação.
Aprendizagem coletiva: disseminando o conhecimento político
Para ser plena, a cidadania exige que os indivíduos tenham conhecimento sobre como funciona
o ambiente político (PUTNAM, 1996; ALMOND & VERBA, 1989; FINKEL et al, 2000; FINKEL, 2003; FINKEL &
ERNST, 2005). Quanto maior for a capacidade crítica da sociedade, mais legítimas serão as decisões
tomadas por quem governa. Assim, a democracia apresenta como condição primordial para sua própria
existência a exigibilidade de indivíduos capacitados para fazer escolhas9.
Por mais complexa que seja a questão política, desde o eleitor mais sofisticado ao de menor
conhecimento político, todos estão constantemente fazendo aferições sobre o mundo político. Tais
aferições baseiam-se em conhecimento prévio ou adquirido durante o debate e satisfazem a interesses
inerentes do indivíduo ou apresentados por eles como inerentes. Caso se considere que a racionalidade
passa pela capacidade de tomar decisões com a expectativa de atingir algum fim determinado, infere-se
7 A plenária final do PJ se realiza na plenária principal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 8 As instituições desempenham papel crucial na socialização política dos indivíduos, já que esta não acontece de forma
espontânea, sendo sempre dependente de estímulos para que possa ser desenvolvida (FUKS, 2010). 9 No entanto, caso esses indivíduos não queiram ou não seja possível que tomem decisões a todo instante, eles devem ter pelo
menos a capacidade de escolher aqueles que farão escolhas em seu lugar.

que esses eleitores pautam suas ações com base em escolhas racionais. No entanto, vale observar que a
escolha racional apoia-se em conhecimento. Por sua vez, a forma como é moldado o conhecimento
político pode, em alguns casos, levar os cidadãos a tomarem decisões “racionais” contrárias aos seus
interesses.
Nessa direção, o problema maior que frustra a capacidade do indivíduo em apontar as
melhores medidas para suas vidas não reside na falta de informação, e sim, na capacidade de processar
as informações disponíveis longe dos vieses. Isso ocorre porque os cidadãos não são meros receptores
de informação, eles decidem qual informação deve ser descartada e qual deve ser armazenada na
memória de longo prazo (LTM).
Assim, o conhecimento político representa uma série de informações organizadas e
processadas de acordo com a relevância destinada pelo receptor. Tais informações são posteriormente
armazenadas na memória de longo prazo e, quando despertadas, norteiam o julgamento político.
Todavia, vale destacar que a aquisição de conhecimento requer que os indivíduos tenham motivação e
disposição para arcar com o custo de se manterem informados.
Para induzir conhecimento aos cidadãos, as questões políticas são formatadas com affectives
tags, ou seja, carregam consigo sentimentos e sua valência positiva ou negativa (tags). Como os eleitores
não são uma folha em branco, já que possuem conhecimento prévio, as informações com affectives tags
serão responsáveis por recuperar e se articular àquilo que já está na memória de longo prazo (LTM)
tendo como passo seguinte a condução para a working memory (WM). Tal informação articulada com o
conhecimento prévio do indivíduo atuando na working memory fomentará a aquisição de mais informação
e norteará a ação a ser tomada por esse eleitor.
As affectives tags, em muitos casos, são responsáveis por promover julgamento político sem que
haja conhecimento sistematizado atuando como sugestão. Assim sendo, “people who lack information
solve enormously complex problems every day” (LUPIA & MCCUBBINS, 1998, p. 6), o que contradiz o discurso
de que o baixo nível de conhecimento e a propensão a tomar decisões atreladas a sugestões afetivas
seriam barreiras intransponíveis a políticas democráticas.
A ideia de que a democracia requer eleitores sofisticados com esquemas eficientes para
decisões políticas não atenta para o fato de que os indivíduos estão o tempo todo fazendo inferências
mais relevantes para a vida deles a partir de informações incompletas, assim como não é preciso possuir
conhecimento detalhado sobre o funcionamento das aeronaves para embarcar em uma acreditando que
ela possa subir e descer com segurança. No entanto, para suprir essa deficiência cognitiva,
constantemente, decisões são tomadas apoiadas apenas em esquemas e heurísticas (LUPIA &
MCCUBBINS, 2000).
Esquemas representam conhecimentos adquiridos por meio de experiências pessoais (CONOVER
& FELDMAN, 1984). A base do conhecimento humano é um frenético jogo de tentativa e erro. Partem daí
os primeiros indicadores simples, mas extremamente úteis na infância, como, por exemplo, quente/frio,
doce/salgado, alto/baixo, entre outros que protegem os indivíduos de perigos iminentes em suas vidas.
Com o passar dos anos, surgem esquemas mais sofisticados que ficam armazenados na mente humana
para, posteriormente, dirigir a leitura de novas informações e estruturar a ação a ser tomada (CONOVER &
FELDMAN, 1984). As affectives tags encarregam-se de promover a busca desse conhecimento na LTM.

Desse modo, sujeitos que passaram por experiências negativas com governantes de um
determinado partido como, por exemplo, desemprego provocado por crises econômicas, tenderão a se
tornar relutantes à possibilidade de voltarem a ser governados por membros desse mesmo partido.
Assim, cria-se um esquema de julgamento com base no passado fundado na ansiedade, e será a
ansiedade a barreira para a compreensão de que o partido outrora no governo pode ter mudado a
postura no presente. Entretanto, se não há nada no passado que atue como conhecimento para explicar
o presente, o eleitor se apega às sugestões ou heurísticas (KUKLINSKI & QUIRK, 2000). Essas sugestões
vêm, sobretudo, da família, dos amigos, da imprensa, dos grupos de interesse e de especialistas10.
As heurísticas são atalhos utilizados para obter informações e determinar o direcionamento do
processo de tomada de decisão. Elas estão relacionadas ao vínculo afetivo que o indivíduo mantém com
quem fornece a sugestão, de modo que seguir sugestões dadas por adversários é uma possibilidade
praticamente nula. Porém, acredita-se que aqueles que são iguais terão a mesma perspectiva e, sendo
assim, a opinião deles merece ser levada em consideração. Desse modo, as heurísticas passam a ser
uma estratégia racional para combater a ignorância (KUKLINSKI & QUIRK, 2000).
Vale ainda destacar que sem motivação os indivíduos não possuem atenção para se informar.
Ou seja, quando todos os esquemas dizem que a conjuntura política corresponde à expectativa traçada,
não é tão necessário ir atrás dos motivos de compreender o porquê da calmaria; assim, o ponto chave do
processo de aprendizagem política passa a ser como adquirir a atenção e como motivar os indivíduos a
se manterem informados.
A atenção é determinada pela relevância do fato político. Por exemplo, indivíduos ligados à
causa ambiental ficarão mais atentos às questões da política ambiental do que aqueles que não veem
grande importância no discurso ambientalista. Nesse sentido, para fazer os indivíduos mudarem de
posição é preciso primeiro conquistar a atenção deles. Conforme Lupia e McCubbins, “attention is a
prerequisite for learning anything. However, attention is scarce” (LUPIA & MCCUBBINS, 1998, p. 22).
Assim, os fatos políticos que têm relevância e que passam a ser incorporados dependem da
predisposição do indivíduo. No entanto, o que é preciso fazer para tornar os indivíduos receptíveis a todo
tipo de informação e capazes de selecionar aquelas que são realmente condizentes com os seus
interesses?
Como já dito, as crenças dos indivíduos guiam o entendimento da política, determinando, entre
aquelas informações que lhes são dirigidas, quais devem ser absorvidas e quais devem ser relevadas.
Com isso, de um conjunto de informações recebidas, os eleitores geralmente selecionam apenas aquelas
que lhes agradam. Por exemplo, aqueles vinculados ao governo tenderão a dar mais atenção às notícias
positivas sobre o governo e, mesmo em um pacote de notícias negativas, eles encontrarão um viés para
dar matiz positiva. Além disso, a crença do eleitor determinará qual o meio de comunicação ele deve
utilizar para colher informação, o que reduz o papel da mídia a repositório ao qual se recorre para
auxiliar no fortalecimento de uma opinião já estabelecida11.
Desse modo, o eleitor, em sua maioria, é informado, mas absorve as notícias da forma que lhe
agrada, criando justificativas para defender o que, em alguns casos, é indefensável, e é por isso que,
10 Porém, nem todas as sugestões serão aceitas ou até mesmo ouvidas, pois o eleitor tem suas convicções, e a elas se agarra e
reluta em contradizê-las. 11 Essa visão tira da mídia o papel de formadora de opinião e a torna mera formatadora de opinião.

muitas vezes, aparenta estar anestesiado a escândalos. Nesse sentido, não é por falta de informação que
os eleitores, às vezes, tomam decisões errôneas, mas, sim, pela incapacidade (que nada tem a ver com o
grau de escolaridade) de processar as informações disponíveis.
Uma vez que o afeto influencia na forma como as informações são processadas, sendo
determinante no direcionamento do julgamento político, a empatia se apresenta como meio de conseguir
a atenção e demover a opinião dos sujeitos. Empatia é a capacidade de compreender e até mesmo
experimentar sentimentos nutridos por outros, ou seja, é a possibilidade de sentir a dor do outro. A
empatia geralmente é obtida por meio do diálogo (DELLI CARPINI; COOK; JACOBS, 2004).
Com base nisso, nos últimos anos, para que o diálogo entre os atores produza decisões
democráticas e ajustadas à realidade, foram pensadas instituições que permitam aos indivíduos
trocarem experiências visando adquirir conhecimento político. No entanto, ter conhecimento não indica
que os indivíduos chegarão ao consenso, mas que eles conseguirão expor com clareza o seu ponto de
vista e poderão compreender as justificativas dos outros.
Apesar de nem sempre garantirem o consenso, esses espaços são profícuos por disseminarem
o conhecimento, apresentarem as diferentes perspectivas que nele circulam e contribuírem para
homogeneizar o conhecimento. Quanto mais homogêneo for o conhecimento político, mais equilibrada
será a distribuição dos recursos políticos12. Além disso, ampliam a confiança e fortalecem a democracia.
Isso ocorre pois “many political institutions allow citizens to observe a speaker's costly effort, to subject a
speaker to the threat of verification (i.e., cross-examination), or to know that the speaker faces penalties
for lying. These institutions can give citizens the ability to make reasoned choices” (LUPIA & MCCUBBINS,
2000, p. 49).
Decisões democráticas não necessariamente são justas. Para serem justas não é necessário
apenas passar pelo crivo de todos, mas, sobretudo, que os julgamentos a pautem sobre informações
verídicas e de fácil compreensão a todos. Se as informações se tornam exotéricas, as decisões passam
para as mãos daqueles habilitados para decifrá-las.
No Parlamento Jovem, a pesquisa demonstra que informações exotéricas se tornam o principal
empecilho, pois elas determinam como se dá a participação, ou seja, quem não possui um conjunto de
códigos específicos para atuar no ambiente do Parlamento não tem capacidade mínima de participação.
Dessa forma, o PJ transforma-se em uma arena onde o conhecimento político é essencial para
determinar quem fica, pois, como já foi dito, ele é aberto a quem desejar participar, dentro das escolas
selecionadas. No entanto, as distorções do conhecimento entre os participantes não são levadas em
consideração.
Como apresentado anteriormente, os indivíduos absorvem informações da maneira que melhor
lhes convier. Neste sentido, a influência do afeto determina quais questões têm relevância, o que deve
ser analisado com mais cautela e o que deve ser descartado. No Parlamento Jovem, os participantes são
envolvidos em um processo de aprendizagem comum para todos. No entanto, os resultados obtidos são
bem distintos. O objetivo do PJ é aumentar a capacidade cívica dos indivíduos envolvidos, entretanto, em
alguns casos, o que acontece é exatamente o contrário.
12 Vale ressaltar que aqueles com mais recursos políticos têm maior facilidade em obter conhecimento e decifrar o mundo
político.

Dito isto, como o Parlamento Jovem lida com os diferentes níveis de conhecimento dentro de
sua estrutura? Ele é capaz de diminuir a clivagem de conhecimento entre aqueles que dele participam?
Considerações metodológicas e tratamento dos dados
Os dados utilizados neste artigo fazem parte de um quase-experimento realizado com toda a
coorte do Parlamento Jovem de Minas Gerais, edição de 200813, contando também com grupo de
controle14. Desta forma, os dados aqui examinados estruturam-se em quatro níveis de informações:
participantes e não participantes (tratamento e controle, respectivamente) nos tempos 1 e 2 (antes e
após as atividades do projeto).
A análise dos dados desenvolveu-se com base em quatro variáveis dependentes formadas por
índices que delimitam o processo de aprendizagem do PJ, quais sejam: Índice de Conhecimento sobre a
Democracia; Índice de Conhecimento sobre Instituições do Poder Legislativo e Índice do Conhecimento
do Espectro Ideológico Partidário. No final, os três índices formam o Índice de Conhecimento Geral15.
Como a formação política proposta pelo Projeto Parlamento Jovem está focada em quatro
diretrizes - participação política, cidadania, democracia e poder legislativo, dois índices aqui utilizados
fazem parte dos temas trabalhados diretamente pelo programa: Índice de Conhecimento sobre
Democracia e Índice de Conhecimento sobre Instituições do Poder Legislativo. No tocante ao
conhecimento adquirido sobre espectro ideológico partidário, espera-se que ele decorra de ganho
indireto, pois só é conquistado mediante o interesse do participante em se informar para além do
oferecido pelo PJ. Este desenho dos índices parciais para originar o Índice de Conhecimento Geral foi
pensado exatamente com o objetivo de captar a direção do aprendizado, dando ênfase aos temas
trabalhados.
Como variáveis independentes para explicar a cognição/conhecimento político entre os grupos
de tratamento e controle, uma segunda bateria de índices sobre a importância da política para os
pesquisados é utilizada (ver Anexo 2). Novamente são criados quatro índices, três parciais: Índice de
Interesse por Política; Índice de Exposição às Informações Políticas e Índice de Percepção da Influência
da Política no Cotidiano. Em conjunto, eles formam o Índice Geral de Importância Política.
A hipótese é que aqueles que atribuem “maior importância da política para suas vidas” têm
uma dimensão afetiva com ela (affective tags), o que aumenta seu conhecimento ao longo do tempo. A
partir desta hipótese, também foram observadas as diferenças entre o grupo de tratamento e o de
controle.
Como estratégia metodológica, primeiramente, realizamos uma análise descritiva dos índices
de conhecimento levando em consideração os grupos de tratamento e controle nos tempos 1 e 2. Testes
de média e desvio-padrão são apresentados para subsidiar com significância estatística as
13 O banco de dados utilizado pertence à pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização política?”, coordenada
pelo professor Mario Fuks, do Departamento de Ciência Política (DCP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 14 O quase-experimento foi executado com pré-teste e pós-teste. Não foi possível estabelecer randomização, já que os
participantes do PJ não são escolhidos de forma aleatória. O emparelhamento deu-se por meio da seleção de estudantes com
perfil próximo àqueles que participam do PJ. Os estudantes não-participantes do PJ (175 no total) escolhidos para participar da
pesquisa foram agrupados no grupo de controle. Já os participantes do PJ (176 jovens) formam o grupo de tratamento. Vale
ressaltar que durante toda a análise os termos “grupo de participantes” e “grupo de tratamento” serão utilizados como
sinônimos, assim como “grupo dos não participantes” e “grupo de controle”. Vale destacar o predomínio de jovens de escolas
particulares de elite (99) e jovens de escolas públicas militares (98). 15 A descrição da construção metodológica dos índices está disponível com detalhes no Anexo 1.

interpretações aqui trabalhadas. Em seguida, expomos a tabela de contingência entre o Índice Geral de
Conhecimento e o Índice Geral de Importância Política, que permite visualizar com clareza a diferença
dos ganhos de aprendizado entre aqueles que possuem affective tags e os que não possuem, sendo
possível comparar os grupos ao longo do tempo. Por fim, para mensurar a magnitude dos efeitos do PJ
sobre o conhecimento, realizamos uma análise de regressão linear de Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO).
A análise de regressão agrega novas variáveis independentes já consideradas pela literatura
como preditoras de ganhos de aprendizagem. Segundo Fuks (2011), os espaços socializadores em níveis
primários (família) e secundários (ex.: escola) são preponderantes para distinguir sociologicamente
aqueles indivíduos que alcançarão maiores níveis de conhecimento. Não obstante, este mesmo autor
salienta que isto não é determinístico, pois ainda é necessário considerar atributos, habilidades e
predisposições individuais. Estas variáveis são levadas em consideração e esquematizadas da seguinte
maneira:
Quadro 1
Variáveis Independentes
Atributos Individuais
Sexo
Ano do Ensino Médio
Atribuição de importância à política
Propensão a debater
Atributos da família
Escolaridade dos pais
Posição de elite
Ambientes Socializadores
Escola com Grêmio
Tipo de Escola
Experiência de socialização anterior ao PJ
Fonte: Banco de dados da pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização política?”
Nessa perspectiva, o grau de conhecimento político é uma função das variáveis que compõem
os atributos individuais, familiares e ambientes socializadores. A forma matemática de escrever esta
função é a que segue:
y = f( x1, x2, x3, x4, xn,)
Ou seja:
Conhecimento = f (Participante, Masculino, Aluno do Terceiro Ano, Alta importância, Propensão a
debater, Escolaridade dos pais, Posição de elite, Escola com Grêmio, Escola privada, Experiência de
socialização anterior ao PJ).

Para mensurar o impacto de cada uma das variáveis sobre o conhecimento político é feita
análise de regressão. Além disso, para melhor compreensão das variáveis, foi utilizada a correlação de
Pearson. A análise de correlação indica que, para a estimação com estas variáveis, o modelo não terá
problema com o pressuposto de multicolinearidade, uma vez que não se tem correlações muito fortes.
No entanto, para esta afirmação ser realizada com propriedade, realizou-se o teste VIF e constatou-se
que o pressuposto da não colinearidade16 foi atendido. A equação da regressão e as hipóteses levando
em consideração cada variável são as seguintes:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 ... βnXn
Conhecimento Político = β0 + β1Participante + β2 Masculino + β3Aluno do Terceiro Ano + β4 Alta
importância + β5 propensão a debater + β6 Escolaridade dos pais + β7 Posição de elite + β8
Escola com Grêmio + β8 Escola privada + β9 Experiência de socialização + β10 Experiência de
socialização anterior ao PJ
Hipóteses para o modelo de regressão:
1. Participantes possuem maiores conhecimentos em relação aos não participantes. Isto devido aos
inscritos no PJ já serem alunos que possuem interesse e conhecimento sobre política prévios mais
acentuados do que aqueles que não se interessam em participar do projeto.
2. Homens tendem a possuir maiores conhecimento político, interesse e percepção da influência da
política sobre suas vidas do que as mulheres (VERBA; BURNS; SCHLOZMAN, 1997).
3. Alunos do terceiro ano possuem maiores conhecimento sobre política do que os do segundo ano.
Segundo Sears e Valentino (1997), o processo de socialização política dos jovens inicia mediante a
primeira experiência do voto e, como os alunos do terceiro ano têm, pelo menos, entre 17 e 18 anos de
idade, já são abrangidos pelo sufrágio. Como em 2008 - ano de realização da pesquisa - aconteceram
eleições municipais, a maior parte destes estudantes inseriu-se pela primeira vez neste ambiente de
tomada de decisões, o que, “naturalmente”, provoca a busca por mais informações sobre política.
4. Os alunos que possuem propensão a debater adquirem maior conhecimento do que aqueles que não
possuem propensão para debater. Em uma arena democrática de plenária - ambiente proporcionado
pelo PJ - onde o discurso e a mobilização são cruciais para a defesa dos interesses políticos defendidos,
o debate deve ser embasado sobre o conhecimento. Caso contrário, o adversário com conhecimento
sólido terá maiores chances de mobilizar a opinião dos demais. Desta forma, aqueles participantes que
se posicionam no debate político buscam reforçar seus argumentos mediante a busca de conhecimentos.
5. Aqueles que percebem alta importância na política possuem maior conhecimento sobre o assunto do
que aqueles que não possuem. Esta formulação é apresentada como hipótese norteadora deste artigo.
No entanto, faz-se necessário mensurar a magnitude de seu impacto sobre o conhecimento político. Em
16 Apesar de já se perceber um indicativo pelos coeficientes de Pearson de que não há colinearidade entre as variáveis, também
foi realizado o teste VIF (Fator de Inflação de Variância). Nele se observou que os valores das variáveis foram menores do que 5
(VIF < 5) e a média dos fatores foi de 1,73. Isto comprova que o pressuposto da não colinearidade é observado neste modelo.

outras palavras, quanto maior o envolvimento afetivo com a política (afecttive tags), maior o
conhecimento alcançado.
6. A escolaridade dos pais gera ganho positivo sobre o conhecimento dos filhos. Assim, quanto maior a
escolaridade dos pais maior o conhecimento político dos filhos.
7. Pais que possuem posição de elite impactam o conhecimento dos filhos por possibilitarem a eles
acesso diversificado às informações e estimularem a socialização política, ressaltando sempre as
questões políticas que interferem diretamente no cotidiano familiar. Desse modo, famílias cujos pais são
politizados direcionam, por exemplo, a identificação partidária e estruturam a visão que os filhos terão
da política (JENNINGS & NIEMI, 1968; TEDIN, 1974).
8. Alunos de escolas privadas são mais propensos ao conhecimento político do que alunos de escola
pública. Os primeiros são estimulados a manter visão crítica sobre a política e a se posicionarem como
líderes, já os segundos não são encorajados a debates políticos; para eles, a política é algo distante e
nocivo às suas vidas. Além disso, os alunos de escolas privadas geralmente dispõem de mais recursos
materiais e tempo para se informar.
9. O fato de possuir outras experiências socializadoras é um indicativo de sujeitos que demonstram
interesse pela política e desejam ampliar o conhecimento político. Assim, entende-se que ambientes
socializadores estimulam o compartilhamento de valores, símbolos e conhecimentos entre os
frequentadores destes ambientes e a busca por novos meios como, por exemplo, o PJ para compartilhar
a aprendizagem adquirida.
Análise dos Resultados
O Índice de Conhecimento sobre Democracia mede a quantidade de conhecimento dos
pesquisados sobre regras básicas do sistema político. A Tabela 1, formada pelo somatório dos acertos
sobre as questões democráticas, mostra, tanto através da soma, quanto pela média, que os grupos de
tratamento (não participantes) e controle (participantes) ampliaram o conhecimento ao longo do tempo.
A soma do grupo de controle passa de 801 para 809, a média passa de 4,767 para 4,816
(aumento de 0,0476). O grupo de tratamento, no tempo 1, começa com menos acertos do que o grupo
de controle (soma 790 acertos contra os 801). Nesse sentido, o Índice de Conhecimento sobre a
Democracia aponta que os participantes alcançaram ganhos ínfimos em comparação àqueles que não
participaram do PJ. Não há, também, como inferir que esses ganhos se deveram apenas ao PJ, pois o
teste de média não apontou significância entre as diferenças das médias (p = 0,398). Quanto à
capacidade do projeto em nivelar o conhecimento entre os seus participantes e deixá-los como um grupo
mais homogêneo, também não foi estatisticamente significante ao realizar o teste de desvio-padrão,
tomando como base o grupo de controle (p = 0,778).

Tabela 1
Descrição de indicadores do conhecimento político
MG (2008)
Soma Média
Desvio
Padrão Variância
Conhecimento sobre
democracia
Grupo de
Controle
Tempo 1 801 4,7679 0,99684 0,994
Tempo 2 809 4,8155 1,0068 1,014
Grupo de
Tratamento
Tempo 1 790 4,7305 1,06101 1,126
Tempo 2 810 4,8503 1,02163 1,044
Geral Tempo 1 1668 4,9791 1,08729 1,182
Tempo 2 1715 5,1194 1,0196 1,04
Conhecimento sobre
Instituições do Poder
Legislativo
Grupo de
Controle
Tempo 1 690 4,1071 1,40161 1,964
Tempo 2 672 4 1,53209 2,347
Grupo de
Tratamento
Tempo 1 717 4,2934 1,23362 1,522
Tempo 2 721 4,3174 1,38881 1,929
Geral Tempo 1 1407 4,2 1,32186 1,747
Tempo 2 1393 4,1582 1,46885 2,158
Conhecimento do Espectro
Ideológico Partidário
Grupo de
Controle
Tempo 1 242 1,4405 1,59228 2,535
Tempo 2 287 1,7083 1,59473 2,543
Grupo de
Tratamento
Tempo 1 350 2,0958 1,54543 2,388
Tempo 2 342 2,0479 1,73833 3,022
Geral Tempo 1 592 1,7672 1,60075 2,562
Tempo 2 629 1,8776 1,67402 2,802
Fonte: Pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização política?”
O Índice de Conhecimento sobre Instituições do Poder Legislativo mensura a capacidade dos
entrevistados em compreender como se configura o Legislativo. Nesse índice, os participantes
apresentam o mesmo tímido crescimento no conhecimento. Na Tabela 1, é possível perceber um leve
salto da média do conhecimento do grupo tratamento de 4,29 para 4,31, seguido por um leve aumento
no desvio-padrão17. Esses fatores apontam para a polarização do conhecimento, ou seja, certo grupo de
participantes do PJ ganha conhecimento, enquanto outra parcela mantém estável ou perde
conhecimento.
No cômputo geral, a Tabela 1 demonstra certa capacidade do PJ em, pelo menos, manter o
conhecimento prévio dos participantes sobre o Legislativo, já que o grupo de controle encolheu
abruptamente o conhecimento (690 no “tempo 1” para 672 no “tempo 2”). Por outro lado, vale ressaltar
que os participantes são sujeitos politicamente mais sofisticados do que os não participantes. Assim,
dificilmente, mesmo que fora do PJ, o conhecimento deles seria reduzido, já que é um público que busca
constantemente manter-se informado.
A Tabela 1 apresenta ainda o Índice sobre o Espectro Ideológico Partidário, que mede o
conhecimento dos pesquisados sobre a política partidária e sobre o posicionamento dos partidos no
17A diferença entre as médias é significativa segundo o teste de média (p = 0,023).

ambiente político. Esse índice denota certa deficiência do PJ em ampliar o conhecimento, pois o grupo
não participante conseguiu ganhos expressivos, enquanto os participantes “desaprenderam”.
Ainda na Tabela 1, vemos que a média de acertos do grupo de controle sobe de 1,441 para
1,708, já a média do grupo tratamento, que era 2,09 passou para 2,04. Além disso, há aumento
expressivo no desvio-padrão e variância, indicando uma tendência de diferenciação intragrupos, ou seja,
o conhecimento passa a ser mais disperso entre os participantes. Essa diferenciação do desvio-padrão
entre os grupos é significativa para 90% de confiança, ou seja, o p = 0,084.
Desse modo, quando observado o Índice de Conhecimento Geral, percebe-se que 70,9% dos
participantes classificavam-se com muito conhecimento sobre a política, enquanto os não participantes
com muito conhecimento representavam 70,6%. Porém, no decorrer do programa, houve grande queda
de conhecimento entre os participantes. Com isso, no final do programa, apenas 65,2% encaixavam-se
entre os de muito conhecimento, obtendo assim redução de 5,2%, enquanto a redução dos não
participantes foi de apenas 3,6%. Portanto, os não participantes terminam o período com mais
conhecimento do que aqueles que participaram. O Gráfico 1 ilustra esse cenário:
Gráfico 1
Indivíduos com muito conhecimento (%)
MG (2008)
Dessa forma, fica clara a falha em possibilitar a disseminação de conhecimento sobre a política
para os envolvidos no PJ. Mas o que leva a esse cenário desastroso? Ele é uniforme entre todos os
participantes?
O que dirige a forma que se dá o conhecimento é, sem dúvida, a ligação afetiva que os
indivíduos mantêm com as questões políticas. Nesse sentido, dentro do PJ, aqueles com maior interesse
e, consequentemente, maior conhecimento, dominam o ambiente, cabendo aos que possuem baixo
interesse e baixo conhecimento limitarem-se ao papel de espectadores. Nesse sentido, o conhecimento
do grupo com maior interesse cresce e o do grupo com menor interesse fica estagnado ou até mesmo
sofre redução. Na Tabela 2, fica perceptível como se estabelece essa relação:
Fonte: Pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização política?”

Tabela 2
Cruzamento entre o Nível de Importância da Política e o Conhecimento
MG (2008)
ÍNDICE DE IMPORTÂNCIA Soma Média Desv. Pad.
Pouco importante
Índice conhecimento democracia – Tempo 1 14,00 2,0000 0,81650
Índice conhecimento democracia – Tempo 2 11,00 1,5714 0,97590
Índice conhecimento partidário – Tempo 1 1,00 0,1429 0,37796
Índice conhecimento partidário – Tempo 2 0,00 0,0000 0,00000
Índice conhecimento legislativo – Tempo 1 16,00 2,2857 0,48795
Índice conhecimento legislativo – Tempo 2 15,00 2,1429 1,34519
Índice conhecimento geral – Tempo 1 10,00 1,4286 0,53452
Índice conhecimento geral – Tempo 2 4,00 0,5714 0,53452
Importante
Índice conhecimento democracia – Tempo 1 231,00 2,4574 0,78514
Índice conhecimento democracia – Tempo 2 236,00 2,5106 0,68383
Índice conhecimento partidário – Tempo 1 111,00 1,1809 1,00496
Índice conhecimento partidário – Tempo 2 109,00 1,1596 1,11975
Índice conhecimento legislativo – Tempo 1 260,00 2,7660 0,70977
Índice conhecimento legislativo – Tempo 2 268,00 2,8511 0,94990
Índice conhecimento geral – Tempo 1 91,00 0,9681 0,92110
Índice conhecimento geral – Tempo 2 114,00 1,2128 0,52614
Muito importante
Índice conhecimento democracia – Tempo 1 176,00 2,6667 0,64051
Índice conhecimento democracia – Tempo 2 188,00 2,8485 0,43826
Índice conhecimento partidário – Tempo 1 120,00 1,8182 0,94314
Índice conhecimento partidário – Tempo 2 122,00 1,8485 1,08475
Índice conhecimento legislativo – Tempo 1 192,00 2,9091 0,85444
Índice conhecimento legislativo – Tempo 2 198,00 3,0000 0,78446
Índice conhecimento geral – Tempo 1 34,00 0,5152 0,84567
Índice conhecimento geral – Tempo 2 98,00 1,4848 0,61375
Fonte: Pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização política?”
A partir da observação dos dados para os grupos de tratamento e de controle, pode-se inferir
que os ganhos de conhecimento acontecem, mormente, entre aqueles que possuem dimensão afetiva
com a política. Assim, os indivíduos que possuem níveis elevados de conhecimento logo dominam o
espaço sem que haja possibilidade de criar um ambiente de conhecimento próximo a ser homogêneo.
Como já apresentado, o conhecimento se deposita na memória de longo prazo (LTM) com suas
respectivas affective tags e, quando despertado pelo afeto, é transportado para a memória de trabalho
(WM). A aprendizagem é, então, dependente da capacidade de atrair a atenção que, por sua vez, se
relaciona ao conhecimento prévio. Assim, pode-se afirmar que “a cornerstone of any model of political
reasoning is the citizen’s preexisting knowledge and predilections” (LODGE & TABER, 2005, p. 480).

Predileções que irão, outrossim, determinar em quem confiar quando for travado algum debate ou surgir
a necessidade de tomar posição. Dessa forma, aqueles com conhecimento mais baixo adotam a opinião
daqueles em quem eles confiam. Com isso, não raro, os membros de uma mesma escola terão opinião
assemelhada como também aqueles de escolas similares (públicas de baixa renda, particulares, etc.)
tenderão a ter opinião parecida. Neste sentido, modelos de comportamento que são encarados como
apenas provenientes da formação escolar e renda dos indivíduos inseridos no PJ devem-se também, em
parte, à confiança mantida entre os mais próximos.
Dessa forma, os sujeitos que ingressam no PJ com muito interesse pela política são aqueles
que obtêm maiores ganhos de conhecimento, já que são mais vigilantes às condicionantes do ambiente.
Já os que não dispensam muita atenção à política (baixo interesse) são aqueles com os piores ganhos.
Além disso, aqueles com interesse maior pela política, com o passar do tempo, tendem a
manter níveis de conhecimento mais homogêneos. Desse modo, ao observar, na Tabela 2, o desvio-
padrão do Índice de Conhecimento, verifica-se que no tempo 1 ele era de 0,845, caindo para 0,613 no
tempo 2, já os que demonstraram pouco interesse mantiveram o mesmo desvio-padrão nos tempos 1 e 2
(0,534).
Nesse formato, entendemos que os sujeitos, ao ingressarem no PJ, apesar da baixa idade,
fazem-no com certa bagagem de conhecimento que não deve ser desprezada. Tal bagagem é reflexo,
sobretudo, de sugestões familiares e do ambiente escolar, mas que no PJ ganham o impacto da
confiança mútua. Por sua vez, a confiança vincula-se ao afeto, pois a possibilidade de empatia e troca de
experiências é maior entre aqueles com perspectivas e interesses compartilhados. Todavia, qual o
impacto do Parlamento Jovem quando se consideram todas estas variáveis que aumentam ou diminuem
a probabilidade de os indivíduos serem informados sobre política?
Para mensurar a magnitude explicativa destas variáveis e verificar o impacto do PJ sobre o
conhecimento político, foi realizado um modelo de regressão de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).
Vale relembrar que nosso modelo explicativo possui três dimensões: características individuais (sexo,
escolaridade, atribuição de importância à política e propensão a debater); ambiente familiar
(escolaridade dos pais e classe social) e demais ambientes socializadores (escola pública ou privada,
possuir espaços de participação como grêmios estudantis).
Para visualizar com maior clareza a relação entre as variáveis, a Tabela 3 apresenta os
coeficientes de correlação de Pearson. A interpretação é realizada da seguinte forma: quanto mais perto
de 1 ou -1, maior o grau de correlação, quanto mais se aproxima do “0”, menos correlacionadas as
variáveis estão.

Tabela 3
Coeficiente de correlação de Pearson entre variáveis de interesse
MG (2008)
Índic
e d
e
Conhecim
ento
Políti
co-
Tem
po 2
Part
icip
ante
Atr
ibui alt
a
import
ância
à
políti
ca
Pro
pensão a
debate
r
Escola
pri
vada
Alu
no d
o
Terc
eir
o A
no
Fato
r com
a
escola
ridade
do p
ai e d
a
mãe
Hom
em
Outr
a
experi
ência
de
socia
lização
ante
rior
ao P
J
Atu
al escola
possui G
rêm
io
Posiç
ão d
e
elite
Índice de
Conhecimento
Político –
Tempo 2
1
Participante 0,107 1
Atribui alta
importância à
política
0,248** 0,109* 1
Propensão a
debater 0,239** -0,033 0,078 1
Escola
privada 0,343** -0,009 0,226** 0,077 1
Aluno do
Terceiro Ano 0,192** 0,001 0,032 0,060 0,078 1
Fator com a
escolaridade
do pai e da
mãe
0,416** 0,022 0,274** 0,139* 0,653** -0,021 1
Homem 0,217** 0,002 0,010 0,031 0,097 -0,024 0,034 1
Outra
experiência
de
socialização
anterior ao PJ
0,185** 0,043 0,083 0,120* 0,148** 0,102 0,178** -0,014 1
Atual escola
possui
Grêmio
0,270** 0,090 0,234** 0,073 0,128* -0,112* 0,323** 0,009 0,102 1
Posição de
elite 0,278** -0,039 0,176** 0,140* 0,632** 0,005 0,577** 0,060 0,149** 0,120* 1
**. A correlação é significante para um nível do α de 0,01.
*. A correlação é significante para um nível do α de 0,05.
Fonte: Pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização política?”
Os coeficientes de Pearson mostram que a variável mais correlacionada com o grau de
conhecimento dos adolescentes é a escolaridade dos pais (0,416). Esta relação é positiva e significativa
ao nível de confiança de 95%, por isso, pode-se considerar que, quanto maior a escolaridade dos pais,
maiores serão as chances de os filhos serem bem informados. Com exceção das variáveis participantes,
alunos do terceiro ano e outras experiências socializadoras, as demais possuem um nível baixo de
correlação; no entanto, devem ser consideradas como preditoras de conhecimento.
O modelo de regressão (Tabela 4) é significativo a um nível de confiança de 99% (p<0,001) e
seu poder explicativo sobre as variáveis que influenciam a variação do conhecimento político é de 30,4%
(R2 = 0,304). Ao todo são consideradas 670 observações, sendo 335 no tempo 1 e 335 no tempo 2.

Tabela 4
Coeficientes e erros-padrão estimados por modelo de mínimos quadrados ordinários para
condicionantes que afetam o Índice Geral de Conhecimento
MG (2008)
Variáveis independentes
Conhecimento
Político
Beta
Conhecimento
Político
Beta Padronizado
Parlamento Jovem
Participante 0,623** 0,103
(0,282)
Tempo 2 1,168*** 0,192
(0,331)
Interação Participante x Tempo (Efeito do PJ) –0,192 –0,027
(0,397)
Atributos Individuais
Feminino Referência Referência
Masculino 1,130*** 0,181
(0,204)
Aluno do Segundo Ano Referência Referência
Aluno do Terceiro Ano 1,724*** 0,171
(0,331)
Baixa e Média Importância Referência Referência
Alta importância 1,279*** 0,209
(0,272)
Não propensão a debater Referência Referência
Propensão a debater 0,446** 0,071
(0,211)
Atributos da Família
Fator de escolaridade dos pais 1,144*** 0,331
(0,157)
Posição sem ser de elite Referência Referência
Posição de elite –0,239 –0,039
(0,268)
Ambientes Socializadores
Escola sem Grêmio Estudantil Referência Referência
Escola com Grêmio Estudantil 0,040 0,022
(0,060)
Escola Pública Referência Referência
Escola Privada 0,499* 0,082
(0,292)
Não possui experiências socializadoras
anterior ao PJ Referência Referência
Experiência de socialização anterior ao PJ 0,697** 0,074
(0,319)
Obs.: O Erro Padrão de cada coeficiente está entre parênteses.
Nota: R² = 0,322, N= 323 * p < 0,1 ; ** p < 0,05; *** p<0,01.
Fonte: Pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização política?”
De acordo com a Tabela 4, ao se fazer a análise dos coeficientes, a afirmativa de que os
participantes do Parlamento Jovem já começam o programa com maiores conhecimentos sobre política
é confirmada com 95% de confiança. Ser participante causa efeito de 0,623 sobre o conhecimento
político se comparado aos não participantes, mantendo as demais variáveis do modelo constantes. Vale
destacar que, ao longo do tempo, tanto o grupo de tratamento quanto o de controle ganham
conhecimento sobre política.
O tempo 2 causou influência de 0,192 sobre o conhecimento dos entrevistados em relação ao
tempo 1 mantendo as demais variáveis constantes. Isto pode ser explicado devido à efervescência do

momento eleitoral de 2008, ano em que foi realizada a pesquisa, e a faixa etária dos entrevistados
correspondente à primeira experiência do voto.
No entanto, ao separar somente o efeito do Parlamento Jovem sobre os participantes ao longo
do tempo, medido pela variável “Interação Participante x Tempo” - que foi construída pela multiplicação
do tempo e do grupo -, percebe-se que o projeto tem efeito nulo, por não ser significativo no modelo,
porém, tendendo a ser negativo. Este achado corrobora o indicado pela análise descritiva anterior. Isto
significa que o grupo de controle desenvolve o seu conhecimento com mais sucesso do que os
participantes do PJ. Entretanto, esta afirmação deve ser analisada cuidadosamente, pois é preciso
perceber quem perde e quem ganha com o projeto.
Os ganhos de conhecimento político são assimétricos entre os participantes: no grupo que
admite relação afetiva com a política, ao atribuir alta importância a ela em sua vida, o impacto é de
0,209 sobre o conhecimento. Este coeficiente significativo ao nível de confiança de 99% mostra que o PJ
tem efeito positivo entre aqueles que têm relação afetuosa com a política. Assim, por um lado, os mais
interessados são aqueles com maiores ganhos, pois eles são mais expostos às informações políticas e
percebem a influência direta da política em seus cotidianos. Por outro lado, os participantes
desencantados, que possuem relação afetiva mais tênue com a política, tendem a permanecer no mesmo
estágio de conhecimento de quando ingressaram no projeto ou a se confundirem ainda mais sobre o
universo político. Sendo assim, o projeto não consegue estimular um ambiente de equiparação de níveis
de conhecimento, ao contrário, estas diferenças acentuam-se ao longo do tempo.
Os coeficientes de regressão da Tabela 4 ainda trazem uma curiosidade sobre as variáveis que
conduzem o sucesso dos ganhos de conhecimento e confirmam as hipóteses apresentada para este
modelo. As variáveis que compõem a dimensão individual são todas estatisticamente significativas, o que
mostra: ser homem tem impacto de 1,130 no conhecimento em relação às mulheres, ser do terceiro ano
agrega mais conhecimento em detrimento dos demais alunos do Ensino Médio (1,724), e aqueles que
possuem propensão a debater destacam-se sobre os demais participantes, com influência de 0,446
sobre a ampliação do conhecimento.
A variável sobre os atributos da família com maior poder explicativo sobre a aquisição de
conhecimento é a escolaridade dos pais: aumentando um ano de escolaridade dos pais, e mantendo as
outras variáveis constantes, eleva-se 1,144 a probabilidade de o filho ter conhecimento sobre política.
Esta afirmação é feita levando em consideração o nível de confiança de 99%. A escolaridade dos pais
mostrou-se, neste modelo, o preditor com maior impacto sobre o conhecimento político, isto ao se
observar que, entre as variáveis é a que apresenta o maior coeficiente padronizado (0,331)18.
Já em relação aos ambientes socializadores, ser de escola privada impacta o conhecimento em
0,499 ao se comparar com a escola pública, isto para um nível de confiança de 90%. Por sua vez, já ter
participado de outros ambientes de socialização antes do Parlamento Jovem aumenta em 0,697 o
conhecimento, tendo como referência debutantes em programas de educação cívica. Isto a um nível de
confiança de 95%.
18 O beta padronizado se encontra em uma escala de desvios-padrão, o que torna sua interpretação não intuitiva - aumentando
um grau na escolaridade dos pais, aumenta-se 0,331 desvios-padrões sobre o conhecimento. No entanto, ele apresenta a
possibilidade de comparação dos resultados do impacto dos coeficientes sobre a variável dependente.

Tanto a variável “ser pertencente à elite” quanto a variável “estudar em escolas com grêmios”
não foram significativas estatisticamente ao se considerar todas as variáveis do modelo ceteris paribus.
Os pressupostos estatísticos obrigatórios para apresentação dos coeficientes da regressão foram
observados.
Os dados apresentados, tantos os originados da estatística descritiva (medidas de centro e
variância) quanto da inferencial, mostraram a direção do processo do aprendizado político
proporcionado pelo PJ aos participantes. Aqueles que possuíam dimensão afetiva com a política mais
consolidada foram os que obtiveram os melhores resultados esperados, quando comparados aos
“desencantados”. Isto pelo fato de o PJ não conseguir com êxito criar um ambiente homogêneo entre os
participantes para que o conhecimento fosse disseminado de maneira igualitária.
Considerações Finais
A promoção da educação cívica vem sendo tratada como essencial para a consolidação e
difusão dos princípios democráticos. Assim, programas como o Parlamento Jovem preenchem esse
espaço na formação política de jovens estimulando a capacitação para disseminação de normas e
valores. No entanto, esse processo enfrenta obstáculos que levam a resultados opostos ao esperado.
O desencanto pela política é o óbice primário a ser transposto. O PJ volta-se a mobilizar e
motivar sobre questões que, para a maioria dos jovens, são alheias ao cotidiano e de difícil
compreensão. Com isso, a estratégia utilizada pelo programa atinge apenas uma pequena parcela
possuidora de grau moderado de sofisticação política, ou seja, aqueles jovens com baixo interesse e
conhecimento pela política têm pouca motivação para participar de programas de educação cívica.
Dessa forma, como foi demonstrado aqui, o PJ concentra indivíduos cuja visão sobre o mundo
político é distante da demonstrada pela maioria dos jovens não participantes. Os efeitos do programa
são, mais uma vez, mitigados, pois, ao agregar apenas aqueles com sofisticação política à tarefa de
remodelar normas e valores que tais indivíduos recebem de instituições como, por exemplo, a família, o
programa provoca reações como desestímulo a continuar participando ou, em alguns casos, conduz os
participantes a se manterem na defensiva.
Aqueles mais sofisticados, possuidores de esquemas poderosos sobre o ambiente político logo
partem para o contra-ataque apresentando justificativas adequadas às suas crenças e dificultando o
processo de consolidação e difusão de princípios democráticos. Por outro lado, quando isso não
acontece, o que se percebe é a ampliação do desencanto. Com isso, há a construção da política como
espaço onde predominam interesses pessoais e coadunam objetivos escusos.
Desse modo, o desempenho dos participantes restringe-se a condicionantes moldadas pela
cognição e pelo afeto. Consequentemente, o PJ é limitado na consecução daquilo a que se propõe. O
conhecimento adquirido pelos participantes é distante do ideal, ou seja, o que a pesquisa apresenta é
que não há homogeneização dos princípios democráticos com o desencanto, muitas vezes criado pelo
PJ, levando a níveis díspares de aprendizado entre os envolvidos.

Referências Bibliográficas ALMOND, G.; VERBA, S. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton: Princeton University
Press, 1989.
CAROTHERS, T. “Democracy assistance: the question of strategy”. Democratization, vol. 4, nº 3, p. 109-132, 1997.
CONOVER, P.; FELDMAN, S. “How people organize the political world: a schematic model”. American Journal of Political
Science, vol. 28, n° 1, p. 95-126, 1984.
COSSON, R. Escolas do legislativo, escolas de democracia. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008.
DELLI CARPINI, M.; COOK, L.; JACOBS, L. “Public deliberation, discursive participation, and citizen engagement: A review of the
empirical literature”. Annual Review of Political Science, vol. 7, p. 315-344, 2004.
FINKEL, S. “Can democracy be taught?” Journal of Democracy, vol. 14, nº4, p. 137-151, 2003.
FINKEL, S.; ERNST, H. “Civic education in post-apartheid South Africa: alternative paths to the development of political
knowledge and democratic values”. Political Psychology, vol. 26, nº 3, p. 333-364, 2005.
FINKEL, S.; SABATINI, C.; BEVIS, G. “Civic education, civil society, and political mistrust in a developing democracy: the case
of the Dominican Republic”. World Development, vol. 28, p. 1851-1874, 2000.
FINKEL, S.; SMITH, A. “Civic education, political discussion and the social transmission of democratic knowledge and values
in a new democracy: the 2002 Kenya”. American Journal of Political Science, vol. 55, n° 2, p.417-435, 2011.
FUKS, M. “Efeitos diretos, indiretos e tardios: trajetórias da transmissão intergeracional da participação política”. Lua Nova,
vol. 83, p. 145-178, 2010.
_________. “Atitudes, cognição e participação política: padrões de influência dos ambientes de socialização sobre o perfil
político dos jovens”. Trabalho apresentado no IV Congresso Latino Americano de Opinião Pública da WAPOR. Belo
Horizonte, 2011.
FUKS, M.; FIALHO, F. “Mudança institucional e atitudes políticas: a imagem pública da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (1993-2006)”. Opinião Pública, vol. 15, nº1, p. 82-106, 2009.
JENKINS, K.; ANDOLINA, M.; KEETER, S.; ZUKIN, C. “Searching for the meaning of youth civic engagement: notes from the field”.
Applied Developmental Science, vol. 6, n° 4, p. 189-195, 2002.
JENKINS, K.; ZUKIN, C.; ANDOLINA, M. Three core measures of community-based civic engagement: evidence from the youth
civic engagement indicators project. In: Child Trends Conference on Indicators of Positive Development. Washington, DC;
1990.
JENNINGS, K.; NIEMI, R. “The transmission of political values from parent to child”. The American Political Science Review,
vol. 62, n° 1, p.169-184, 1968.
KUKLINSKI, J.; LUSKIN, R. “Where the schema? Going beyond the “s” word in political psychology”. The American Political
Science Review, vol. 85, n° 4, p.1341-1356, 1991.
KUKLINSKI, J.; QUIRK, P. Reconsidering the rational public: cognition, heuristics, and mass opinion. In: LUPIA, A.; MCCUBBINS,
M. D.; POPKIN, S. L. (eds.). Elements of reason: cognition, choice, and the bounds of rationality. New York: Cambridge
University Press, p. 153-82, 2000.
LODGE, M.; TABER, C. “The automaticity of affect for political leaders, groups, and issues: an experimental test of the hot
cognition hypothesis”. Political Psychology, vol. 26, n° 3, p.455-482, 2005.
LUPIA, A.; MCCUBBINS, M. The democratic dilemma: Can citizens learn what they need to know? New York: Cambridge
University Press, 1998.
_________. The institutional foundations of political competence: how citizens learn what they need to know. In: LUPIA, A.;
MCCUBBINS, M. D.; POPKIN, S. L. (eds.). Elements of reason: cognition, choice, and the bounds of rationality. New York:
Cambridge University Press, p. 47-66, 2000.
MANGUE, D. “(In)formação, um caminho para a participação política? Um estudo de caso sobre o programa de educação para a
cidadania da ALMG”. Belo Horizonte. p. 214. Dissertação de Mestrado em Ciência da Informação - Escola de Ciência da
Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

PUTNAM, R. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: FGV, 1996.
SEARS, D.; VALENTINO, N. “Politics matters: political events as catalysts for preadult socialization”. The American Political
Science Review, vol.91, n° 1, p. 45-65, 1997.
SLOMZYNSKI, K.; SHABAD, G. “Can support for democracy and the market be learned in school? A natural experiment in post-
communist Poland”. Political Psychology, vol. 19, n° 4, 1998.
TEDIN, K. “The influence of parents on the political attitudes of adolescents”. The American Political Science Review, vol. 68,
n°. 4, p.1579-1592, 1974.
VERBA, S.; BURNS, N.; SCHLOZMAN, K. “Knowing and caring about politics: gender and political engagement”. The Journal of
Politics, vol. 59, n° 4, p. 1051-1072, 1997.
Anexo 1
Construção dos Índices de Conhecimento Político
Índice de Conhecimento sobre Democracia (ICD)
O Índice de Conhecimento sobre a Democracia foi criado a partir da pergunta que pedia aos
participantes apontarem a presença ou ausência na democracia de elementos como: o direito ao voto, o
poder do Presidente em fechar o Congresso, aprovação direta das leis pelos cidadãos, entre outras
questões. Recodificaram-se estas respostas como “Acertou” = 1 e “Errou” = 0. Somaram-se os erros e
acertos de cada um. Assim, o menor escore que os respondentes podiam alcançar era 0 no caso de erro
em todas as respostas e 8 a maior pontuação possível nos casos em que houvesse acerto em todas as
questões.
A categorização desta variável obedeceu ao seguinte critério: aqueles que não acertaram
nenhuma resposta ou acertaram apenas uma foram categorizados como conhecimento “Muito Baixo”;
aqueles que responderam corretamente a duas ou três questões são os de conhecimento “Baixo”; os que
acertaram quatro possuem um nível razoavelmente “Normal”; quem obteve um escore de cinco e seis
acertos foi considerado como de conhecimento “Alto”; por fim, os respondentes que tiveram sete e oito
acertos obtiveram um nível de conhecimento “Muito alto”.
Índice de Conhecimento sobre Instituições do Poder Legislativo (ICPL)
Este índice foi originado a partir da variável que media o conhecimento dos entrevistados
acerca das instituições que compõem o Poder Legislativo. As respostas foram recodificadas como
“Acertou” = 1 e “Errou” = 0. Novamente, somaram-se os erros e acertos de cada um, o menor escore
que os respondentes podiam alcançar era 0, caso errassem todas as respostas, e a maior pontuação
alcançada era de 6 no acerto de todas as respostas.
A mesma escala de 5 pontos foi utilizada para classificar o conhecimento dos respondentes
sobre o poder Legislativo: “Muito Baixo”, “Baixo”, “Normal”, “Alto”, “Muito Alto”. Os categorizados como
“Muito Baixo” não acertaram nenhuma questão; conhecimento “Baixo” estavam entre 1 e 2 acertos;
aqueles que foram considerados como “Normal” responderam corretamente 4 ou 5 questões; os que
acertaram as 6 opções foram os de conhecimento “Muito Alto”.

Índice de Conhecimento do Espectro Ideológico Partidário (ICP)
Este índice foi formado obedecendo ao mesmo padrão dos outros dois índices. Baseou-se na
questão que pedia aos respondentes que classificassem os partidos políticos entre direita e esquerda. A
variável foi binarizada considerando “0” os erros e “1” os acertos. A soma da pontuação de acertos de
cada respondente variou entre 0 e 6, que, respectivamente, referem-se àqueles que não acertaram
nenhuma e aos que acertaram todas. Novamente, categorizaram-se os acertos como: 0, conhecimento
“Muito Baixo”; 1 e 2, conhecimento “Baixo”; 3,”Normal”; 4 e 5, “Alto”; e 6 “Muito Alto”.
Índice Geral de Conhecimento
Índice formado a partir da soma dos índices anteriores (ICD, ICPL, ECP). No entanto, para a
sua construção, optou-se por fazê-lo em uma escala de três pontos: “Pouco Conhecimento”,
“Conhecimento Razoável” e “Muito Conhecimento”. A manipulação dos dados para se chegar a esta
escala aconteceu da seguinte forma: para cada um dos índices (ICD, ICPL, ECP), recodificou-se sua
escala original agregando o “Baixo” e “Muito Baixo” como “Pouco Conhecimento” (= 0). “Alto” e “Muito
Alto” foram considerados como “Muito Conhecimento” (= 2). Por sua vez, os de conhecimento “Normal”
passaram a ser classificados como “Conhecimento Razoável” (=1). Esta estratégia foi necessária por
observarmos que havia grupos com pouquíssimos casos, o que poderia complicar a análise estatística
quanto à significância dos dados. Ao agrupá-los, estes ficaram mais robustos para as análises,
apresentando no mínimo 30 casos para cada uma das novas categorias.
Após a recodificação dos índices, estes foram somados. A escala do Índice Geral variou de 0 a
6. Esta foi recategorizada da seguinte forma, os escores 0 e 1 foram chamados de “Pouco
Conhecimento”, pontuações entre 2 e 4 como “Conhecimento Razoável” e por fim, 5 e 6 pontos como
“Muito Conhecimento”.
Anexo 2
A construção dos Índices de Importância Política
Índice de Exposição à Informação Política
Este índice mede os hábitos dos entrevistados na aquisição de informação sobre a política e se
baseia na questão: com que frequência os entrevistados se informavam sobre política através de jornais,
conversas, TV, internet, entre outros. O procedimento para criação do índice foi pensado para três
pontos: “Pouco informado”, “Informado”, “Muito Informado”. Os que se informavam diariamente foram
recodificados como 2 (“Muito informado”); os entrevistados que buscavam informações algumas vezes
por semana ou algumas vezes por mês foram classificados como 1 (“Informado”); e os que se
informavam raramente ou nunca receberam o código 0 (“Pouco Informado”).
Após esta recodificação, somaram-se os escores dos respondentes. Esta soma variou de 0 a 14.
Os entrevistados que se informavam diariamente em todos os meios possíveis obtiveram o máximo de
14, e aqueles que raramente ou nunca se informavam ficaram com o mínimo de 0. Esta soma foi
recategorizada da seguinte forma: os respondentes com pontuação de 0 a 4 foram considerados “Pouco
Informados” (= 0); se esta foi de 5 a 9 foram classificado como “Informados” (= 1); e os que obtiveram
pontuação acima de 10 foram classificados como “Muito informados” (= 2).

Índice de Interesse por Política
O Índice de Interesse por Política visa captar o grau de interesse dos entrevistados em relação à
política ele foi concebido a partir de uma única questão, que pede ao entrevistado que responda: “Em
relação à política você é muito interessado, interessado, pouco interessado ou nada interessado?”.
Esta variável foi recodificada como: “Pouco Interessado” (=0), aqueles que declararam possuir
pouco ou nenhum interesse por política. Os “Interessados” passaram a receber o código “1” e os “Muito
interessados” foram recodificados como “2”. Como é um índice formado por apenas uma pergunta, não
foi preciso fazer somatórios. Assim, a variação do índice de interesse por política varia de 0 a 2 (pouco
informado, informado e muito informado).
Índice de Atribuição de Influência da Política
Este índice mede o quanto os entrevistados consideram como influentes os procedimentos
políticos no dia-a-dia. A questão que deu origem a este índice perguntava: “Você diria que o que acontece
na política tem muita influência, alguma influência, pouca influência ou nenhuma influência na sua vida”?
Como no índice anterior, o mesmo procedimento foi seguido: agregou-se “nenhuma influência”
à “pouca influência”, e isto foi recodificado como 0. Os que disseram que a política tinha “alguma
influência” passou a receber o código 1. Aqueles que declararam “muita influência”, receberam o código
2. A recodificação desta maneira foi necessária para construir categorias padrões entre os índices.
Quanto mais perto de 0, menos importância a variável medida possui na vida do respondente, quanto
mais perto de 2, mais influência.
Índice Geral de Importância Política
O Índice Geral de Importância Política foi elaborado a partir dos três índices anteriores (Índice
de Exposição à Informação política, Índice de Interesse por Política e Índice de Atribuição de Influência
da Política). Tal índice surgiu para possibilitar a captação dos perfis de indivíduos capazes de explicar
seus comportamentos frente à aquisição de conhecimento.
A variação do somatório possível é de 0 a 6. Recodificaram-se os escores 0 e 1 como “pouco
importante” (=1), ou seja, a política possui pouca importância para sua vida; as pontuações entre 2 a 4
foram classificadas como “importante” (=1); e os escores entre 4 a 6 remetem aos que consideram a
política como “muito importante” (=2).
Thiago Sampaio - [email protected]
Marina Siqueira - [email protected]
Submetido à publicação em março de 2012.
Versão final aprovada em novembro de 2012.

Glauco Peres da Silva
Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais (NECI)
Universidade de São Paulo
Centro de Estudos da Metrópole (CEM) - CEBRAP
Resumo: O objetivo deste artigo é avaliar empiricamente a competição eleitoral para o cargo de deputado federal no Brasil e a
sua dimensão regional, que se apoia nos conceitos de distritos eleitorais informais (AMES, 2001; 2003) ou grotões políticos
(HUNTER E POWER, 2007; ZUCCO, 2008). Este artigo considera as eleições entre 1994 e 2010 e utiliza um indicador de desequilíbrio
(TAAGEPERA, 1979) em análise temporal como critério básico da avaliação do controle regional do voto, já que o Número Efetivo de
Partidos (NEP) não capta a descentralização da disputa eleitoral. Os resultados indicam que a ausência de competição não é
regra da disputa política no país, que a tese dos distritos eleitorais carece de evidência empírica e que os políticos que evitam a
competição nem sempre se elegem e não são os mesmos em uma mesma localidade ao longo do tempo.
Palavras-chave: competição eleitoral; distritos informais; deputado federal; grotões; Índice T
Abstract: The aim of this paper is to empirically evaluate the electoral competition in the Brazilian election for Congress. The
evaluation focused on the regional dimension of electoral competition, what is sustained by concepts such as informal electoral
districts (AMES, 2001; 2003) or political hamlets (HUNTER AND POWER, 2007; ZUCCO, 2008). This paper considers electoral results
from 1994 to 2010 and uses the imbalance index (TAAGEPERA, 1979) in a timing frame perspective as basic criteria because the
Effective Number of Parties does not capture the decentralization of electoral competition. Results suggests that the personal and
regional political control is not the rule of political competition in Brazil; the informal district theory lacks of empirical support
and, the politicians that are successful in avoiding competition do not always get elected and vary in their power over electorate
through time.
Keywords: electoral competition; congressman; hamlets; Index T

Introdução1
A avaliação da competição eleitoral é um antigo fenômeno de interesse da Ciência Política.
Desde Duverger (1951), as regras eleitorais, balizadoras daquela competição, tornaram-se pontos
relevantes da análise do sistema político de qualquer país. A chamada “Lei de Duverger” abriu caminho
para inúmeros trabalhos que avaliam empiricamente diferentes sistemas eleitorais em vários países
(p.ex., RAE, 1967 e LIJPHART, 1990). Como resultado destes trabalhos, observa-se que sistemas
proporcionais apresentam maior número de partidos do que sistemas majoritários, o mesmo
acontecendo na comparação entre distritos multimembros com aquele onde se elege um único
representante (SCHOFIELD et al, 1998).
O debate sobre o caso brasileiro, que nas eleições para as Câmaras de Deputado Federal e
Estaduais adota o sistema proporcional de lista aberta em distritos multimembros, caminhou para a
interpretação de que a competição dar-se-ia entre os candidatos de uma mesma lista, o que
enfraqueceria os partidos políticos e, ao mesmo tempo, incentivaria os candidatos a concentrarem seus
esforços espacialmente. Tentariam, desta maneira, criar redutos nos quais trocariam votos por apoio
político. Assim, haveria esta dupla dimensão ao se tratar de competição eleitoral no Brasil: por um lado,
os candidatos disputariam entre si uma posição de destaque na lista de seu partido, acirrando a
competição, mas, por outro, tenderiam a criar áreas nas quais controlariam o eleitorado, evitando a
disputa (MAYHEW, 1974; MAINWARING, 1991; LAMOUNIER, 1989; AMES, 1995a; 1995b; 2001, entre outros).
Esta interpretação, que faz com que Ames afirme existir distritos eleitorais informais, está em linha tanto
com o conceito de conexão eleitoral, quanto com a visão arraigada no senso comum sobre a existência
de grotões políticos: “pequenos municípios pobres do país” (JACOB et al, 2009) também de baixa
escolaridade (CAMPELLO e ZUCCO, 2008) que estariam sujeitos ao controle político individual2. Neste
cenário, o incentivo seria por evitar a competição individual regional a todo custo.
Parte da literatura, como Nicolau (2006) e Braga (2006), já buscou identificar a disputa interna
à lista. Argumentam que a disputa de fato existe e é elevada, confirmando os incentivos proporcionados
pelas regras eleitorais. Porém, a literatura ainda não tratou da dimensão regional da competição. Esta
pode ser subdividida em dois aspectos: o nível de competição regional propriamente dito e a insistência
de um político como o deputado federal associado a regiões particulares que consegue evitar a disputa.
Contrariamente à transposição do modelo de conexão eleitoral americana, trabalha-se com a hipótese
alternativa de que os incentivos eleitorais não são fortes o suficiente para que os políticos consigam
Além de Pesquisador Associado do NEC-FFLCH/USP e do CEM-CEBRAP, o autor é professor do Mestrado Profissionalizante em
Administração da Fundação Escola de Comércio “Álvares Penteado” (FECAP). 1 O autor agradece ao grupo de Estudos Eleitorais do Cebrap, notadamente a Fernando Limongi e a Andreza Davidian, e aos
participantes no seminário organizado pelo Cepesp/FGV, na figura do prof. George Avelino Filho. Os comentários foram
relevantes para a execução deste trabalho, mas as observações de praxe sobre a responsabilidade do texto permanecem. Este
artigo foi financiado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEBRAP, USP), processo nº 2013/07616-7, Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas são de
responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da FAPESP. 2 Para Soares e Terron (2008), grotão refere-se a áreas de apoio a partidos conservadores, inclusive aqueles que suportavam a
ditadura militar. Esta imagem está associada ao favorecimento do status quo, que permaneceria no poder através do controle de
regiões concentradas nas áreas mais pobres do país (MONTERO, 2010). Em outras análises (HUNTEr e POWER, 2007 e ZUCCO, 2008),
esta abordagem se repete ao buscar compreender o sucesso eleitoral de Lula. Porém, de acordo com Santos (2006) e Velho
(2006), esta interpretação, ainda concordante com a imagem do coronelismo de Vitor Nunes Leal, não mais corresponderia à
realidade, mas ainda permaneceria não só no imaginário popular, como também, segundo Santos, ainda influenciaria as análises
acadêmicas.

evitar a disputa com candidatos de outros partidos, nem que seja de seu interesse permanecer em sua
carreira política apenas como deputado federal, condições para a existência da conexão eleitoral. A
dificuldade em evitar a competição local baseia-se na inexistência de restrições institucionais a que um
deputado envie pork para qualquer região do estado ou que faça campanha em áreas que seriam de
outros; ainda, sabe-se que a participação do prefeito nas disputas eleitorais para a Câmara Federal tem
influência positiva sobre o total de votos que os candidatos a deputado do mesmo partido recebem
(AVELINO et al, 2012); e também é sabido que os deputados federais não adotam padrão estático de
carreira, inclusive por manifestarem preferência por cargos executivos (SAMUELS, 2003; MARENCO DOS
SANTOS, 1997). Ademais, deve-se ressaltar que compreende-se que a competição seja uma característica
do território3, e não dos políticos. Estes podem intencionar concentrar seus votos em determinada
região, mas é da combinação das ações do conjunto de candidatos que se avaliará se a eleição em
determinada localidade é ou não competitiva.
É neste contexto que este artigo busca avançar o debate sobre a competição eleitoral para as
eleições legislativas brasileiras. Para avaliá-la, são investigadas as disputas para o cargo de deputado
federal, resgatando o indicador de desequilíbrio T de Taagepera (1979), com enfoque na preponderância
individual nos resultados das eleições por município ao longo do tempo. O índice de desequilíbrio
permite avaliar a participação não só do candidato mais votado em cada localidade, mas também dos
demais, consequentemente, indicando o nível de competição eleitoral. Além disto, é fundamental que se
verifique a permanência do deputado neste cargo, uma vez que a sua dominância política perene é a
base teórica da tese da ausência de competição eleitoral. Os resultados encontrados aqui sugerem que
as eleições para deputado federal no Brasil são competitivas e que esta competição acontece por todo o
país. É possível demonstrar que a competição eleitoral varia regionalmente no Brasil, respondendo ao
nível de urbanização das cidades, mas também que o nível de disputa vem crescendo ao longo do tempo
em todo o país. As capitais são mais competitivas do que as demais cidades, mas não há indícios de que
regiões mais pobres ou menos populosas sejam menos competitivas do que as demais. Além disso, o
aumento no número de prefeitos do estado acaba por tornar as eleições em todos os seus municípios
menos competitivas, o mesmo acontecendo com relação à representação pelo número de cadeiras em
disputa: quanto mais sobrerrepresentado um estado no Congresso Nacional, menor o nível de
competitividade das eleições ali.
Para cumprir seu intuito, o artigo primeiro discute as análises existentes sobre o sistema
eleitoral brasileiro, focando nas mensurações utilizadas para caracterizá-lo segundo a competição
eleitoral. Em seguida, apresenta uma visão sobre a competição eleitoral para, depois, demonstrar
empiricamente esta tese com a análise da competição nas eleições para deputado federal entre 1994 e
2010. Em seguida, são feitas as considerações finais.
3 Importante dizer que, ao contrário do que se propõe aqui, a discussão apresentada em Avelino et al se refere às características
dos candidatos em disputa. A análise desses autores é, portanto, complementar à discutida aqui.

Consequências do Sistema Eleitoral Brasileiro
A relação entre os sistemas eleitorais e o sistema político como um todo vem sendo objeto de
análise sistemática por muitos pesquisadores. Desde autores fundamentais, como Rae (1967) e Lijphart
(1990), as principais variáveis do sistema eleitoral, como magnitude do distrito e fórmula eleitoral, estão
intimamente vinculadas aos resultados das eleições, analisados pelo grau de proporcionalidade da
representação e pelo número de partidos. Consequentemente, trabalhos contemporâneos buscam
compreender as implicações decorrentes das regras eleitorais sobre o funcionamento dos sistemas
políticos nacionais4. Um texto clássico neste sentido é o de Carey e Shugart (1995), que avalia a
influência do sistema eleitoral sobre o voto pessoal5. O caso brasileiro também tem sido pensado a partir
desta perspectiva.
De acordo com a interpretação tradicional sobre o funcionamento do sistema político brasileiro,
que culmina com as dificuldades institucionais do Poder Executivo em governar o país, a origem dos
males políticos está nas regras eleitorais6, redundando na conexão eleitoral. Definição criada para
explicar originalmente o sistema político americano (MAYHEW, 1974; CAIN; FEREJOHN e FIORINA, 1987), esta
justifica a dinâmica legislativa dispersiva e o consequente enfraquecimento dos partidos no Brasil
(LAMOUNIER, 1989; MAINWARING, 1991). Seguindo esta interpretação, as regras eleitorais brasileiras
imporiam comportamento individualizado entre os candidatos a deputado ao promover a disputa
inclusive entre companheiros de legenda, pois apresentariam como objetivo individual colocar-se o
melhor possível na lista aberta fornecida ao eleitorado. Em decorrência, o elevado número de candidatos
e partidos na disputa e a necessidade de cada candidato buscar recursos para sua campanha acabariam
por incentivar o voto pessoal (SAMUELS, 1999; NICOLAU, 2006). Resultante desta identificação pessoal
entre candidatos e eleitores, os deputados, uma vez no Congresso, atuariam com vistas a retribuir os
votos recebidos pelo atendimento de demandas locais via pork em detrimento do debate sobre questões
nacionais. A localidade para a qual o deputado volta as suas ações no Congresso, também chamada de
distrito eleitoral informal, constituiria sua zona de dominância política e se estabeleceria uma relação
pessoal de troca entre pork e votos (AMES, 1995a; 1995b; 2001; PEREIRA e RENNÓ, 2001, entre outros).
Nesta abordagem, Ames propõe uma mensuração do nível de dominância obtido por um
deputado em dada eleição. O autor define quatro tipos de distribuição de votos: concentrada-dominante;
concentrada-compartilhada; fragmentada-dominante; e fragmentada-compartilhada. Dentro destes
grupos, ele enfatiza que as estratégias eleitorais direcionariam os candidatos a buscarem votos em suas
áreas de dominância e, nos casos de votação dispersa, angariar votos em segmentos discretos de
eleitores, uma vez que os distritos eleitorais são muito grandes. Como os candidatos ao Legislativo
competiriam por espaço físico, eles buscariam estabelecer-se em municípios onde os eleitores e os
líderes políticos locais os apoiam. É nas cidades que os políticos estabeleceriam seu apoio político, com
foco na formação de redutos eleitorais. A preocupação de cada deputado é, assim, garantir que nenhum
4 Como exemplo, Queralt (2009) trata do efeito das eleições repetidas sobre o comportamento dos eleitores; Amorim Neto e Cox
(1997) avaliam a relevância da permissividade do sistema eleitoral sobre o número de partidos. 5 Para uma discussão mais atualizada, vide Crisp, Jénsen e Shomer (2007). 6 Para uma excelente apresentação do funcionamento das regras eleitorais no Brasil e sua importância em diferentes aspectos do
sistema político, vide Nicolau (2006).

outro político se arrisque a buscar votos em suas regiões. Cada deputado buscaria proteger estas áreas,
formando redutos de controle político.
Por esta perspectiva, portanto, não há espaço para a competição política. Competição e
concentração de votos são faces de uma mesma moeda. Os deputados, ao conseguirem concentrar seus
votos, evitam a existência de qualquer concorrência, notadamente em seus redutos eleitorais. Levada ao
extremo, a tendência do sistema é a formação de um conjunto de redutos eleitorais onde os deputados
federais estabeleceriam uma relação clientelista baseada na pork barrel politics. Ainda que uma região
fosse declarada compartilhada, os incentivos para o comportamento paroquial permaneceriam (MELO,
2005), sem que se observasse qualquer competição eleitoral. Nesta perspectiva, falar sobre competição
eleitoral carece de sentido teórico, o que, de outra forma, reforça a visão comum sobre a formação e
manutenção dos grotões políticos no país.
Entretanto, sob outra perspectiva, há autores que criticam essa visão e observam excessivo
nível de competição eleitoral. Por exemplo, Kinzo et al (2004) apresentam que, entre 1986 e 2002, a
representação partidária na Câmara dos Deputados brasileira foi altamente fragmentada. Utilizando o
Número Efetivo de Partidos (NEP), os autores encontraram aproximadamente oito partidos efetivos entre
as eleições de 1990 e de 2002, demonstrando elevada volatilidade eleitoral para o período. Ainda,
Limongi (2006) analisa as votações nas coligações por município para avaliar a competição eleitoral no
Brasil. Sua análise descritiva mostra que não procede a ideia da ausência de competitividade nas
eleições brasileiras, nem que municípios pequenos sejam não competitivos, já que candidatos que
concorrem por listas partidárias distintas recebem votos na grande maioria das cidades. Mas, como o
próprio autor afirma, é preciso encontrar formas mais sofisticadas de avaliar competição.
O diagnóstico sobre competição eleitoral derivada da conexão eleitoral não incorpora alguns
incentivos presentes no sistema político brasileiro que podem alterar o debate. Em primeiro lugar, não
há nenhuma razão institucional para se afirmar que os deputados atuem com vistas a atender apenas a
uma determinada área do distrito eleitoral (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2008). Qualquer deputado pode, por
exemplo, propor emendas eleitorais para qualquer cidade, a despeito da quantidade de votos que tenha
recebido ali. Seria possível imaginar, por exemplo, que um deputado utilizasse este instrumento para
expandir a sua zona de influência, invadindo áreas que seriam redutos de outros deputados. Nem há
mecanismos para que um deputado evite que outros façam campanhas em sua região. Um político não
possui meios para impedir que outros busquem votos em sua área de interesse, principalmente
candidatos de outros partidos. Além disto, o resultado da eleição para prefeito, que se dá no meio do
mandato dos deputados federais, tem importância para o desempenho dos candidatos a deputado.
Pode-se supor que um deputado com uma área geográfica de eleitores bastante definida veria aumentar
a concorrência nas eleições seguintes se políticos de partidos de oposição ganhassem as prefeituras das
cidades desta área (CARNEIRO e ALMEIDA, 2008; AVELINO et al, 2012). Por fim, a argumentação proposta
por Ames (1995a) assume implicitamente que um deputado que forme um reduto buscará disputar
eleições futuras neste mesmo cargo. Afinal, esta seria a maneira de sustentar o seu reduto ao longo do
tempo. Porém, outros autores (p.e., Samuels, 2003, p. 18), evidenciam que os deputados não só não

permanecem em uma estratégia de carreira estática, como manifestam preferência por cargos
executivos. Tal situação provocaria o surgimento de oportunidades para que outros políticos se elejam
deputado com os votos daquela região. Se confirmada, esta alternância provocaria algum grau de
competição entre políticos pelos votos de uma determinada localidade. Assim, este arranjo institucional
que deriva das regras eleitorais brasileiras surge como fator relevante para a competição eleitoral
individual para os cargos legislativos no Brasil.
Já no que tange a aspectos metodológicos, apesar de apresentar avanços consideráveis sobre o
funcionamento do sistema político nacional, a utilização do NEP camufla a própria fragmentação do
sistema. Por exemplo, o apontamento da existência de oito partidos em média para o período de 1986 a
2002 não informa se são oito grandes partidos ou se alguns destes partidos efetivos correspondem à
junção de partidos menores, um caso de elevada fragmentação. Seria possível, por exemplo, que
houvesse quatro partidos grandes e outros tanto menores que, ao serem agregados pela regra de cálculo
do indicador, comporiam os oito encontrados. Neste sentido, a sua utilização não dá conta de explicar
uma dificuldade inerente ao sistema político nacional que é a sua alta fragmentação. Este cenário torna-
se ainda mais dramático ao se investigar a competição com referência aos próprios candidatos. Ao
avaliar se há formação de distritos eleitorais informais, é fundamental analisar a competição eleitoral
individual, pois serão os deputados que disputarão influência sobre o território e buscarão garantir que
outros políticos não interfiram em suas áreas ao longo do tempo. Assim, é necessário não só buscar uma
nova forma de mensurar a competição eleitoral individual, como também é preciso introduzir sua análise
temporal, notadamente no nível subnacional, pois, se há estabilidade na relação política com o
eleitorado, deve-se avaliar como se dão as disputas políticas ao longo do tempo.
Definição e Mensuração da Competição Eleitoral
A interpretação tradicional sobre o sistema político brasileiro apresenta duas dimensões de
análise com relação à competição eleitoral: a disputa pelo posicionamento dentro da lista partidária e a
distribuição espacial doso votos de cada deputado. Na primeira dimensão, os candidatos a deputado
federal concorreriam entre si, principalmente com companheiros de legenda, para obter número mais
elevado de votos e, consequentemente, melhor posição na lista partidária ou da coligação. Esta
dimensão, que pode ser chamada de interna, se dá em razão da adoção da lista aberta para eleições
proporcionais. Os políticos se veem obrigados a trabalhar ao longo da campanha em prol de uma
colocação de destaque dentro da lista de seu partido de forma a elegerem-se. Quanto à segunda
dimensão, os deputados eleitos buscariam delimitar áreas específicas dentro do distrito eleitoral de
forma a reduzir os seus custos de campanha, como também a possibilitar o direcionamento de recursos
públicos federais através de práticas clientelistas. Esta dimensão da competição eleitoral, que pode ser
chamada de regional, conduziria os deputados a evitar a disputa em áreas que seriam de seu interesse
particular. Cada político possuiria, assim, uma região específica no distrito para a qual direcionaria seus
esforços ao longo do mandato, o que reduziria os custos de campanhas futuras. Há, assim, um duplo
incentivo que é aparentemente contraditório: dentro da lista, os candidatos disputam votos entre si; mas,
desde que os candidatos atinjam regiões distintas do estado, seus esforços se somam para eleger maior
número de representantes.

Dentro da perspectiva espacial da disputa eleitoral, há dois desdobramentos relevantes que a
caracterizam. O primeiro está relacionado à concentração regional dos votos. Desde Ames (1995a,
1995b), associa-se a disputa eleitoral para cargos legislativos à garantia da formação de um distrito
informal. Em cada área, o deputado exerceria a sua dominância e, nos casos em que não fosse possível a
vinculação espacial, o político elegeria um segmento definido do eleitorado para focar seus esforços
enquanto representante na Câmara. Cabe destacar que trabalhos mais recentes, como Avelino et al
(2011), avançam nesta discussão ao aplicar indicadores mais precisos sobre a concentração regional do
voto e acabam contemporizando os resultados previstos pela literatura ao mostrar que a concentração
não parece ser a estratégia adotada pelos deputados. De qualquer maneira, a formação destas áreas
assemelhar-se-ia à formação dos grotões, áreas mais afastadas dos centros urbanos, em geral menos
desenvolvidas, e onde os políticos teriam maiores condições de perpetuarem-se no poder (MONTERO,
2010; CAMPELLO e ZUCCO, 2008). Estas áreas estariam mais sujeitas à dominância política, onde o
controle político conservador seria mais presente, o que está de acordo com a formação dos distritos
informais.
O segundo desdobramento do aspecto regional da competição eleitoral vincula-se ao controle
sobre os votos do eleitorado. Ainda de acordo com a interpretação tradicional, o deputado, ao criar um
reduto de interesse, procuraria atender este eleitor com o envio de recursos públicos em uma clara
prática clientelista. Estes redutos seriam evitados pelos demais políticos, resultando em um ambiente
sem competição. Isto implica uma análise temporal: o deputado precisa se reeleger caso tenha a
intenção de manter o mesmo grau de influência política na área. Para o caso de concorrer a outro cargo,
como o de prefeito, abre espaço para outro indivíduo assumir seu posto e contestar sua influência na
região. Assim, a análise temporal torna-se fundamental para a análise da competição regional.
Nesse sentido, Pereira e Rennó (2007) afirmam que a taxa de renovação da Câmara é baixa, já
que 68% dos deputados, em média, procuram manter-se no cargo e que 67% destes obtêm a reeleição.
Isto implica dizer que, em média, 54% dos deputados de uma legislatura não estiveram na legislatura
anterior. Ademais, considerando-se que a escolha de recandidatar-se é endógena, uma vez que o
deputado possui alguma informação sobre suas chances de reeleger-se, e ainda que, em média, 56% dos
deputados eleitos estejam em seu primeiro mandato, gerando o número médio de mandatos para toda a
Câmara igual a 1,7 (MARENCO DOS SANTOS, 1997), parece pouco convincente afirmar que os deputados
federais adotam uma estratégia de carreira estática. De qualquer maneira, a opção pela carreira estática
é um fato ainda contestável. O deputado tem condições de evitar a competição desde que, pelo menos,
permaneça na disputa por este cargo e, desta forma, tenha condições práticas de continuar como líder
político daquela área.
Assim, a fim de observar a competição eleitoral regional de votos no Brasil, é preciso lançar
mão de indicadores apropriados para a mensuração da competição. A competição eleitoral está
vinculada ao grau de disputa pelos votos dos eleitores entre os diferentes concorrentes, sejam
candidatos ou partidos. Uma eleição será mais competitiva se houver número maior de candidatos do
que o número de cadeiras em disputa (CARAMANI, 2003, p. 416). Porém, uma eleição não é competitiva

se, mesmo havendo mais candidatos do que cadeiras em disputa, um candidato predominar sobre os
demais e conseguir a grande maioria dos votos. Assim, quanto menor a margem de votos obtida pelos
candidatos mais votados em relação aos demais, mais competitiva a eleição naquela localidade
(CARAMANI, 2003, p.417)7. Esta definição é proposta como base para a mensuração de competição
eleitoral neste artigo.
Particularmente à mensuração da competição eleitoral, a literatura internacional adota
diferentes parâmetros de análise. Em termos gerais, utiliza-se o número efetivo de partidos, a margem
percentual de vitória do candidato eleito ou o total de votos ou cadeiras obtidos pela oposição. Há
também trabalhos que consideram a diferença de votos entre o último eleito e o primeiro não-eleito.
Holbrook e Van Dunk (1993) propõem um indicador que considera estes diferentes aspectos
simultaneamente: percentual de votos recebidos pelo candidato vencedor, a sua margem de vitória, quão
“segura” é a cadeira e se a disputa foi ou não contestada. Estes representam, em linhas gerais, os
diferentes meios utilizados para mensurar a competição.
Estes índices operam adequadamente quando o sistema é majoritário ou está organizado em
distritos que elegem apenas um representante. No caso de sistemas proporcionais organizados em
distritos multimembros com listas abertas, estas medidas são insuficientes. Um candidato pode se
eleger mesmo que não obtenha mais votos do que candidatos de outras listas, simplesmente em razão
de sua lista ter recebido mais votos do que as demais8. Além disto, um político pode se candidatar por
um partido em determinada eleição e por outro na seguinte, ou ainda não concorrer ao mesmo cargo.
Estas situações dificultam, por exemplo, trabalhar com a margem com a qual o político se elegeu ou
com o grau de contestação da cadeira entre eleições. Deve-se, portanto, lançar mão de outra forma de
avaliar a competição local em sistemas como estes.
É importante observar que a competição eleitoral deve ser vista como um atributo da localidade
de análise. Os candidatos podem buscar votos em várias localidades simultaneamente e dependem delas
para seu sucesso eleitoral. Mas o nível de competitividade de cada cidade é o resultado das ações dos
diversos candidatos em busca de voto. A decisão do candidato está em escolher as regiões nas quais
fará campanha; mas o nível de competição será a resultante das ações de todos eles, de acordo com sua
capacidade de convencer o eleitorado. Se muitos candidatos buscarem votos em uma mesma cidade, a
disputa ali tende a ser mais acirrada do que se o número de candidatos for menor. Neste sentido, a
mensuração do grau de competitividade de uma eleição qualquer deve ser direcionada às regiões de
interesse.
A ampla gama de índices existentes na literatura das Ciências Sociais pode ser agrupada em
quatro dimensões: concentração, desigualdade, privação ou perda e desequilíbrio (TAAGEPERA, 1979). De
acordo com Taagepera, índices de concentração focam na comparação entre o maior componente e o
7 Deve-se observar que o intuito está em mensurar a competição em cada localidade particular e não do sistema como um todo.
Este ponto merece destaque, pois busca-se abordar a relevância da fragmentação da participação nas eleições em torno da
figura dos candidatos individualmente. 8 É bastante conhecida a estratégia da inserção de “puxadores de voto” nas listas de candidatos para deputado federal no Brasil.
Estes seriam figuras de grande apelo público que, embora não sejam políticos profissionais, seriam incluídos na lista de forma a
aumentar o número de cadeiras ganhas por aquele partido ou coligação. O caso do palhaço Tiririca, eleito com mais de um
milhão de votos em 2010, é o mais recente e de grande repercussão na mídia do país.

tamanho total de uma composição - o índice Herfindahl-Hirschman estaria nesta categoria. Já índices de
desigualdade comparariam o maior e o menor componentes, sendo o índice de Gini um exemplo. O
índice de privação compararia o menor componente com o valor zero. Por fim, o autor, ao argumentar
que não há nenhum índice de desequilíbrio aplicado às Ciências Sociais, propõe um indicador que avalia
a relação entre cada par de observações simultaneamente. Esta seria uma característica desejada, pois
focaria basicamente nas diferenças destes tamanhos relativos. Assim, uma aplicação para o problema
deste artigo é representada pela expressão:
2
1
2,1,
mm
i
m
mimi
mHH
Hi
PP
T
onde T é índice de desequilíbrio para a cidade “m”, P é o percentual de votos do i-ésimo candidato na
cidade “m” e H é o índice Herfindahl-Hirschman na cidade “m”. Note que os candidatos devem ser
ordenados e o índice está restrito ao intervalo entre zero e um, mostrando o nível de disputa eleitoral na
cidade. O termo H é incluído, segundo Taagepera (1979, p. 284), como uma forma de eliminar a
“correlação residual” com o próprio termo H, já que o somatório do numerador varia entre os limites de
a . Considerando-se, então, os votos recebidos pelos diversos candidatos, quanto maior o valor
do índice, mais desequilibrada a distribuição de votos em determinada cidade, ou seja, menos acirrada a
disputa, pois alguém desequilibrou a eleição em seu favor. Portanto, o nível de competição de um local
qualquer está inversamente relacionado ao resultado do índice: quanto mais próximo a zero, maior a
competição.
Como ilustração da importância deste indicador, replica-se o mesmo exemplo tratado por
Taagepera (1979). Suponha duas cidades nas quais 40 candidatos receberam votos em determinada
eleição. Na primeira cidade, dois candidatos receberam 30%, um terceiro recebeu 3% e os demais
receberam, cada um, 1% dos votos da cidade. Na segunda, um candidato recebeu 40% dos votos, outros
dois receberam 10% cada, um quarto recebeu 4% e os demais receberam também 1%. Taagepera
(1979, p. 283) mostra que os índices tradicionais de desigualdade e de concentração não captam as
diferenças apresentadas nestas duas cidades. Seus resultados são iguais nos dois casos: como exemplo,
o índice H calculado em cada cidade tem valor igual a 0,185. Porém, a utilização do índice T mostra que,
na primeira cidade, o desequilíbrio é igual a 0,26, enquanto na segunda é igual a 0,73. O desequilíbrio
na segunda cidade é maior, resultante da consideração dos votos de todos os candidatos. Não haveria
condição de captar esta diferença se fossem utilizados índices tradicionais. A fim de melhorar a
interpretação dos resultados, um conjunto de simulações foi feito para indicar a sensibilidade do índice
em diferentes contextos. Os resultados são apresentados no Apêndice 1.
É importante ressaltar que, se calculado o número de candidatos efetivos com a fórmula do
NEP, o resultado seria igual a 5,4 candidatos por cidade. Entretanto, a primeira cidade possui dois

candidatos com elevado percentual de votos e o restante está dividido entre outros 38 candidatos. O
índice acaba por camuflar a elevada dispersão dos votos em torno de muitos candidatos que foram
pouco votados, pois os agrega, sugerindo haver um número expressivo de candidatos que disputariam os
votos de determinada localidade. O fato de o índice de desequilíbrio ponderar as diferenças sucessivas
temporalmente capta alterações importantes como a disputa em torno do segundo lugar e a distância
deste para o primeiro lugar, o que é fundamental para a avaliação da competição eleitoral. Deve-se notar
que este índice distingue as situações em que um candidato possui 50% dos votos e o segundo colocado
tenha recebido, por exemplo, 10% dos votos, de outra situação em que o primeiro obtenha os mesmos
50%, mas o segundo possua 49% dos votos. A aplicação do índice proposto permite este avanço sobre a
mensuração tradicional, captando uma característica da competição eleitoral brasileira. No Apêndice 2,
constam gráficos correlacionando o índice T e o NEP calculados para as eleições brasileiras.
Deve-se enfatizar ainda que o indicador proposto tem a capacidade de avaliar adequadamente
casos extremos. Se aplicado a um caso em que determinado candidato obtém 100% dos votos, o valor
observado pelo índice T será igual a um. Por outro lado, se os candidatos dividirem igualmente os votos,
o valor observado será igual a zero. Esta característica é desejável, uma vez que aponta sua capacidade
em alcançar casos extremos, mesmo que não se espere que aconteçam. Argumenta-se, portanto, que
este indicador é relevante e adequado para avaliar os níveis de competição eleitoral em qualquer
localidade. Com base neste instrumento, lança-se à avaliação dos dados para o país nas eleições de
1994 a 2010.
Análise Empírica
A partir da discussão teórica, as duas dimensões da competição regional são analisadas a fim
de explicar um fenômeno tão complexo como a competição eleitoral para o Legislativo nacional no
sistema político brasileiro. A primeira se relaciona à competição eleitoral propriamente dita. A segunda
diz respeito à permanência de um indivíduo como líder político local. Para iniciar a análise empírica,
calcula-se o indicador T para todas as cidades do país. Cabe destacar que este indicador pode ser
calculado tomando o conjunto total de votos em cada município ou outro corte. Neste artigo, privilegia-se
a análise computando apenas os votos nominais, excluindo-se votos nulos, brancos e de legenda. Esta
opção considera a importância do caráter pessoal da dinâmica política local e, assim, identifica a
competição entre os candidatos, em linha com a concepção teórica apresentada. A Tabela 1 apresenta
os dados obtidos:

Tabela 1
Dados Descritivos para o Índice T por eleição
1994 1998 2002 2006 2010
Média 0,464 0,463 0,460 0,433 0,412
Desvio Padrão 0,213 0,214 0,207 0,199 0,194
Mínimo 0,037 0,052 0,054 0,039 0,039
Máximo 0,961 0,961 0,947 0,962 0,954
Mediana 0,445 0,445 0,443 0,409 0,386
1˚ Quartil 0,285 0,282 0,285 0,271 0,253
3° Quartil 0,632 0,638 0,627 0,581 0,549
Fonte: Elaboração própria.
Os resultados indicam relativa estabilidade nos valores médios para as primeiras três eleições
consideradas, em torno de 0,46, valor próximo ao centro do intervalo. Já nos dois pleitos seguintes, as
médias caem, atingindo o menor valor da série, em 2010, igual a 0,41. Esta queda é acompanhada da
redução do desvio padrão. Este segue o mesmo comportamento observado pela média: nas primeiras
eleições, o desvio estava em torno de 0,21 e se reduz para a casa de 0,19 ao final do período. Por outro
lado, os valores máximo e mínimo apresentam baixa variação ao longo do tempo. Estes dados mostram
que a distribuição do desequilíbrio das eleições locais é dispersa, inclusive com a amplitude observada
muito próxima à do próprio índice. Bastante importante é observar que os valores calculados para a
mediana também caem ao longo do tempo. Em 1994, como em 1998, o valor é igual a 0,445, em 2010,
atinge o menor valor para a série: 0,386. Estes dados, em conjunto, sugerem que os valores de
desequilíbrio são relativamente baixos para a maioria das cidades brasileiras e que este desequilíbrio
apresenta tendência de queda ao longo das eleições. Ou seja, o nível de competição eleitoral é
relativamente alto e vem aumentando para todo o país.
Outra dimensão de interesse é a avaliação regional da competição. Seguindo os autores que
discutem a importância dos grotões no contexto político nacional, é esperado que sejam encontradas
diferenças importantes entre os resultados regionais. A alta diversidade de características
socioeconômicas dos municípios brasileiros permitirá verificar se as regiões mais atrasadas do país são
aquelas onde também a competição eleitoral é menor. O Gráfico 1 apresenta as médias para as cinco
regiões brasileiras ao longo das eleições:

Gráfico 1
Evolução das médias do índice T por região para as cinco eleições
O Gráfico 1 mostra que a desconcentração ocorre em todas as regiões. A queda no valor médio
do índice se repete, indicando que o aumento de competição ocorre no país inteiro. Ademais, nota-se
também que, contrariamente à tese dos grotões, a região sudeste é sistematicamente a menos
competitiva, enquanto a norte, a mais. Nas duas primeiras eleições, a região sudeste apresenta valor
médio em torno de 0,49, enquanto para a norte, o valor é em torno de 0,42. As duas médias caem ao
longo do tempo: na região sudeste, atinge 0,43 em 2010, quando a região norte apresenta valor igual a
0,37. Estes resultados não são obtidos em razão de algum estado em particular dentro destas regiões.
Mesmo quando se consideram os resultados por estado individualmente, o comportamento geral é
similar. O Gráfico 2 detalha os dados para os estados:
Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 2
Evolução das médias do índice T por estado para as cinco eleições
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
AL BA CE MA PB PE PI RN SE
Índ
ice T
Estados
Região Nordeste
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
AC AM AP PA RO RR TO
Índ
ice T
Estados
Região Norte
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
DF GO MS MT
Índ
ice T
Estados
Região Centro Oeste
Fonte: Elaboração própria.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
ES MG RJ SP
Índ
ice T
Estados
Região Sudeste
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
PR RS SC
Índ
ice T
Estados
Região Sul
Legenda
1994 1998 2002 2006 2010

Com exceção do Amapá, do Acre e de Santa Catarina, em todos os demais estados a eleição de
2010 foi mais competitiva do que a de 1994. Em Alagoas, por exemplo, o índice médio para 2010 era
0,175 pontos menor do que o de 1994. Para a média dos estados, o indicador daquela eleição é 0,056
pontos menor do que em 1994. Cabe mencionar que Santa Catarina é o estado com a menor média geral
para as cinco eleições. O valor observado em 1994 era extremamente baixo (igual a 0,063), alcançando o
pico em 2002, com 0,486 e, em 2010, atingiu 0,369. Assim, apesar de haver crescimento no indicador
entre 1994 e 2010, as eleições neste estado são bastante competitivas de acordo com este critério.
O detalhamento da competição ainda pode ser avaliado ao se comparar os resultados de
acordo com o tamanho das populações de cada cidade. Novamente, ao se tomar a ideia de que a
dinâmica política nos grotões é distinta, municípios com populações maiores podem apresentar
comportamento distinto de cidades pequenas. Além do mais, as capitais, por serem cidades
politicamente importantes, podem apresentar valores diferenciados. A Tabela 2 apresenta estes
resultados:
Tabela 2
Média do Índice T por tamanho médio de cidades
Porte médio Eleições
1994 1998 2002 2006 2010
Maiores que 200 mil habitantes 0,406 0,393 0,386 0,393 0,390
Entre 50 mil e 200 mil habitantes 0,494 0,493 0,459 0,475 0,470
Menores que 50 mil habitantes 0,462 0,462 0,462 0,430 0,407
Capitais 0,299 0,262 0,305 0,254 0,290
Não capitais 0,464 0,464 0,461 0,433 0,412 Fonte: Elaboração própria.
Como se pode ver, as cidades de porte intermediário apresentam sistematicamente valores
superiores, indicando menor competição eleitoral. Já as cidades maiores de 200 mil habitantes e as
cidades pequenas apresentam maior nível de competição. Este resultado sugere que, de acordo com os
incentivos para a constituição dos redutos informais, as cidades de porte intermediário tenderiam a ser
mais controladas pelos políticos. Esta interpretação é razoável, dado que as cidades menores seriam
menos interessantes, já que lhes trariam menor retorno eleitoral, e as cidades grandes seriam mais
difíceis de serem controladas. Mas ainda é uma hipótese a ser verificada. Por outro lado, chama a
atenção o fato de as capitais dos estados terem eleições sistematicamente mais competitivas do que as
demais cidades. Esta constatação ressalta a importância relativa das cidades: estas não parecem ser
igualmente importantes para os políticos, na medida em que os níveis de competição são distintos, seja
porque os municípios são mais facilmente controláveis; seja porque há interesse especial em algumas
delas, como é os casos das capitais dos estados. Estas avaliações merecem ser aprofundadas, inclusive
com avaliações comparativas e ainda considerando características socioeconômicas locais
simultaneamente.

Para esta avaliação, partiu-se para uma análise econométrica em painel com as informações
municipais mais pertinentes ao caso, considerando as cinco eleições. A forma funcional geral do modelo
é dada pela expressão:
,
onde a variável dependente do modelo é o índice T no município “m” no ano eleitoral “t”. Como variáveis
independentes, expressas na função acima, foram consideradas as variáveis apresentadas na Tabela 3:
Tabela 3
Estatística descritiva dos dados em painel: 5.564 municípios para 5 eleições
Variável Média Desvio-Padrão Medida
Variável dependente
Nível de desequilíbrio (T) 0,446 0,206 Valor do índice T para cada cidade por eleição
Variáveis Sociais
População (pop) 32.507 192.344,10 Contagem populacional para cada cidade
Urbanização (urb) 58,692 23,407
% da população municipal que vive em área
urbana
Alfabetização (alfab) 77,898 14,117
% da população municipal com mais de 15 anos
que é alfabetizada
Variável Econômica
Massa Salarial (sal_real_m) 968 22.419,19
Massa salarial do emprego formal em milhões (R$
de 2012)
PIB per capita (pibpc) 4,462 5,102
PIB municipal em milhares (R$ de 2000) dividido
pela população residente
PIB (pib) 239.504,70 2.744.722 PIB municipal em milhares (R$ de 2000)
Variáveis Políticas
Representatividade por deputado
(repr) 340.620,20 88.354,20
Relação entre população e número de deputados
eleitos no estado no qual o município se localiza
Representatividade por cadeira
(repr_cad) -4,531 13,612
Diferença entre o número de cadeiras em disputa
com aquele que seria justo no caso de uma divisão
das cadeiras do Congresso proporcional à
população de cada estado
Número de prefeituras (mun) 382,35 249,05 Número de municípios por estado
Variáveis Regionais
Dummy de capital (capital) 0,005 0,07
Dummy igual a 1 se a cidade é a capital do estado;
0 em caso contrário
Dummy de região (dreg_)
Dummy igual a 1 se a cidade pertence à região de
referência; 0 em caso contrário
Variáveis Temporais
Dummy de eleição (d-ano)
Dummy igual a 1 se os dados se referem à eleição
de referência; 0 em caso contrário
Notas: os dados populacionais utilizados referem-se aos dados do Censo e às contagens realizadas pelo IBGE. Assim, a população considerada
para a eleição de 1994 é a de 1991, para a de 1998 é a de 1996, para a de 2002 é a de 2000, para a de 2006 é a de 2007 e para a de 2010 é a
de 2010. O mesmo vale para a taxa de urbanização. Já para a taxa de alfabetização, esta informação existe somente para os anos do Censo.
Assim, esta variável só foi associada às eleições de 1994, 2002 e 2010. O PIB municipal foi calculado pelo IBGE, divulgado pelo IPEA. O valor
utilizado para a eleição de 1994 é o PIB de 1996; para a eleição de 1998 é o PIB de 1999; para a de 2002 e de 2006 são os dos anos
correspondentes e para a eleição de 2010 é o de 2009. Para o número de prefeituras, considerou-se o número de cidades nos anos das
contagens populacionais do IBGE. Por fim, para as variáveis estaduais, as estatísticas foram calculadas por estado e não por município.
Para a definição da forma funcional particular do modelo, foram testadas especificações com o
logaritmo e com as formas quadráticas das variáveis9. Os resultados das estimativas estão na Tabela
410:
9 Como a correlação entre as variáveis “população” e “PIB” foi igual a 0,957, optou-se por utilizar apenas a primeira variável no
modelo. 10 Foram calculados os erros-padrão robustos como forma de corrigir problemas de heteroscedasticidade e da inconsistência
testada para os efeitos aleatórios deste modelo. Estes erros-padrão ainda foram corrigidos pela técnica de cluster para os
estados da federação.

Tabela 4
Estimativas dos Parâmetros do Modelo em Painel
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Variáveis T T T T T T
população -2,06E-08 -3,30E-08 -7,72e-08*** -9,91e-08*** -2,06E-08
(2,58E-08) (2,60E-08) (1,73E-08) (2,04E-08) (2,58E-08)
população2 1,64E-15 2,63E-15 6,06e-15*** 7,78e-15*** 1,64E-15
(2,10E-15) (2,34E-15) (1,65E-15) (2,12E-15) (2,10E-15)
alfabetização 0,001 0,001 0,001 0,001
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)
alfabetização2 -1,30E-05 -1,28E-05 -1,28E-05 -1,22E-05
(1,49E-05) (1,49E-05) (1,46E-05) (1,47E-05)
urbanização -0,0014** -0,0016*** -0,0014*** -0,0017*** -0,0013** -0,0014**
(5,52E-04) (5,76E-04) (5,46E-04) (5,73E-04) (5,27E-04) (5,55E-04)
urbanização2 1,34e-05*** 1,38e-05*** 1,39e-05*** 1,47e-05*** 1,28e-05*** 1,33e-05***
(3,85E-06) (4,26E-06) (3,79E-06) (4,23E-06) (3,56E-06) (3,87E-06)
capital -0,114*** -0,135*** -0,132*** -0,114***
(0,033) (0,027) (0,022) (0,033)
massa salarial 1,57e-07*** 1,57e-07***
(3,38E-08) (3,38E-08)
número de prefeituras 6,74e-05*** 7,24e-05*** 6,60e-05*** 7,08e-05*** 6,82e-05*** 6,74e-05***
(1,80E-05) (1,67E-05) (1,90E-05) (1,79E-05) (1,77E-05) (1,80E-05)
representatividade por
cadeira
0,0004*** 0,0005*** 0,0004*** 0,0005*** 0,0004*** 0,0004***
(1,21E-04) (1,08E-04) (1,25E-04) (1,16E-04) (1,19E-04) (1,21E-04)
dummy_1998 -0,00393 -0,0038
-(0,008) -(0,008)
dummy_2002 0,001 -0,007 0,001 -0,007 0,002 0,001
(0,009) (0,008) (0,009) (0,008) (0,009) (0,009)
dummy_2006 -0,034*** -0,034***
(0,007) (0,007)
dummy_2010 -0,041*** -0,055*** -0,040*** -0,054*** -0,040*** -0,040***
(0,011) (0,007) (0,011) (0,007) (0,011) (0,011)
dummy_região_N -0,035** -0,042*** -0,036** -0,043*** -0,034** -0,035**
(0,015) (0,011) (0,015) (0,011) (0,015) (0,015)
dummy_região_CO -0,017 -0,030*** -0,018 -0,031*** -0,017 -0,018
(0,013) (0,010) (0,013) (0,010) (0,013) (0,013)
dummy_região_SE 0,0004 -0,011 0,002 -0,010 0,0004 0,0003
(0,015) (0,008) (0,016) (0,009) (0,015) (0,015)
dummy_região_S -0,030 -0,053*** -0,029 -0,053*** -0,030 -0,030
(0,026) (0,019) (0,026) (0,019) (0,025) (0,026)
Constant 0,492*** 0,499*** 0,496*** 0,503*** 0,492*** 0,495***
(0,065) (0,018) (0,064) (0,018) (0,063) (0,065)
Observações 15.559 26.098 15.559 26.098 15.559 15.559
Números de Grupos 5.563 5.564 5.563 5.564 5.563 5.563
Erros-padrão robustos entre parênteses
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Os resultados mostram que o tamanho e o nível de alfabetização da população não são fatores
correlacionados ao nível de competitividade eleitoral nos municípios brasileiros. Deve-se notar, aliás, que
a dummy para a capital rouba todo o efeito observado para o tamanho das cidades: a diferença entre os
modelos 1 e 3 e os modelos 2 e 4 é simplesmente a adição desta dummy, cujos níveis de competição são
mais elevados que das demais cidades. Sua introdução faz com que o tamanho relativo das cidades
perca significância estatística. Com a elevada correlação entre a variável de população e o PIB municipal,
a análise é válida para o aspecto econômico também: o valor da renda municipal não tem correlação
com o nível de competição eleitoral municipal. Sobre o aspecto econômico, vale ressaltar que o PIB per
capita também não apresenta correlação estatisticamente significante com a competição eleitoral. A
única variável econômica que apresenta significância é a massa de salário do emprego formal: quanto
maior seu valor, menor a competitividade. Porém, a significância estatística desta variável não se
mantém quando se faz testes de robustez (vide nota 10). Outros fatores ganham, assim, importância. O
nível de urbanização é estatisticamente significante: quanto maior o percentual de pessoas vivendo na
área urbana da cidade, maior o nível de competição. Como a variável quadrática também é significativa,
a relação entre estes conceitos é decrescente, mas a taxas crescentes. Chama atenção também a
variável que considera o número de municípios. Ela indica que, quanto maior o número de municípios no
estado, menos competitiva é a eleição para deputado federal nas cidades. Ou seja, quanto maior o
número de prefeitos potencialmente participando da eleição, menor a competitividade. Ainda que seja
necessário aprofundar sua interpretação, este resultado estaria de acordo com os trabalhos sobre a
relação entre prefeitos e as eleições para deputado já citados. A variável que mede representatividade
também é relevante para a explicação do nível de competição eleitoral: quanto maior a
representatividade, menor a competição. Deve-se ressaltar, porém, que apenas a variável de
representatividade por cadeira mostrou-se estatisticamente significante. Isto sugere que o número de
representantes por deputado não é fator importante para o nível de disputa eleitoral em uma cidade,
mas a sobrerrepresentação, sim. As dummies de ano confirmam a interpretação da Tabela 1: as eleições
de 2006 e 2010 foram mais competitivas do que as demais, enquanto as outras três apresentaram níveis
idênticos. Quanto às regiões, observa-se que a região norte é mais competitiva que a região nordeste e
que esta tem nível semelhante à região sudeste. Sobre as regiões sul e centro-oeste, o resultado é
inconclusivo, pois, ao se considerar o nível de alfabetização no modelo, o efeito das dummies regionais
desaparece. Entretanto, esta observação pode decorrer da redução no número de observações nestes
casos11.
Além dos importantes resultados encontrados, ainda resta avaliar a outra dimensão da
competição que recai sobre a permanência de um indivíduo como líder local. Para isso, a Tabela 5
apresenta os resultados da votação individual em cada cidade. O objetivo é verificar se os indivíduos têm
capacidade de evitar a concorrência e, assim, reduzir a competição local.
11 Foram estimados os parâmetros do modelo em que a variável T sofreu transformações da forma ln(T/1-T) e em que foram
consideradas apenas as observações restritas para o intervalo em que 0,3<T<0,7. Não houve alteração nos resultados
apresentados, salvo a perda de significância da variável de massa salarial, representatividade por cadeira e as dummies regionais,
no caso da restrição de valores.

Tabela 5
Descrição do Número de Candidatos Votados por Cidade por Eleição
1994 1998 2002 2006 2010
Média 77 77 96 110 105
Desvio Padrão 74 79 85 111 112
Mínimo 8 5 12 16 11
Máximo 525 661 724 1.007 1.168
Mediana 56 54 71 77 72
1˚ Quartil 36 37 50 52 48
3° Quartil 89 84 106 120 113 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE.
A Tabela 5 mostra um número médio relativamente elevado de candidatos a receber votos em
uma cidade: 77, em média, entre 1994 e 1998, valor que se eleva ao longo do tempo, atingindo 104 em
2010. Deve-se lembrar que, se o número de candidatos a receber votos em uma mesma cidade aumenta,
o índice T tende a se elevar, mantido o patamar de votos do candidato mais bem colocado. Como de fato
os resultados anteriores indicam que o índice T reduziu-se, pode-se inferir que, em média, o candidato
mais bem colocado nas eleições em cada cidade recebeu número menor de votos ao longo do tempo. Ou
seja, estas informações indicam queda na capacidade do político com maior número de votos em evitar a
concorrência. Outra observação importante é que todos os valores na Tabela 5 cresceram até 2006,
sendo que, em 2010, os números se aproximam aos de 2002, sugerindo um acomodamento nestes
níveis superiores ao de 1994 e 1998. Uma informação também relevante é a de que nenhuma cidade do
país votou em menos do que cinco nomes distintos (eleição de 1998) e, nas últimas três eleições, em
menos do que onze nomes. Isto enfraquece a imagem de que um indivíduo apenas é capaz de angariar a
grande maioria dos votos em uma cidade. Estas informações sugerem que não se pode falar sobre a
capacidade dos deputados em consolidar suas áreas de influência através das barreiras a outros
candidatos. Os municípios parecem ser disputados, ao menos pelo número de candidatos que
conseguem votos ali. Também chama atenção a variabilidade dos resultados. A ausência de competição
não é estável temporalmente.
A ideia de consolidação de uma zona de influência para a estabilidade do deputado em seu
cargo pressupõe, evidentemente, que o indivíduo busque se reeleger. Mais do que isto, a interpretação
tradicional afirma que o deputado obtém sucesso neste intento. Para verificar esta condição, a Tabela 6
apresenta o número de parlamentares eleitos em determinado pleito que permanecem em legislaturas
posteriores:

Tabela 6
Histórico da Permanência dos Deputados Titulares por Legislatura
Eleitos em Reelegeram-se em
1994 1998 2002 2006 2010
1990 217 148 96 71 44
1994
269 179 126 80
1998
268 167 114
2002
260 170
2006
283 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CEBRAP.
Nota-se claramente que o número de parlamentares que permanecem no cargo é decrescente
ao longo do tempo. Cerca de 60% dos eleitos em uma eleição estarão na legislatura seguinte. Por
exemplo, dos 503 deputados eleitos em 1990, apenas 217 (43%) se reelegeram em 1994. O número
reduz-se em cada legislatura, até que, em 2010, haja apenas 44 deles12. Também chama atenção a
existência de um padrão no número de deputados que obtêm sucesso no pleito seguinte. O número de
parlamentares que se reelegem do primeiro para o segundo ano é da ordem de 50%, com exceção de
1990-94. Depois, para cada ano, reduz-se em cerca de 35%, em média, o número de deputados que
estavam na legislatura de referência.
Apesar destas evidências enfraquecerem o argumento de que os parlamentares conseguiriam
manter-se no cargo, gerando um padrão de carreira estática, cabe ainda verificar se a estratégia de
eliminar a competição em uma localidade leva ao sucesso eleitoral. Para estas avaliações, uma relação
de cidades foi tomada para análise detalhada. Optou-se por cidades cujos valores de desequilíbrio
estivessem no quartil mais elevado em, ao menos, quatro eleições13, formando o grupo de municípios de
baixa competição eleitoral. Neste corte, há 177 municípios, representando apenas 3,2% dos 5.567 em
2010. Este número ainda representa 12,7% das cidades constantes no último quartil daquele ano,
número baixo, sugerindo variação na disputa observada em diferentes eleições. Cabe também observar
que apenas 36 cidades brasileiras apresentaram valor de competição neste quartil nas cinco eleições,
reforçando a compreensão sobre a ausência de controle estável dos resultados anteriores. Foram
observados os dados eleitorais em cada uma destas 177 cidades e avaliados o grau de sucesso do
candidato mais votado nestes municípios e o número de pessoas diferentes que alcançaram a posição de
mais votados ao longo do tempo. A Tabela 7 contém as informações:
12 Ou seja, em 2010, há apenas 44 parlamentares com seis mandatos consecutivos no Congresso Nacional. 13 Foram feitas as mesmas análises com o grupo de cidades que esteve neste quartil em pelo menos em três ocasiões. Ainda que
o número de cidades tenha aumentado, a análise substantiva não se alterou.

Tabela 7
Histórico do Desequilíbrio Eleitoral e o Sucesso Individual na Eleição
Número de
candidatos
diferentes a obter o
maior número de
votos
Número de vezes em que o candidato de maior votação na cidade se elegeu
0 1 2 3 4 5 Total Percentual
1 0 2 2 13 4 0 21 11,86
2 1 3 7 21 17 3 52 29,38
3 1 5 7 19 15 3 50 28,25
4 2 5 10 11 12 0 40 22,60
5 1 1 2 5 5 0 14 7,91
Total 5 16 28 69 53 6 177
Percentual 2,82% 9,04% 15,82% 38,98% 29,94% 3,39%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE.
Os dados indicam que, em 21 cidades não competitivas, houve apenas um mesmo candidato
mais votado ao longo das cinco eleições. Porém, em nenhum caso, este se elegeu em todas as eleições;
em treze cidades, este político mais votado elegeu-se três vezes. Por outro lado, em 50 cidades não
competitivas, houve três políticos diferentes que foram os mais votados. Em três vezes, o mais votado
elegeu-se nas cinco eleições. Chama atenção que, em cerca de 69% dos casos, o indivíduo mais votado
em uma cidade elegeu-se em 3 ou em 4 pleitos. Isto sugere que conseguir muitos votos em uma cidade
contribui para que o indivíduo se eleja, mas não há garantias de sucesso. Haveria outros fatores que
influenciariam este resultado. Mais interessante no contexto deste estudo é que, em pouco mais de 59%
dos casos, três ou mais políticos diferentes ao longo das cinco eleições tornaram-se os mais votados em
cidades consideradas não competitivas. Esta informação sugere que, assim como os indicadores de
desequilíbrio, os resultados de uma eleição são circunstanciais, sem evidências de que perdurarão ao
longo do tempo, formando uma base de controle estável. Novamente, não parece corresponder aos
dados a ideia que se faz sobre a dinâmica política dos grotões. Ao contrário, os dados em conjunto
parecem sugerir que há alternância no posto de mais bem colocado no resultado eleitoral de uma cidade
ou, ainda, que, na verdade, há um grupo de políticos que atuam como referência política nas diversas
regiões de um estado. Isto pode ser ilustrado através do exemplo da Tabela 8, que apresenta os
resultados eleitorais da cidade de Santos, situada no litoral paulista:

Tabela 8
Detalhamento das Eleições para Santos – SP
Informações 1994 1998 2002 2006 2010
Índice T 0,432 0,566 0,343 0,249 0,207
Número de candidatos que receberam votos 478 557 562 773 862
Total de votos nominais 203.339 214.939 256.502 216.728 214.836
Percentual de votos recebido pelo 1o. 35,1% 38,4% 32,3% 21,1% 15,3%
Percentual de votos recebido pelos cinco 1os. 81,3% 72,2% 77,6% 67,4% 55,4%
Principais candidatos
Paulo Roberto Mansur
Candidatou-se sim não não sim sim
Elegeu-se sim não não sim sim
Votos Totais 86.711 - - 67.447 65.397
Votos em Santos 29.093 - - 34.969 32.855
Posição na cidade 3o. 2o. 1o.
Telma de Souza
Candidatou-se sim sim sim sim não
Elegeu-se sim sim sim não não
Votos Totais 138.083 135.172 161.198 89.637 -
Votos em Santos 71.466 82.590 82.795 45.632 -
Posição na cidade 1o. 1o. 1o. 1o. -
Vicente Cascione
Candidatou-se sim sim sim sim sim
Elegeu-se sim não sim não não
Votos Totais 53.178 55.602 108.094 28.728 45.276
Votos em Santos 42.539 42.123 61.656 14.261 25.503
Posição na cidade 2o. 2o. 2o. 5o. 2o. Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE.
Nesta cidade, os políticos Vicente Cascione, Paulo Mansur e Telma de Souza disputam
sistematicamente os votos em diferentes eleições. Os dois últimos alternam a disputa pelos cargos de
deputado federal e prefeito14. Para o caso de interesse aqui, eventualmente, apenas um deles concorre a
deputado federal e é esperado que obtenha percentual elevado de votos nas cidades da região. O que se
observa na Tabela 8, em primeiro lugar, é a contínua redução dos valores obtidos pelo índice T ao longo
dos anos, repetindo o comportamento nacional. Ao mesmo tempo, o número de candidatos que obtêm
votos naquela cidade é crescente, também de maneira idêntica aos resultados para o país. Estes
14 Em 1989, Telma de Souza elege-se prefeita em Santos e faz seu sucessor, David Capistrano Filho em 1992. Durante o
mandato de Telma, Paulo Mansur exerce o cargo de vereador na cidade. Na eleição de 1996, Telma de Souza vence o primeiro
turno, mas Paulo Mansur se elege na disputa em segundo turno. Em 2000, a situação se repete com Telma vencendo o primeiro
turno, mas perdendo a eleição para Paulo Mansur. Em 2004, novamente, Telma vence no primeiro turno, mas perde a eleição no
segundo turno, agora para João Paulo Papa.

números encontram correspondência com a redução do percentual obtido pelo candidato mais votado:
parte de 35% para 15% até 2010. O mesmo se dá com relação ao percentual obtido pelos cinco mais
bem votados: de 81% em 1994 para 55% em 2010. Chama atenção que, dentre os candidatos mais bem
votados, estão sistematicamente os mesmos indivíduos: Paulo Roberto Mansur, Telma de Souza e
Vicente Cascione. Os dois primeiros já foram prefeitos da cidade e são figuras políticas de destaque
local. Porém, como pode ser visto, eles não saem simultaneamente como candidatos em todos os
pleitos. E ainda, nem todos eles se elegem uma vez que concorram. Ou seja, o resultado observado em
um pleito específico camufla a disputa política que efetivamente estes três travam na região. O fato de
apenas um deles lançar-se candidato a deputado federal não implica na ausência dos demais como
figuras políticas relevantes. Ainda que apenas um seja eleito, não parece refletir a real disputa política
local afirmar que o eleito consiga evitar a competição ao longo do tempo. Apesar dos incentivos
eleitorais, o contexto parece mais complexo.
Considerações Finais
Este artigo discutiu empiricamente a competição eleitoral nos pleitos proporcionais no Brasil e
ofereceu dados consistentes para refutar as teses existentes de que o sistema político brasileiro se
organiza em distritos eleitorais informais, nas suas dimensões relativas quanto ao nível de disputa
eleitoral observada nas cidades brasileiras e na capacidade do indivíduo em permanecer como referência
política única nas disputas para o cargo de deputado federal nos municípios.
Os valores de desequilíbrio são relativamente baixos para se afirmar que a ausência de
competição é a regra. Observa-se que os níveis efetivos de competição vêm se elevando desde 1994. As
capitais mostram-se mais competitivas do que as demais cidades e a taxa de urbanização dos
municípios é fator indicativo de elevação no nível de competição das localidades. Porém, nem o nível de
alfabetização, nem os tamanhos das populações mostraram-se fatores explicativos da competição. O
mesmo vale para as variáveis econômicas, medidas pelo PIB e PIB per capita. Estas não se mostraram
significativas. A massa salarial do emprego formal, ao contrário do esperado, mostrou-se favorável à
redução da competitividade, o que contraria as ideias associadas à teoria da modernização. As regiões
nordeste e sudeste mostraram-se aquelas com menores níveis de competição em relação às demais.
Ainda, o número de prefeitos presentes no estado interfere na competição: quanto maior seu número,
menor é a competição. O mesmo resultado é válido com relação à representatividade mensurada pelo
número de cadeiras em disputa: quanto mais sobrerrepresentado for o estado, menor o nível de
competição eleitoral.
Ademais, a ideia de que os políticos conseguem evitar a competição em uma determinada
localidade, que pressupõe a sua manutenção na disputa como deputado federal, não parece ter
correspondência empírica. Os deputados não se reelegem sistematicamente, nem o desequilíbrio em
determinada cidade é suficiente para que consigam se eleger. Torna-se necessário investigar os padrões
de carreira dos políticos, mas há fortes evidências de que transitam entre diferentes cargos, como de
secretários de governo ou ainda de prefeito, em que o componente regional é importante, mas que abre
espaço para que outros políticos disputem o poder local.

Uma análise necessária é verificar estes resultados considerando os votos de legenda, brancos
e nulos. Em diversas cidades, estes últimos acabam por gerar desequilíbrio, sugerindo ausência na
preferência por algum político na cidade. Em outras, as legendas partidárias encontram-se como um
destino importante dos votos dos eleitores. A teoria tradicional não permite que se interprete esses
resultados, já que recai sobre a votação individual, mas estas informações não podem ser
negligenciadas.
Por fim, um aspecto que deve ser enfatizado é a intencionalidade da competição. Os candidatos
buscarão votos em determinadas áreas de acordo com suas características individuais e dos municípios.
Mas também a disputa política dependerá da capacidade do partido de selecionar candidatos que não
disputem votos nas mesmas regiões do distrito. O papel dos partidos e das coligações feitas não foi
considerado, mas merece atenção neste tema.
Referências Bibliográficas
AMES, B. “Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation”. American Journal of Political Science, 39,
p. 406-33, 1995a.
_________. “Electoral Rules, Constituency Pressures, and Pork Barrel: Bases of Voting in Brazilian Congress.” The Journal
of Politics, 57, p. 324-43, 1995b.
_________. The Deadlock of Democracy in Brazil. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001.
_________. Os Entraves da Democracia no Brasil. Tradução de Vera Pereira. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
2003.
AMORIM NETO, O.; COX, G. W. “Electoral Institutions, Cleavage Structures, and the Number of Parties”. American Journal of
Political Science, vol. 41, n° 1, p. 149-174, 1997.
AVELINO, G.; BIDERMAN, C.; BARONE, L. S. “Articulações intrapartidárias e desempenho eleitoral no Brasil”. Dados - Revista
de Ciências Sociais, 49, n° 2, p. 319-347, 2011.
_________.; _________.; SILVA, G. P. “A Concentração Eleitoral nas Eleições Paulistas: Medidas e Aplicações”. Dados -
Revista de Ciências Sociais, 55, n° 4, p. 987-1013, 2012.
BRAGA, M. S. S. O processo partidário-eleitoral brasileiro: padrões de competição política (1982-2002). São Paulo:
Associação Editorial Humanitas, Fapesp, 2006.
CAIN, B.; FEREJOHN, J.; FIORINA, M. The Personal Vote. Constituency Service and Electoral Independence. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 1987.
CAMPELLO, D.; ZUCCO, C. A esquerda em um país democrático, globalizado e desigual: uma análise do Brasil de Lula. In:
MOREIRA, C. et al (orgs.). Perspectivas Analiticas Sobre Nuevos Gobiernos y Sociedad en America Latina. Montevideo: Trilice,
2008.
CARAMANI, D. “The End of Silent Elections. The Birth of Electoral Competition, 1832-1915.” Party Politics, 9 (4),
p. 411-443, 2003.
CAREY, J.; SHUGART, M. “Incentives to cultivate a personal vote.” Electoral Studies, 14 (4), p. 417-439, 1995.
CARNEIRO, L.; ALMEIDA, M. H. T. “Definindo a arena política local: sistemas partidários municipais na federação brasileira”.
Dados - Revista de Ciências Sociais, 51 (2), p. 403-432, 2008.
CRISP, B.; DESPOSATO, S. “Constituency Building in Multimember Districts: Collusion or Conflict?” The Journal of Politics, 66
(1), p. 136-156, 2004.
CRISP, B.; JENSEN, K. E SHOMER, Y. “Magnitude and vote seeking”. Electoral Studies, 26, p. 727-734, 2007.

DUVERGER, M. Les partis politiques. 2. ed. (rev. et mise a jour). Paris: Ed. A. Colin, 1951.
FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. “Incentivos Eleitorais, Partidos e Política Orçamentária.” Dados - Revista de Ciências Sociais, 45
(2), p. 303-344, 2002.
_________. Política Orçamentária no Presidencialismo de Coalizão. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2008.
HOLBROOK, T.; VON DUNK, E. “Electoral Competition in American States.” American Political Science Review, 87 (4),
p. 955-962, 1993.
HUNTER, W.; POWER, T. “Rewarding Lula: Executive Power, Social Policy, and the Brazilian Elections of 2006.” Latin
American Politics and Society, 49 (1), p. 1-30, 2007.
JACOB, C. R. et al. “A eleição presidencial de 2006 no Brasil: continuidade política e mudança na geografia eleitoral”.
Alceu, 10 (9), p. 232-261, 2009.
KINZO, M. D.; MARTINS, J. P.; BORIN, I. “Patrones de Competencia Electoral en la Disputa por la Cámara de Diputados en
Brasil (1994-2002).” América Latina Hoy, 38, p. 143-162, 2004.
LAMOUNIER, B. “Authoritarian Brazil Revisited: The Impact of Elections on the Abertura”. In: STEPAN, A. (org.).
Democratizing Brazil: Problems of Transition and Consolidation. Oxford: Oxford University Press, 1989.
LIJPHART, A. “The Political Consequences of Electoral Laws, 1945-85”. The American Political Science Review, 84 (2),
p. 481-496, 1990.
LIMONGI, F. “A democracia no Brasil. Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório”. Novos Estudos-
CEBRAP, São Paulo, n. 76, 2006.
MAINWARING, S. “Politicians, Parties, and Electoral Systems: Brazil in Comparative Perspective.” Comparative Politics,
24 (1), p. 21-43, 1991.
MARENCO DOS SANTOS, A. "Nas fronteiras do campo político: raposas e outsiders no Congresso Nacional". Revista Brasileira
de Ciências Sociais, 12, 33, p. 87-101, 1997.
MAYHEW, D. Congress: The Electoral Connection. New Haven: Yale University Press, 1974.
MELO, C. R. “As instituições políticas brasileiras funcionam?” Revista Brasileira de Sociologia e Política, n˚ 25, p. 247-250,
2005.
MONTERO, A. P. “No Country for Leftists? Clientelist Continuity and the 2006 Vote in the Brazilian Northeast”. Journal of
Politics in Latin America, 2 (2), p. 113-153, 2010.
NICOLAU, J. “O Sistema Eleitoral de Lista Aberta no Brasil.” Dados - Revista de Ciências Sociais, 49 (4), p. 689-720, 2006.
PEREIRA, C.; RENNÓ, L. “O que é que o reeleito tem? Dinâmicas político-institucionais locais e nacionais nas eleições de
1998 para a Câmara dos Deputados.”. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582001000200004&lng=pt&nrm=iso>. Dados, 44, (2), 2001.
QUERALT, D. “Learning the Mechanical Effect of Electoral Systems”. Working Paper Series, Center for Advanced Study in
Social Sciences, Working Paper 2009/ 241, 2009.
RAE, D. The Political Consequences of Electoral Laws. New Haven: Yale University Press, 1967.
SAMUELS, D. “Incentives to Cultivate a Party Vote in Candidate-centric Electoral Systems.” Comparative Political Studies,
32 (4), p. 487-518, 1999.
_________. “Ambition and Competition: Explaining Legislative Turnover in Brazil.” Legislative Studies Quarterly, 25 (3),
p. 481-497, 2000.
_________. Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
SANTOS, F. “Brazilian democracy and the power of ‘old’ theories of party competition”. Brazilian Political Science Review
(online), 3: 0-0, 2008.
SANTOS, W. G. "Grotões e coronéis vivem de estatística". Valor Econômico, São Paulo, 15 dez. 2006.
SCHOFIELD, N.; MARTIN, A.; QUINN, K.; WHITFORD, A. “Multiparty electoral competition in the Netherlands and Germany: A
model based on multinomial probit”. Public Choice, 97, p. 257-293, 1998.

SOARES, G. A. D.; TERRON, S. L. “Dois Lulas: a geografia eleitoral da reeleição (explorando conceitos, métodos e técnicas
de análise geoespacial)”. Opinião Pública, n° 14, vol. 2, p. 269-301, 2008.
TAAGEPERA, R. “Inequality, Concentration, Imbalance”. Political Methodology, 275-91, 1979.
VELHO, O. G. Entrevista: O fim dos Grotões. Carta Capital, 420, p. 28-30, 22 de nov. 2006.
ZUCCO, C. “The President’s ‘New’ Constituency: Lula and the Pragmatic Vote in Brazil’s 2006 Presidential Elections.”
Journal of Latin American Studies, 40, p. 29-49, 2008.
Apêndice 1
Simulações de Diferentes Resultados Eleitorais por Cidade para o Índice T (em %)
Caso 1 - Concentração dos votos em torno do 2˚ lugar
(%) Eleição 1 Eleição 2 Eleição 3 Eleição 4 Eleição 5
Candidato 1 60 60 60 60 60
Candidato 2 20 25 30 35 40
Candidato 3 10 10 10 5
Candidato 4 10x1 5x1
T 0,6605 0,5712 0,4752 0,3934 0,2875
Caso 2 - Desconcentração dos votos do 2° lugar
(%) Eleição 1 Eleição 2 Eleição 3 Eleição 4 Eleição 5
Candidato 1 75 75 75 75 75
Candidato 2 25 20 20 2x10 3x5
Candidato 3
5 2x2 2x2 4x2
Candidato 4
1 1 2x1
T 0,5860 0,6694 0,6795 0,8029 0,8973
Caso 3 - Desconcentração de votos do 1˚ para o 3° lugar
(%) Eleição 1 Eleição 2 Eleição 3 Eleição 4 Eleição 5
Candidato 1 50 40 30 30 3x25
Candidato 2 2x25 2x25 2x25 2x25 2x10
Candidato 3
10 2x10 20 5
T 0,4085 0,3208 0,1508 0,1174 0,0585
Caso 4 - Desconcentração de votos do 1˚ para os demais
(%) Eleição 1 Eleição 2 Eleição 3 Eleição 4 Eleição 5
Candidato 1 80 70 60 50 30
Candidato 2 2x10 20 20 20 2x15
Candidato 3
10 2x10 3x10 4x10
T 0,7902 0,6582 0,6331 0,5776 0,3366 Fonte: Elaboração própria.

No Caso 1, os votos na eleição 1 se dividem em 60% para o primeiro candidato, 20% para o
segundo, 10% para o terceiro e dez candidatos obtêm 1% cada. O indicador T nesse caso atinge 0,6605,
um valor relativamente alto, indicando alguma ausência de competição. Na medida em que se observa
uma concentração dos votos dos demais candidatos em torno do segundo lugar ao longo das eleições, o
índice T vai reduzindo seu valor. Ele atinge 0,2875 no contexto em que os votos estão divididos em
apenas dois candidatos, o primeiro com 60% e o segundo com 40% do total, indicando haver alguma
competição nesta cidade. No caso dois, os votos do segundo candidato mais votado vão se transferindo
para os demais e os votos do primeiro lugar permanecem estáveis. Neste contexto, o índice T vai
aumentando gradativamente. No caso, sai de 0,586 para 0,8973, ressaltando a importância das disputas
não só pelo primeiro lugar. No terceiro caso, os votos do candidato mais votado se transferem para o
terceiro mais votado, mantidos os votos do segundo lugar. Neste cenário, o índice T reduz-se
acentuadamente. Na primeira eleição simulada, quando o mais votado obtém metade dos votos e o
restante é dividido entre dois candidatos, o índice é igual a 0,4085. A medida em que os votos do
primeiro colocado se transferem para o terceiro lugar, o índice vai se reduzindo, até atingir 0,0585,
quando seus votos se igualam aos seguintes em 25%. Por fim, no quarto caso, os votos do primeiro
colocado reduzem-se gradativamente, enquanto os do terceiro lugar permanecem em 10%. Nesta
situação, o índice T se reduz de 0,7902 para 0,3366. Pode-se notar isso nas apresentações que quando
o número de concorrentes aumenta em qualquer cidade, o valor obtido com o indicador tende a
aumentar para uma mesma votação para o mais votado (Casos 1 e 2). Os Casos 3 e 4 indicam quão
importante é a diferença entre os votos do candidato mais votado para o segundo lugar e deste para o
terceiro. A observação apenas da votação do primeiro colocado em termos absolutos traz informações
que não correspondem ao real grau de disputa eleitoral na cidade analisada.

Apêndice 2
Gráficos de Correlação entre o Índice T e o Número Efetivo de Partidos (NEP)
Glauco Peres da Silva – [email protected]
Submetido à publicação em maio de 2012.
Versão final aprovada em julho de 2013.

Wagner Pralon Mancuso
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo
Carolina Uehara Graduada em Gestão de Políticas Públicas
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo
Anita de Cássia Sbegue Graduada em Gestão de Políticas Públicas
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo
Caroline Miranda Sampaio Graduada em Gestão de Políticas Públicas
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo
Resumo: O objetivo deste artigo é analisar os fatores determinantes dos padrões de carreira política adotados pelos deputados
federais paulistas no período das legislaturas 49ª (1991-1995) à 53ª (2007-2011). Com uso de técnicas estatísticas tais como
teste qui-quadrado, teste exato de Fisher e regressão logística, o artigo conclui que: i) a opção de saída da vida política está
associada aos níveis de concentração eleitoral e competitividade local bem como ao perfil de atuação parlamentar; ii) o êxito em
campanhas de reeleição está associado ao acúmulo de capital político, ao perfil de atuação parlamentar e à fidelidade partidária;
e iii) o êxito na disputa pela chefia de executivos municipais está associado ao nível de competitividade eleitoral local.
Palavras-chave: carreira política; deputado federal; Câmara dos Deputados; reeleição; estratégia política
Abstract: This article aims to analyze the determinants of political career patterns among federal deputies elected by the State of
São Paulo (Brazil) for the 49th (1991-1995) - 53rd (2007-2011) legislatures. By using statistical techniques such as chi-squared
test, Fisher’s exact test and logistic regression, this article concludes that: i) exit of political life is associated with the levels of
electoral concentration and local competitiveness, as well as with the parliamentary behavior; ii) success in re-election campaigns
is associated with the accumulation of political capital, with the parliamentary behavior and with partisan loyalty; and iii) success
in mayoral campaigns is associated with the level of local electoral competitiveness.
Keywords: political career; federal deputy; Chamber of Deputies; reelection; political strategy

Introdução e balanço da literatura
Este artigo focaliza os padrões de carreira política dos deputados federais eleitos pelo estado
de São Paulo entre 1990 (para a 49ª legislatura, de 1991 a 1995) e 2006 (para a 53ª legislatura, de
2007 a 2011) e seu objetivo é analisar os fatores determinantes dos padrões de carreira adotados pelos
deputados federais paulistas no período considerado.
Ainda há poucos estudos sobre os fatores que determinam os padrões de carreira dos
deputados federais brasileiros. Leoni, Pereira e Rennó (2003) e Pereira e Rennó (2003) são os pioneiros
nesse campo1. Leoni, Pereira e Rennó (2003) investigam os determinantes da escolha de carreira dos
deputados federais brasileiros da 50ª legislatura (1995-1999). Em artigo de tema similar, Pereira e
Rennó (2003) analisam os fatores que afetaram as chances de reeleição dos deputados federais nas
eleições de 1998. Em trabalho posterior, Pereira e Rennó (2007) voltam a focalizar os deputados bem
sucedidos na disputa pela reeleição, tratando agora de duas legislaturas: a 50ª e a 51ª (1995-2003). No
mesmo ano, Botero e Rennó (2007) fazem uma análise comparativa dos sistemas eleitorais brasileiro e
colombiano, bem como dos incentivos que esses sistemas oferecem aos parlamentares em termos de
estratégias eleitorais. Na sequência, sintetizamos as principais conclusões desses estudos.
O trabalho de Leoni, Pereira e Rennó (2003) testa uma ideia do cientista político norte-
americano David Samuels que, analisando o caso brasileiro, afirma que “os deputados (...) mais
vulneráveis eleitoralmente e menos competentes no desempenho das funções de representantes
concorrem à reeleição, enquanto os mais capazes concorrem a postos mais altos” (SAMUELS apud LEONI,
PEREIRA e RENNÓ, 2003, p. 46). Samuels associa, portanto, o bom desempenho das funções
parlamentares a voos políticos ”mais altos”, e um desempenho parlamentar medíocre à opção pela
reeleição. Inspirados pela afirmação de Samuels, os autores investigam empiricamente a influência do
desempenho parlamentar sobre as opções de carreira dos deputados federais brasileiros. Os autores
tomam a ocupação de posições institucionais de poder (por exemplo: cargos da Mesa Diretora da
Câmara e liderança de comissões) como indicador de bom desempenho parlamentar. As opções de
carreira por eles focalizadas são as seguintes: saída (não se candidatar a nenhum cargo), estática
(concorrer à reeleição) e progressiva (concorrer ao senado ou a cargos do Poder Executivo, como prefeito
e governador)2. Para controlar o efeito da variável de desempenho parlamentar sobre as opções de
carreira, consideram também o impacto de outras variáveis, tais como idade, ideologia, antiguidade na
Câmara, pertencimento à base presidencial, perfil eleitoral e capacidade de entrega de benefícios
clientelistas às bases eleitorais (“pork barrel”). Com base na análise dos dados da eleição de 1998, os
autores constatam - diferentemente de Samuels - que a ocupação de posições institucionais de poder
favorece o êxito tanto na ambição estática quanto na ambição progressiva3. Constatam também que a
opção de saída da vida política está ligada à menor capacidade de entrega de “pork” às bases eleitorais,
bem como ao menor sucesso eleitoral em disputas anteriores.
1 Na literatura internacional, Schlesinger (1966), Black (1972), Rohde (2012) [1979], Brace (1984) e Kiewiet e Zeng (1993) são
obras de referência para o estudo de carreiras políticas. Os trabalhos discutidos nesta seção dialogam com essas obras. 2 A opção regressiva (concorrer a um cargo legislativo estadual ou municipal) também é mencionada no artigo, mas não é
analisada em detalhe. 3 O pertencimento a comissões especiais estaria particularmente ligado ao êxito na opção progressiva e a presidência de
comissões permanentes ao sucesso na opção estática (LEONI; PEREIRA e RENNÓ, 2003, p. 62).

Após o esforço inicial para descobrir os determinantes das múltiplas opções de carreira
disponíveis para os deputados federais, Pereira e Rennó (2003) concentram a atenção no estudo da
opção estática, propondo descobrir os fatores que aumentam as chances de reeleição para a Câmara dos
Deputados. Nesse estudo, os autores novamente focalizam apenas os dados da eleição de 1998. A
conclusão principal é que o sucesso da opção estática está ligado, sobretudo, à capacidade de entrega
de benefícios clientelistas às bases eleitorais. Em outras palavras, os mandatários que querem ser
reeleitos precisam trazer ‘pork’ para seus distritos. Adicionalmente, os autores constatam que a
migração para partidos de oposição, durante o mandato, prejudica significativamente a chance de
reeleição.
Em artigo posterior, Pereira e Rennó (2007) voltam a focalizar os determinantes da reeleição,
olhando agora não apenas para as eleições de 1998, mas também para as de 2002. Os resultados da
análise mostram que, nas duas eleições, o sucesso da opção estática esteve ligado aos seguintes fatores:
maior execução das emendas parlamentares individuais; pertencimento a um partido da base
presidencial no Congresso; menor número de migrações partidárias; melhor desempenho eleitoral em
eleições anteriores e menor concentração geográfica dos votos. Especificamente nas eleições de 1998,
outros fatores que favoreceram o êxito reeleitoral foram a ocupação de cargos na Mesa Diretora da
Câmara e maior investimento financeiro na campanha eleitoral. Já nas eleições de 2002, outros fatores
relevantes para a reeleição foram o valor das emendas executadas na principal base eleitoral do
candidato na eleição anterior; grau de apoio elevado às proposições de interesse da Presidência da
República; ocupação de relatorias em comissões temáticas; menor magnitude do distrito eleitoral (mais
assentos em disputa aumentam a competição e reduzem a chance de reeleição) e condição empresarial
do candidato. Portanto, Pereira e Rennó (2007) verificam, mais uma vez, que o atendimento de
demandas locais aumenta as chances de sucesso reeleitoral. Tal capacidade de atendimento, por sua
vez, seria favorecida pela boa relação do deputado com a Presidência da República. Esta conclusão é
reforçada pelo trabalho de Figueiredo e Limongi (2008), segundo o qual “o governo favorece os
parlamentares de sua base em quase todas as unidades orçamentárias” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2008,
p.103), no que tange à execução de emendas individuais referentes a gastos com investimentos.
Noutro trabalho, ao fazer uma análise comparativa dos sistemas eleitorais brasileiro e
colombiano, Botero e Rennó (2007) também apontam, nos dois casos, o pertencimento à base como
fator importante no que se refere ao êxito de tentativas de reeleição.
O objetivo deste artigo é colaborar para o estudo dos determinantes das opções de carreira dos
deputados federais. Há semelhanças e diferenças em relação aos esforços pioneiros reconstituídos até
aqui. Quanto às primeiras, este artigo também analisa o efeito de diferentes variáveis sobre os padrões
de carreira adotados pelos deputados federais. Assim, a variável dependente aqui utilizada são as opções
de carreira dos deputados federais paulistas. Entendemos que os deputados federais, uma vez eleitos,
deparam-se com quatro opções de carreira: a opção de saída (não concorrer a nenhum cargo), a opção
subnacional (concorrer a cargos legislativos municipais ou estaduais), a opção estática (tentar a
reeleição como parlamentar federal, seja para a própria Câmara ou para o Senado) e a opção executiva
(candidatar-se à chefia dos executivos municipal, estadual ou federal; ou então assumir cargos na

estrutura dos diversos níveis de governo, tais como ministérios, secretarias e presidência de estatais,
dentre outros)4.
Por sua vez, as variáveis independentes analisadas neste artigo são as seguintes: perfil eleitoral
do deputado; pertencimento do deputado à base de apoio presidencial no Congresso; pertencimento do
deputado à coligação eleitoral vitoriosa na disputa à Presidência; perfil de atuação parlamentar; e perfil
de atuação partidária. Como será mostrado, diversos indicadores foram utilizados para mensurar cada
uma das variáveis independentes5. A ideia é medir o impacto efetivo dessas potenciais variáveis
explicativas sobre a variável dependente.
Quanto às diferenças, em primeiro lugar, o artigo focaliza simultaneamente diversas opções de
carreira, ao passo que a maior parte dos estudos analisados focaliza, exclusivamente, a opção estática6.
Em segundo lugar, este artigo abrange mais legislaturas, cobrindo todo o período que vai da legislatura
49ª à 53ª. Por outro lado, embora o estudo cubra mais legislaturas e diversas opções de carreira,
focaliza apenas os deputados federais eleitos pelo estado de São Paulo. Estudos de abrangência
nacional, como os citados neste balanço da literatura, são muito importantes por mostrarem as
tendências gerais que operam no conjunto do país. Todavia, estudos de estados específicos também se
justificam, porque permitem verificar se as tendências gerais operam neles de forma homogênea, ou se
há variações impostas pelos contextos locais. Testar hipóteses de abrangência nacional em subunidades
geográficas de uma mesma nação é estratégia explicitamente recomendada, por exemplo, por King,
Keohane e Verba (1994, p. 219-220). Esta estratégia é particularmente promissora no caso em tela,
pois, nas eleições brasileiras para a Câmara dos Deputados, os distritos eleitorais são os vinte e seis
estados e o Distrito Federal. São Paulo foi o estado escolhido como foco deste estudo por ser o distrito
eleitoral de maior magnitude, elegendo 70 deputados federais, o que corresponde a 13,7% dos assentos
da Câmara. Sendo assim, o foco nesse estado, em cinco legislaturas consecutivas, permite que se
controle o fator “variação de contexto local” e, ao mesmo tempo, garante um número de observações
adequado ao tratamento estatístico dos dados7.
4 Nossa tipologia de opções de carreira é ligeiramente diferente da tipologia adotada por Leoni, Pereira e Rennó (2003). Em
primeiro lugar, o que os autores chamam de opção regressiva nós chamamos de opção subnacional. Em segundo lugar,
consideramos que a disputa por uma cadeira do Senado configura opção estática, em vez de opção progressiva, pois o
candidato, quando bem sucedido, continua no Legislativo Federal, recebendo remuneração idêntica (embora com mandato mais
extenso). Além disso, a Constituição brasileira não estabelece hierarquia entre as Casas do Congresso Nacional, atribuindo
poderes legislativos muito semelhantes aos membros das duas Casas. Em terceiro lugar, nomeamos a busca por cargos no
Executivo de opção executiva, em vez de opção progressiva, pois a Constituição brasileira não estabelece hierarquia entre os
poderes do Estado. 5 Portanto, este artigo é diretamente inspirado nos trabalhos apresentados, mas não cobre exatamente as mesmas variáveis e os
mesmos indicadores por eles utilizados. 6 A literatura nacional também possui trabalhos dedicados ao estudo de outras opções de carreiras, tais como a opção executiva
(BOURDOUKAN, 2005) e a opção de saída (FLORENTINO, 2008). Os achados do presente artigo serão cotejados com a literatura
nacional pertinente. 7 Nas Considerações Finais, apontamos a comparação entre estados, em diversas legislaturas, como sugestão para estudos
futuros. Tais estudos comparativos e longitudinais permitiriam investigar se há diferenças significativas entre os estados e os
porquês dessas eventuais variações.

Análise dos Dados
Tabela 1
Opção de carreira dos deputados federais paulistas
(1991-2011)
N %
Saída 51 12,7
Estática 311 77,3
Câmara, bem sucedida 189 60,8
Câmara, mal sucedida 117 37,6
Senado, bem sucedida 2 0,6
Senado, mal sucedida 3 1,0
Executiva 27 6,7
Executiva, bem sucedida 22 81,5
Executiva, mal sucedida 5 18,5
Subnacional 13 3,2
Subnacional, bem sucedida 6 46,1
Subnacional, mal sucedida 7 53,9
Total 402 100,0
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).
A Tabela 1 mostra que, ao longo do período estudado, a opção de carreira preferida pela
grande maioria dos deputados federais paulistas foi a opção estática (311 casos em 402, ou seja,
77,3%)8. Dentre esses deputados, praticamente todos pleitearam a permanência nos quadros da Câmara
e, na maioria dos casos (60,8%), esta ambição foi bem sucedida9. A segunda opção de carreira mais
comum foi a opção de saída, adotada 51 vezes (12,7% dos casos). A terceira opção mais frequente foi a
opção executiva, tentada em 27 oportunidades (6,7% dos casos) e bem sucedida na maioria das vezes
(81,5%)10. Pouquíssimos deputados fizeram a opção de carreira subnacional, o que ocorreu apenas 13
vezes (ou seja, em 3,2% dos casos)11.
A partir daqui pretendemos identificar os fatores determinantes dessas opções de carreira. A
estratégia de análise adotada é a seguinte: em primeiro lugar, construímos tabelas de contingência em
8 O banco de dados que deu origem a este artigo pode ser solicitado aos autores. Cada um dos 402 casos corresponde a um
deputado federal, numa das cinco legislaturas analisadas. Analisamos as opções de carreiras tanto dos deputados titulares
quanto dos deputados suplentes que tenham, em qualquer momento da legislatura e por qualquer período, ocupado alguma
cadeira da Câmara. Um mesmo deputado corresponde a tantos casos quantas tenham sido as legislaturas em que ocupou, como
titular ou suplente, alguma cadeira da Câmara. 9 Neste artigo, quando se analisa a opção estática, levam-se em conta, exclusivamente, as recandidaturas à Câmara dos
Deputados. A disputa por cadeiras do Senado ocorre sob regras muito diferentes e é rara entre os deputados federais paulistas, o
que dificulta a análise estatística. No mesmo período (FLORENTINO, 2008, p. 53), o percentual nacional de recandidaturas de
deputados federais foi ligeiramente superior ao observado em São Paulo (81% contra 76,1%), e o percentual nacional de
reeleição de deputados federais foi bem próximo ao do estado (60,8% contra 61,8%). 10 Consideram-se aqui apenas as candidaturas a cargos executivos eletivos, para evitar dupla contagem. Em 38 casos, deputados
federais paulistas ocuparam, durante o mandato, cargos de livre nomeação no Poder Executivo, em níveis federal, estadual ou
municipal. Após essa passagem pelo Executivo, em 28 casos, os nomeados acabaram disputando a reeleição para o Legislativo
Federal (isto é, em 73,7% das vezes) e, nos 10 casos restantes, optaram pela saída. 11 Por causa do pequeno número de casos disponíveis para análise, não foi possível focalizar os determinantes da opção
subnacional. Concordamos, no entanto, com o comentário do parecerista anônimo, que compreendeu nossa opção metodológica,
mas destacou a importância do estudo dos casos “menos prováveis”.

que os indicadores das variáveis independentes são cruzados com as opções de carreira focalizadas no
artigo. Após a construção das tabelas de contingência, apresentamos modelos de regressão logística,
inicialmente, univariados, para cada uma das variáveis independentes identificadas como
estatisticamente significativas (ou próximas deste valor) por meio das tabelas de contingência. Na
sequência, realizamos testes para encontrar o modelo de regressão logística mais ajustado para cada
uma das opções de carreira12. A última seção contém as Considerações Finais.
Tabelas de contingência
A primeira variável independente cujos efeitos são analisados é o perfil eleitoral dos deputados.
Os indicadores dessa variável são os seguintes: i) grupos de votação; ii) grupos de concentração eleitoral
e iii) grupos de competitividade local. O indicador “grupos de votação” foi construído da seguinte
maneira: o número de votos recebidos pelo candidato na eleição anterior para deputado federal foi
dividido pelo número de votos válidos naquela eleição, no estado, para o mesmo cargo. O resultado
desse cálculo indicou o percentual de votos obtidos pelos candidatos. A partir desse cálculo, os
deputados foram divididos em três grupos de tamanho aproximadamente igual: o grupo dos deputados
mais votados, o grupo dos deputados de votação intermediária e o grupo dos deputados menos votados.
Já o indicador “grupos de concentração eleitoral” foi construído da seguinte maneira: o total de votos
obtidos pelo candidato no município em que obteve mais votos na eleição anterior foi dividido pelo total
de votos obtidos pelo candidato naquela eleição em todo o estado. A partir desse cálculo, os deputados
foram novamente divididos em três grupos de tamanho aproximadamente igual: o grupo dos deputados
de votação geograficamente mais concentrada, o grupo dos deputados de concentração eleitoral
intermediária e o grupo dos deputados de concentração eleitoral mais baixa. Por sua vez, o indicador
“grupos de competitividade local” foi construído assim: do total de votos obtidos pelo candidato no
município em que ele obteve mais votos na eleição anterior foi subtraído o total de votos obtido pelo
candidato (diferente do primeiro) com maior votação neste município. Nesse caso, uma diferença
positiva indica que o candidato em questão foi o mais votado naquele município - sendo, portanto,
localmente competitivo. Uma diferença negativa indica que outro candidato foi mais votado naquele
município: quanto maior a diferença negativa, menor a competitividade local do candidato. Mais uma
vez, os deputados foram divididos em três grupos de tamanho aproximadamente igual: o grupo dos
candidatos de maior competitividade local, o grupo de candidatos de competitividade local intermediária
e o grupo dos candidatos localmente menos competitivos.
A hipótese geral, nesse caso, é que o perfil eleitoral dos deputados influencia a escolha pelas
opções de carreira. De forma mais detalhada, as hipóteses testadas são as seguintes: i) menores índices
de votação, concentração eleitoral e competitividade local, na eleição anterior, favorecem a opção de
saída e ii) maiores índices de votação, concentração eleitoral e competitividade local, na eleição anterior,
favorecem o êxito nas opções estática e executiva13. O índice de votação indica consolidação da carreira
política: supõe-se que os deputados com menor índice de votação tendem mais a optar pela saída, e que
deputados com maior índice de votação e, portanto, com carreiras mais consolidadas, tendem mais a
12 Todos os testes estatísticos apresentados no artigo foram realizados com o programa SPSS 19. 13 Como havia relativamente poucos casos de deputados que escolheram a opção executiva, esses deputados foram divididos em
apenas dois grupos.

permanecer na vida política, buscando a reeleição ou cargos executivos. Os indicadores de concentração
eleitoral e competitividade local, por sua vez, mostram se o parlamentar possui uma base eleitoral
geograficamente definida: isso favoreceria tanto a permanência na Câmara quanto o êxito da carreira
executiva, especialmente, neste último caso, se o deputado disputar a prefeitura da cidade que forma
sua principal base eleitoral.
A Tabela 2 apresenta os resultados dos testes dessas hipóteses:
Tabela 2
Perfil eleitoral e opções de carreira dos deputados federais paulistas
(1991-2011)
Saída Reeleitos vs não
reeleitos Executivo
Outros Saída Reeleitos Não
reeleitos Outros Executivo
Votação
Mais votados 119 16 80 21 189 13
,4 -,4 4,4 -4,4 -,9 ,9
Votação intermediária 116 16 63 41 - -
,2 -,2 -,3 ,3 - -
Menos votados 116 19 46 55 191 9
-,6 ,6 -4,1 4,1 ,9 -,9
TOTAL 351 51 189 117 380 22
χ2= 0,358
(0,836) χ2= 24,327 (0,000) TEF=(0,512)
Concentração
Maior concentração de
votos 123 11 61 45 192 9
1,9 -1,9 -1,1 1,1 ,9 -,9
Concentração intermediária
de votos 116 17 60 42 - -
,0 ,0 -,7 ,7 - -
Menor concentração de
votos 112 23 68 30 188 13
-1,9 1,9 1,9 -1,9 -,9 ,9
TOTAL 351 51 189 117 380 22
χ2= 4,733
(0,094) χ2= 3,583 (0,167) TEF=(0,512)
Competitividade
Maior competitividade local 127 6 64 41 184 15
3,5 -3,5 -,2 ,2 -1,8 1,8
Competitividade local
intermediária 113 22 63 34 - -
-1,5 1,5 ,8 -,8 - -
Menor competitividade
local 111 23 62 42 196 7
-1,9 1,9 -,6 ,6 1,8 -1,8
TOTAL 351 51 189 117 380 22
χ2= 12,038
(0,002) χ2= 0,649 (0,723) TEF=(0,082)
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).

Os dados da Tabela 2 confirmam a hipótese acerca do efeito da competitividade local sobre a
opção de saída: de fato, os deputados localmente mais competitivos, na eleição anterior, optam mais
pela permanência na vida política14. O efeito da concentração eleitoral sobre a opção de saída também
se aproxima de valores estatisticamente significativos, mostrando que os deputados com votação mais
concentrada, na eleição anterior, desistem menos da carreira política15. Em outras palavras, a Tabela 2
sugere que, entre os deputados federais paulistas, a decisão de abandonar a vida política pode estar
ligada à dificuldade de constituir uma base eleitoral geograficamente definida. Não há evidências de
efeito do indicador “grupos de votação” sobre essa opção de carreira, achado que diverge do encontrado
por Leoni, Pereira e Rennó (2003) para o Brasil como um todo nas eleições de 1998.
No que diz respeito à opção estática, a Tabela 2 confirma a hipótese acerca do índice de
votação. Isto é, os deputados mais votados na eleição anterior tendem a ser mais bem sucedidos na
campanha de reeleição; e os menos votados tendem a ser menos bem sucedidos. Esses resultados, que
convergem com os achados de Pereira e Rennó (2007) para as eleições de 1998 e 2002 e de Speck e
Mancuso (2012) para as eleições de 2010, reafirmam a importância do acúmulo de capital político para
a estabilidade das carreiras. Não há evidências significativas em apoio às demais hipóteses.
Quanto à opção executiva, o efeito da competitividade local aproxima-se de valores
estatisticamente significativos, sugerindo, conforme esperado, que os candidatos capazes de construir
uma base eleitoral geograficamente delimitada tendem a ser mais bem sucedidos nesta opção. É
importante registrar que todos os cargos executivos disputados foram cargos de prefeitos municipais.
Este é o caso, por exemplo, do deputado federal Celso Giglio, que apresentou alto índice de
competitividade local nas eleições de 1998 e, em 2000, foi eleito prefeito da cidade de Osasco.
A segunda variável independente focalizada neste artigo é o pertencimento do deputado à base
de apoio presidencial na Câmara. Os indicadores dessa variável são: i) a presença do partido do
parlamentar na base de apoio ao Presidente no dia da eleição para deputado federal; e ii) o percentual
de votos favoráveis, em plenário, às propostas legislativas do Poder Executivo, ao longo do mandato em
vigor16. No que se refere ao primeiro indicador, os deputados foram divididos em dois grupos: o grupo
dos correligionários de partidos da base e o grupo dos demais. Quanto ao segundo indicador, os
deputados foram separados em três grupos de tamanho aproximadamente igual: o grupo dos deputados
que mais apoiaram as propostas do Executivo; o grupo de apoio intermediário e o grupo de menor
apoio17.
14 Para testar a hipótese de associação entre as variáveis nas tabelas de contingência, foram usados o teste exato de Fisher, nas
tabelas 2 x 2, e o teste qui-quadrado de Pearson, nas tabelas 2 x z>2. O p-value dos dois testes indica a chance de erro em
afirmar que as variáveis estão associadas. O p-value usualmente aceito em trabalhos científicos para rejeitar a hipótese nula de
desassociação entre as variáveis é igual ou menor a 0,05 (o que significa cinco por cento ou menos de chance de erro em apontar
associação entre as variáveis). Esse valor foi usado como referência neste artigo. Quando o p-value dos testes foi significativo,
procedeu-se à análise do resíduo ajustado, que se refere a cada célula da tabela, tomada individualmente. O resíduo ajustado
indica que há mais casos do que o esperado numa célula quando é igual ou maior que +2,0 e que há menos casos que o
esperado numa célula quando é menor ou igual a -2,0. 15 Há trabalhos que aceitam p-value igual ou menor que 0,1 para rejeitar a hipótese nula. 16 Os dois indicadores foram construídos a partir de informações do “Banco de Dados Legislativos” do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (CEBRAP). Este banco de dados foi gentilmente cedido pelos pesquisadores responsáveis, aos quais
agradecemos. 17 Leoni, Pereira e Rennó (2003), Pereira e Rennó (2003) e Pereira e Rennó (2007) também utilizam outros indicadores de
pertencimento à base, quais sejam, os de proposição e execução de emendas orçamentárias. Optamos por não usar esses
indicadores, pois, no site do Senado, estavam disponíveis apenas os dados orçamentários referentes ao período 2000-2009.

As hipóteses testadas são as seguintes: i) a opção de saída é mais frequente entre os deputados
cujos partidos não participam da base de apoio ao governo e entre os deputados que menos apoiam as
proposições do Executivo; e ii) os deputados cujos partidos pertencem à base de apoio presidencial, e
que mais apoiam as proposições do Executivo, tendem a ser mais bem sucedidos nas opções estática e
executiva. O pressuposto é que pertencer à base do governo e apoiar suas propostas favorecem a
liberação pelo Executivo federal de um montante maior de recursos para as bases eleitorais do deputado,
o que, por sua vez, pode traduzir-se em maior número de votos. Isso favorece a permanência do
deputado na carreira política - seja na busca de reeleição para a Câmara, seja na disputa pela chefia do
Executivo municipal.
Tabela 3
Pertencimento à base e opções de carreira dos deputados federais paulistas
(1991-2011)
Saída Reeleitos vs não
reeleitos Executivo
Outros Saída Reeleitos
Não
reeleitos Outros Executivo
Pertence à base?
não 137 24 79 38 152 9
-1,1 1,1 1,6 -1,6 -,1 ,1
sim 214 27 110 79 228 13
1,1 -1,1 -1,6 1,6 ,1 -,1
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,287) TEF=(0,116) TEF=(1,000)
Apoio ao governo
Maior apoio 121 13 68 42 192 9
1,3 -1,3 0 0 ,9 -,9
Apoio
intermediário
119 15 53 48
- -
,6 -,6 -2,3 2,3 - -
Menor apoio 111 23 68 27 188 13
-1,9 1,9 2,4 -2,4 -,9 ,9
TOTAL 351 51 189 117 380 22
χ2= 3,773 (0,152) χ2= 7,565(0,023) TEF=(0,512)
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).
A Tabela 3 mostra que não há evidências favoráveis às hipóteses referentes às opções de saída
e executiva. Em primeiro lugar, isto significa que, ao contrário do esperado, o abandono da carreira
política não é mais frequente entre os deputados federais paulistas que se opõem ao governo de plantão.
Dito de outra forma, a sobrevivência política dos deputados paulistas parece não depender
exclusivamente da proximidade com o Executivo federal e da maior facilidade, daí decorrente, de
direcionar recursos para as bases eleitorais.
Em segundo lugar, significa que, no estado de São Paulo, o pertencimento à base não afeta o
êxito dos deputados federais que resolvem disputar, na metade de seus mandatos, o cargo de prefeito.
Bourdoukan (2005, p. 75) sugere que a ambição executiva é mais frequente entre deputados
oposicionistas, por causa da dificuldade de acesso deste subgrupo a recursos públicos. Os dados
disponíveis para o estado de São Paulo, no período estudado, não sustentam claramente a tese de
Bourdoukan, mas mostram que os oposicionistas que decidem candidatar-se a prefeito não enfrentam
um handicap significativo.

Por outro lado, o nível de apoio ao governo parece ser um fator relevante para aqueles que
escolheram a opção estática, mas, de forma surpreendentemente diversa do que o suposto pela hipótese
deste artigo e dos resultados obtidos por Pereira e Rennó (2007) e Botero e Rennó (2007) para as
eleições de 1998 e 2002 no Brasil como um todo. De fato, a Tabela 3 mostra que há mais casos de
candidatos bem sucedidos do que o esperado no subgrupo de menor apoio, e menos casos de
candidatos bem-sucedidos do que o esperado no subgrupo de apoio intermediário. No subgrupo de
maior apoio, não se notam diferenças estatisticamente significativas. Estes achados contraintuitivos
podem estar relacionados com o fato de que tanto o PSDB como o PT elegem, tradicionalmente, muitos
deputados pelo estado de São Paulo. Em quatro dos cinco períodos focalizados neste artigo, os
Presidentes da República foram eleitos por esses dois grandes partidos brasileiros, que têm se colocado,
desde então, em campos políticos opostos (LIMONGI e CORTEZ, 2010). Nas legislaturas 50ª e 51ª, por
exemplo, embora Fernando Henrique Cardoso (PSDB) estivesse à frente da Presidência da República, o
estado de São Paulo elegeu uma forte bancada petista para a Câmara dos Deputados, da qual,
certamente, espera-se um índice relativamente baixo de apoio ao governo. Situação similar foi observada
nas duas legislaturas seguintes (52ª e 53ª), em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chefiou o Executivo
federal e também se deparou com uma bancada de oposição no Congresso, composta, inclusive, por
vários deputados tucanos eleitos pelo estado de São Paulo. É preciso notar ainda que a primeira metade
da 49ª legislatura foi marcada por forte oposição generalizada ao então presidente Fernando Collor de
Mello. A segunda metade dessa legislatura, já no governo de Itamar Franco, também foi marcada por
oposição, exercida no caso pela bancada do PT. Em síntese, o estado de São Paulo tradicionalmente
elege bancadas fortes para os dois principais partidos nacionais, que ora estão na situação, ora na
oposição. É provável, portanto, que o significativo número de deputados de oposição que sempre é eleito
por esse estado tenha diminuído a associação entre o apoio ao governo e o êxito na opção estática.
A terceira variável independente aqui analisada é a ligação do deputado com a chapa eleitoral
vitoriosa na disputa à Presidência. De fato, em todas as eleições focalizadas neste artigo, os pleitos para
a Câmara e para a Presidência foram concomitantes, e a dinâmica de uma disputa pode afetar a outra. O
indicador dessa variável é a presença do parlamentar na lista de candidatos dos partidos que formaram
a chapa vitoriosa na disputa presidencial. Esse indicador divide os parlamentares em dois grupos: os
candidatos da chapa vitoriosa e os demais. A hipótese testada é que a presença do parlamentar entre os
candidatos da chapa vitoriosa aumenta a chance de êxito na disputa pela reeleição18. Esta hipótese
complementa a anterior em dois sentidos: em primeiro lugar, porque a hipótese anterior investiga
vantagens teoricamente possuídas pelos candidatos situacionistas, por serem da base de apoio ao
governo, ao passo que a hipótese atual focaliza também eventuais vantagens dos candidatos
oposicionistas, quando suas chapas saem vitoriosas na eleição presidencial - algo que, no período
estudado, ocorreu nas eleições de 2002, vencidas pela chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar
Gomes da Silva. Em segundo lugar, porque nem sempre as coligações eleitorais para a Presidência
acompanham as coalizões de governo existentes na Câmara. Ou seja: partidos que hoje estão na base do
18 O impacto dessa variável sobre a opção executiva não é estudado porque as eleições municipais não são concomitantes às
eleições presidenciais. Também não é investigado o impacto da variável sobre a opção de saída, porque a decisão de se afastar
da vida política muitas vezes é tomada antes da formalização das chapas que disputarão a Presidência da República.

governo podem não apoiar o candidato do governo na próxima eleição presidencial, e partidos que hoje
estão na oposição podem vir a apoiar o candidato do governo na eleição seguinte.
Todavia, os dados da Tabela 4 não apresentam evidências que suportem esta hipótese. Isso
quer dizer que o êxito dos deputados paulistas em suas campanhas de reeleição não depende de integrar
a chapa vitoriosa no pleito presidencial.
Tabela 4
Pertencimento à chapa vitoriosa na disputa à Presidência
e opções de carreira dos deputados federais paulistas
(1991-2011)
Reeleitos x não reeleitos
Reeleitos Não reeleitos
Pertence à coligação presidencial vitoriosa?
não 108 77
-1,5 1,5
sim 81 40
1,5 -1,5
TOTAL 189 117
TEF=(0,149)
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).
A quarta variável independente focalizada neste artigo é o perfil de atuação parlamentar. Seis
indicadores são utilizados: i) aprovação de normas jurídicas; ii) presença nas votações em plenário; iii)
pertença à lista de “Cabeças do Congresso Nacional” do DIAP; iv) ocupação de cargos de liderança na
Câmara dos Deputados; v) liderança de comissões permanentes e vi) liderança de comissões
parlamentares de inquérito. O indicador “aprovação de normas jurídicas” dividiu os deputados em dois
grupos: o grupo dos deputados autores de, pelo menos, uma proposição legislativa que tenha sido
transformada em norma jurídica durante o mandato, e todos os demais. O segundo indicador foi
elaborado a partir da proporção de ausências dos parlamentares nas votações de plenário realizadas
durante o mandato. Este indicador, construído a partir de informações do Banco de Dados Legislativos do
CEBRAP, originou três grupos de parlamentares: o grupo dos deputados mais presentes, o grupo de
presença intermediária, e o grupo dos mais ausentes. O terceiro indicador dividiu os parlamentares em
dois grupos: os deputados identificados como “cabeças do Congresso Nacional” pela publicação anual
de mesmo título do DIAP e os demais. O quarto indicador diferenciou dos demais todos os deputados
que ocuparam pelo menos um dos seguintes cargos de liderança na Câmara durante o mandato: líder do
governo, líder da bancada de partido, membro da Mesa Diretora, líder da maioria, líder da minoria ou
líder de bloco parlamentar. Finalmente, os outros indicadores distinguiram dos demais os parlamentares
que lideraram comissões permanentes ou CPIs durante seu mandato.
A hipótese que orienta a análise é que os seis indicadores desfavorecem a opção de saída e
favorecem o êxito nas opções estática e executiva. Espera-se que os deputados federais que se destacam
no exercício da função parlamentar tenham mais chances de permanecer na carreira política, seja no
Legislativo ou no Executivo, por causa da projeção que obtêm.

Tabela 5
Perfil de atuação parlamentar e opções de carreira dos deputados federais paulistas
(1991-2011)
Saída
Reeleitos vs não
reeleitos Executivo
Outros Saída Reeleitos
Não
reeleitos Outros Executivo
Aprovou normas jurídicas?
Não 313 48 170 103 341 20
-1,1 1,1 ,5 -,5 -,2 ,2
Sim 38 3 19 14 39 2
1,1 -1,1 -,5 ,5 0,2 -0,2
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,455) TEF=(0,705) TEF=(1,000)
Presença nas votações
Mais presentes 122 11 66 42 191 12
1,9 -1,9 -,2 ,2 -,4 ,4
Presença
intermediária 117 20 59 42 - -
-,8 ,8 -,8 ,8 - -
Menos presentes 112 20 64 33 189 10
-1 1 1 -1 ,4 -,4
TOTAL 351 51 189 117 380 22
χ2= 3,518 (0,172) χ2= 1,229 (0,541) TEF=(0,827)
Pertence à lista DIAP?
não 263 45 124 103 289 19
-2,1 2,1 -4,4 4,4 -1,1 1,1
sim 88 6 65 14 91 3
2,1 -2,1 4,4 -4,4 1,1 -1,1
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,035) TEF=(0,000) TEF=(0,436)
Ocupou cargo de liderança
na Câmara?
não 305 49 158 109 336 18
-1,9 1,9 -2,4 2,4 ,9 -,9
sim 46 2 31 8 44 4
1,9 -1,9 2,4 -2,4 -,9 ,9
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,064) TEF=(0,014) TEF=(0,317)
Liderou comissão
permanente?
não 234 35 120 80 252 17
-0,3 0,3 -,9 ,9 -1,1 1,1
sim 117 16 69 37 128 5
0,3 -0,3 ,9 -,9 1,1 -1,1
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,874) TEF=(0,391) TEF=(0,356)
Liderou CPI?
não 325 49 171 110 352 22
-,9 ,9 -1,1 1,1 -1,3 1,3
sim 26 2 18 7 28 0
,9 -,9 1,1 -1,1 1,3 -1,3
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,556) TEF=(0,391) TEF=(0,386)
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).
A Tabela 5 oferece evidências de que o perfil de atuação parlamentar influencia as opções de
carreira adotadas pelos deputados federais paulistas. A opção de saída é feita com menos frequência
pelos “cabeças” do Congresso Nacional e pelos que ocupam cargos de liderança. O êxito na disputa pela
reeleição está ligado aos mesmos indicadores, embora em sentido oposto. Isto é, tendem a ser
significativamente mais bem sucedidos na opção estática os “cabeças” do Congresso e os ocupantes de
cargos de liderança. É interessante notar que os indicadores associados à permanência na carreira
política e ao êxito na reeleição são indicadores de posição (liderança) e de reputação (avaliação do
DIAP), em vez de indicadores de produtividade (normas jurídicas aprovadas) ou assiduidade legislativa
(presença nas votações). Esses dados corroboram o que Leoni, Pereira e Rennó (2003) apontaram em
seu artigo: ao contrário do que afirma Samuels, os incumbents que se destacam no exercício da função

parlamentar não apenas tendem mais a disputar a reeleição, como levam vantagem nessa disputa. Um
exemplo que ilustra a associação entre esses indicadores e a opção estática bem sucedida é o do
deputado Eduardo Jorge, eleito pela primeira vez como deputado federal em 1990. Na 49ª legislatura, o
deputado integrou a lista do DIAP e liderou a bancada de seu partido - o PT , tendo sido reeleito nas
duas legislaturas seguintes.
A Tabela 5 não mostra associação entre os seis indicadores e o êxito na eleição para prefeito,
sugerindo, diferentemente de Leoni, Pereira e Rennó (2003), que, pelo menos no caso de São Paulo e
para o período considerado, o bom desempenho da função parlamentar não favorece a ambição
executiva.
A última variável independente focalizada neste artigo é o perfil de atuação partidária. Neste
caso, utilizamos dois indicadores: i) ocupação de cargos de liderança partidária e ii) mudanças de
partido. O primeiro indicador distingue dos demais os deputados que, durante o mandato, ocuparam
também os cargos de presidente, vice-presidente ou secretário-geral de seus partidos políticos. O outro
indicador diferencia dos demais os parlamentares que, ao longo do mandato, migraram de legenda pelo
menos uma vez.
As hipóteses aqui são as seguintes: ocupar cargos de liderança partidária desfavorece a opção
de saída e favorece as opções estática e executiva. Espera-se que a ocupação de cargos de liderança
partidária incremente a visibilidade e a projeção política dos deputados, tanto perante o eleitorado como
perante os correligionários e simpatizantes de seus partidos, favorecendo assim a permanência na vida
política e o sucesso tanto na reeleição como na ambição executiva. Já a mudança de partido pode ter
efeitos ambíguos, favorecendo ou desfavorecendo as opções de saída, estática e executiva, conforme
dificulte ou facilite para o deputado migrante o encontro de legendas competitivas para futuras
candidaturas.
Tabela 6
Perfil de atuação partidária e opções de carreira dos deputados federais paulistas
(1991-2011)
Saída
Reeleitos vs não
reeleitos Executivo
Outros Saída Reeleitos
Não
reeleitos Outros Executivo
Lidera partido?
não 307 48 161 106 336 19
-1,4 1,4 -1,4 1,4 0,3 -0,3
sim 44 3 28 11 44 3
1,4 -1,4 1,4 -1,4 -0,3 0,3
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,242) TEF=(0,217) TEF=(0,732)
Mudou de partido?
não 283 42 164 88 307 18
-0,3 0,3 2,6 -2,6 -0,1 0,1
sim 68 9 25 29 73 4
0,3 -0,3 -2,6 2,6 0,1 -0,1
TOTAL 351 51 189 117 380 22
TEF=(0,851) TEF=(0,013) TEF=(1,000)
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).

A Tabela 6 não apresenta evidência de impacto da ocupação de cargos de liderança partidária
sobre quaisquer opções de carreira. A migração partidária também não parece afetar a escolha da opção
de saída ou o êxito em candidaturas ao Executivo. Porém, há evidências de que a migração partidária
prejudica os deputados que se candidatam à reeleição, o que converge com os resultados de Pereira e
Rennó (2007), mas contradiz a expectativa de ganhos eleitorais que, segundo Diniz (2000, p. 46), é o
verdadeiro fator explicativo das mudanças de partido na Câmara dos Deputados. Portanto, tais
evidências sugerem que o grau de identificação do candidato com seu partido importa e pode afetar sua
carreira política. Este parece ter sido o caso, por exemplo, do deputado José Maria Eymael que, eleito
para a 49ª legislatura (1991-1995), mudou de partido duas vezes durante seu mandato. Na tentativa de
reeleição para a 50ª legislatura, o deputado foi mal sucedido.
Modelos de Regressão Logística
As tabelas de contingência (Tabelas 2 a 6) apresentadas na seção anterior ajudam a identificar
as variáveis associadas às diversas opções de carreira disponíveis aos deputados federais paulistas no
período estudado. O objetivo desta seção é avançar mais um passo e encontrar o modelo de regressão
logística mais bem ajustado a cada uma das opções de carreira. Nos três casos, o procedimento
metodológico adotado é o mesmo. Em primeiro lugar, para cada opção de carreira, foram rodados
modelos univariados de regressão logística para cada um dos indicadores apontados na seção anterior
como estatisticamente significativos ou muito próximos disso (isto é, com o p-value do teste qui-
quadrado, ou do teste exato de Fisher, inferior, igual ou pouco superior a 0,05). Depois foram realizados
testes para comparar a capacidade explicativa dos modelos univariados com a de modelos
multivariados19. Seguindo a recomendação de King, Keohane e Verba (1994, p. 182-185), acreditamos
que é mais recomendável buscar o modelo de melhor ajuste incluindo nessa busca apenas as variáveis
teoricamente relevantes e estatisticamente significativas do que: 1. saturar os modelos com todas as
variáveis disponíveis; 2. ver, a posteriori, o que “funcionou”; e 3. tentar encontrar uma explicação ex post
para os resultados obtidos.
A primeira opção de carreira analisada nesta seção é a saída da vida política. Os testes
mencionados mostram que o modelo mais ajustado para essa opção é o seguinte (Tabela 7):
19 O teste utilizado na comparação foi o seguinte: subtraímos do valor do teste da razão de verossimilhança dos modelos
univariados [-2 Log Likelihood] o valor do mesmo teste para o modelo multivariado. A diferença obtida foi comparada com o valor
apontado na tabela de qui-quadrado (com grau de liberdade igual ao número de variáveis acrescidas) como o valor necessário
para uma chance de erro igual ou inferior a 5% em afirmar que o modelo multivariado é superior ao univariado. Quando o valor
obtido pela subtração foi igual ou superior ao valor apontado na tabela do qui-quadrado, o modelo multivariado foi considerado
de melhor ajuste aos dados. Tanto no caso dos modelos univariados, quanto no caso dos modelos multivariados, só foram
aceitos os modelos que subsistiram simultaneamente a três testes - o de razão de verossimilhança, o de Hosmer-Lemeshow e o
de Wald (Peng, Lee e Ingersoll, 2002). Quanto ao teste de razão de verossimilhança (que indica se o modelo testado é mais
ajustado aos dados que o modelo “nulo”, isto é, sem variáveis independentes), se o p-value foi menor que 0,05, então foi rejeitada
a hipótese de que o modelo testado não é mais ajustado aos dados que o modelo nulo. Quanto ao teste de Hosmer-Lemeshow, se
o p-value foi igual ou maior que 0,05, então, foi rejeitada a hipótese de que o modelo não se ajusta aos dados. Por fim, quanto ao
teste qui-quadrado de Wald (que avalia a significância dos coeficientes de regressão), se o p-value foi menor que 0,05, então, foi
rejeitada a hipótese de que os coeficientes de regressão não são significantes.

Tabela 7
Determinantes da opção de saída entre deputados federais paulistas
(1991-2011)
Avaliação do modelo Qualidade do ajuste
Modelo Teste de razão de verossimilhança Hosmer-Lemeshow
- 2 LL χ² GL p χ² GL p β EP β Wald GL p
Razão de
chances
279,059 26,770 5 ,000 1,964 8 ,982 Concentração alta -,822 ,400 4,217 1 ,040 ,439
Concentração
média -,380 ,357 1,133 1 ,287 ,684
Competitividade
alta -1,566 ,482 10,547 1 ,001 ,209
Competitividade
média ,055 ,335 ,027 1 ,869 1,057
Lista DIAP -1,204 ,460 6,862 1 ,009 ,300
Constante -1,021 ,295 11,970 1 ,001 ,360
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).
A Tabela 7 aponta relação negativa e significativa entre a opção de saída e alto nível de
concentração eleitoral, alto nível de competitividade local e pertencimento do deputado à lista de
“cabeças” do Congresso Nacional, anualmente elaborada pelo DIAP. No que se refere à concentração
eleitoral, o modelo mostra que a chance de saída dos candidatos com alto nível de concentração eleitoral
corresponde a 43,9% da chance de saída dos candidatos com concentração eleitoral baixa, que foram
tomados como grupo de referência. No que tange à competitividade local, o modelo indica que a chance
de saída dos candidatos localmente mais competitivos corresponde a apenas 20,9% da chance de saída
dos candidatos menos competitivos, tomados como grupo de referência. Por outro lado, o modelo
mostra que, em média, a chance de saída dos candidatos que pertencem à lista do DIAP de “cabeças”
do Congresso Nacional corresponde a 30% da chance de saída dos demais candidatos. Em síntese, os
achados deste artigo sugerem que a sobrevivência política dos deputados federais paulistas está ligada,
sobretudo, à constituição de sólida base eleitoral local e à reputação de parlamentares com desempenho
destacado. Ou seja, o deputado federal paulista que pretende continuar na política precisa cuidar do
local, mas não pode descurar do nacional, mesmo que figure nas fileiras oposicionistas e não seja um
exemplo de liderança ou fidelidade partidária. Assim, o presente artigo reforça e complementa os
resultados de Florentino (2008), que mostra que o abandono da política está ligado a dois fatores: à
dificuldade de obter destaque na atividade política (fator que atinge mulheres, novatos, suplentes e
membros de partidos pequenos)20 e ao esgotamento da capacidade de participar e influir (fator que afeta
os mais idosos, os envolvidos em escândalos e os ligados a partidos ou grupos em decadência).
A segunda opção de carreira focalizada é a opção estática. O modelo mais ajustado para essa
opção é apresentado na Tabela 8:
20 Segmentos menos presentes na lista de “cabeças do Congresso” do DIAP.

Tabela 8
Determinantes do êxito na opção estática entre deputados federais paulistas
(1991-2011)
Avaliação do modelo Qualidade do
ajuste Modelo
Teste de razão de verossimilhança Hosmer-Lemeshow
- 2 LL χ² GL p χ² GL p β EP β Wald GL p Razão de
chances
356,867 50,238 4 ,000 3,191 4 ,000 Votação alta 1,638 ,338 23,469 1 ,000 5,146
Votação
média ,729 ,297 6,017 1 ,014 2,072
Lista DIAP 1,263 ,340 13,806 1 ,000 3,535
Mudança de
partido -,840 ,329 6,504 1 ,011 ,432
Constante -,368 ,226 2,644 1 ,104 ,692
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).
A Tabela 8 indica relação positiva e significativa entre, de um lado, o sucesso na reeleição e, de
outro lado, o pertencimento à lista do DIAP e níveis mais altos de votação na eleição anterior. A Tabela 8
indica também relação negativa e significativa entre tal opção de carreira e a mudança de partido. Em
outras palavras, os resultados do artigo sugerem que, no caso dos deputados federais paulistas, a
permanência na Câmara é favorecida pelo capital político acumulado na carreira, tanto em termos
eleitorais quanto em termos reputacionais, e é desfavorecida pela migração partidária. O modelo aponta
que, em comparação com os candidatos menos votados na eleição anterior, tomados como grupo de
referência, os candidatos mais votados têm chance 5,14 vezes maior de êxito reeleitoral, e os candidatos
de votação intermediária têm chance 2,07 vezes maior. Já os candidatos que figuram na lista do DIAP
têm chance de sucesso 3,53 vezes maior do que os candidatos que não aparecem nesta lista. Como dito
anteriormente, este achado confirma a tese de Leoni, Pereira e Rennó (2003), segundo a qual o exercício
destacado da função parlamentar serve não apenas como trampolim para realizar ambição
“progressiva”, mas também como meio de consolidar a carreira no Legislativo. Por fim, a chance de
êxito reeleitoral dos candidatos que migram de partido corresponde, em média, a somente 43,2% da
chance de sucesso dos candidatos que não migram. Este resultado corrobora a tese da importância dos
partidos políticos brasileiros no momento eleitoral (BRAGA e PIMENTEL JR., 2011)21. O sistema eleitoral de
representação proporcional com lista aberta, adotado nas eleições brasileiras para a Câmara dos
Deputados (e também para as assembleias legislativas e para as câmaras de vereadores), muitas vezes,
é criticado por enfraquecer os partidos políticos e o vínculo destes com os eleitores, levando a
competição política a girar em torno de personalidades individuais e não de plataformas partidárias
(MAINWARING, 1992-1993; AMES, 1995). Este artigo apresenta evidências em sentido contrário, ao indicar
que os eleitores punem os deputados migrantes, prejudicando sua ambição estática22.
A última opção de carreira analisada pelo artigo é a opção executiva. O modelo mais ajustado
para essa opção é o seguinte modelo univariado (Tabela 9):
21 Sobre a grande importância dos partidos políticos brasileiros na arena parlamentar, ver Figueiredo e Limongi (2001). 22 A migração partidária no Brasil foi desestimulada pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral Nos. 22.610/07 e
22.733/08. Tais resoluções estabelecem que os partidos políticos podem solicitar à Justiça Eleitoral a decretação de perda de
cargos eletivos de ex-correligionários, em caso de desfiliação partidária sem justa causa. Justas causas para desfiliação
partidária seriam “a incorporação ou fusão do partido, a criação de novo partido, a mudança substancial ou o desvio reiterado do
programa partidário e a grave discriminação pessoal”. Ver: <http://www.tse.jus.br/partidos/fidelidade-partidaria”>.

Tabela 9
Determinantes do êxito na opção executiva entre deputados federais paulistas
(1991-2011)
Avaliação do modelo Qualidade do ajuste
Modelo Teste de razão de
verossimilhança Hosmer-Lemeshow
- 2 LL χ² GL p χ² GL p β EP β Wald GL p
Razão de
chances
161,512 9,100 2 ,011 ,000 1 1,000 Competitividade
alta 1,341 ,581 5,329 1 ,021 3,824
Competitividade
média -,008 ,718 ,000 1 ,991 ,992
Constante -3,481 ,508 47,029 1 ,000 ,031
Fonte: Banco de dados sobre carreiras políticas dos deputados federais paulistas (1991-2011).
A Tabela 9 evidencia relação positiva e significativa entre alto nível de competitividade local e
êxito na ambição executiva, ou seja, a chance de um deputado eleger-se prefeito aumenta à medida que
também aumenta sua competitividade local. Em média, a chance de sucesso dos deputados localmente
mais competitivos é 3,8 vezes maior que a dos menos competitivos, tomados como grupo de referência.
Ou seja, para os deputados com ambição executiva, a formação de bases eleitorais locais importa mais
do que o pertencimento às fileiras governistas ou o destaque na atuação parlamentar. Este achado
sugere que estratégias diversas favorecem deputados com ambições políticas diferentes: os que desejam
permanecer na Câmara beneficiam-se ao acumularem capital político eleitoral e reputacional, bem como
ao manterem a fidelidade partidária, enquanto os que desejam ser prefeitos precisam cultivar e
fortalecer os laços locais23. Um bom exemplo para o modelo de opção executiva é o deputado federal
Reinaldo Nogueira (PMDB), que, na eleição de 2006, obteve um altíssimo índice de competitividade local
e, em 2008, foi bem sucedido na opção executiva para o cargo de prefeito da cidade de Indaiatuba.
Considerações Finais
Este artigo focalizou as opções de carreira política dos deputados federais paulistas no período
das legislaturas 49ª à 53ª - isto é, entre 1991 e 2011. O esforço foi dirigido não apenas à investigação
dos determinantes da opção estática, mas também da opção executiva e da opção de saída. A opção
subnacional teve de ser desconsiderada por conta da limitação imposta pelo pequeno número de casos.
Inicialmente, investigamos o efeito de cinco variáveis sobre as três opções de carreira citadas
anteriormente. Quanto ao perfil eleitoral, verificou-se que os deputados localmente mais competitivos e
com votos mais concentrados, na eleição anterior, optaram menos pela saída. Já no que se refere à
opção estática, constatou-se que o acúmulo de capital político eleitoral favorece a reeleição. Quanto à
opção executiva, o efeito da competitividade local aproximou-se de valores estatisticamente
significativos, sugerindo que os candidatos localmente mais competitivos tendem a ser mais bem
sucedidos nessa opção de carreira.
O pertencimento à base não exerceu efeito significativo sobre as opções de saída e executiva.
Entretanto, verificou-se associação entre essa variável e a opção estática, embora de forma distinta da
23 Agradecemos ao parecerista anônimo por chamar a atenção para este ponto.

expectativa inicial: no subgrupo de menor apoio, observam-se mais casos de candidatos bem sucedidos
do que o esperado. Uma possível explicação para tal resultado reside no fato de que o estado de São
Paulo costuma eleger bancadas fortes para PT e PSDB, que estão ora na situação, ora na oposição; o
significativo número de deputados de oposição que sempre é eleito por esse estado pode ter diminuído a
associação entre o apoio ao governo e o êxito na opção estática.
Os dados não apresentaram evidências em favor da hipótese de que o pertencimento do
parlamentar à chapa eleitoral vitoriosa na disputa à Presidência aumenta a chance de êxito na disputa
pela reeleição.
Quanto ao perfil de atuação parlamentar, os dados mostraram que os “cabeças” do Congresso
Nacional e os deputados que se destacam no exercício do mandato optam menos pela saída e tendem a
ser mais bem sucedidos na disputa pela reeleição.
Com relação ao perfil da atuação partidária, há evidências de que a mudança de partido
desfavorece o êxito dos deputados que se candidatam à reeleição.
Em seguida, buscamos os modelos de regressão logística de melhor ajuste para cada opção de
carreira. Sintetizando os achados, os modelos mostraram que, no estado de São Paulo, a opção de saída
é mais frequente entre os deputados federais que não possuem uma base eleitoral geograficamente
definida e que não têm atuação destacada no parlamento. Por sua vez, o sucesso na opção estática está
ligado ao acúmulo de capital político eleitoral (votação expressiva em eleições anteriores) e reputacional
(presença na lista do DIAP), bem como à fidelidade partidária. E o sucesso na opção executiva está
ligado, sobretudo, à competitividade local.
As cinco legislaturas estudadas neste artigo foram analisadas em conjunto para que se pudesse
obter uma visão geral sobre o padrão de carreiras políticas dos deputados paulistas no período
focalizado. Em estudos futuros, o próximo passo é analisar as especificidades de cada legislatura. Outro
passo interessante seria abarcar mais legislaturas e os deputados federais eleitos por outros - ou por
todos - os estados brasileiros.
Referências Bibliográficas
AMES, B. “Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation”. American Journal of Political Science, vol. 39, n° 2,
p. 406-433, May, 1995.
BLACK, G. “A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives”. American Political Science Review,
vol. 66, n° 1, p. 144-159, Mar. 1972.
BOTERO, F.; RENNÓ, L. “Career choice and legislative reelection: evidence from Brazil and Colombia”. Brazilian Political Science
Review, São Paulo, vol. 1, nº 1, p. 102-124, 2007.
BOURDOUKAN. “Ambição e carreiras políticas no Brasil”. São Paulo. Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Universidade de São
Paulo, 2005.
BRACE, P. “Progressive Ambition in the House: A Probabilistic Approach”. Journal of Politics, vol. 46, n° 2, p. 556-571, May, 1984.
BRAGA, M. do S. S.; PIMENTEL JR., J. “Os partidos políticos brasileiros realmente não importam?” Opinião Pública, Campinas,
vol. 17, n° 2, p. 271-303, nov. 2011.
DINIZ, S. “As migrações partidárias e o calendário eleitoral”. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n° 15, p. 31-48, nov. 2000.

FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional. 2ª. edição. São Paulo: Editora FGV; FAPESP, 2001.
_________. Política orçamentária no presidencialismo de coalizão. São Paulo: Konrad Adenauer Stiftung; Editora FGV, 2008.
FLORENTINO, R. “Saindo de cena: parlamentares que desistem da disputa eleitoral (1990-2006)”. Revista de Sociologia e Política,
Curitiba, vol. 16, n° 30, p. 45-63, jun. 2008.
KIEWIET, R.; ZENG, L. “An analysis of Congressional career decisions, 1947-1986”. American Political Science Review, vol. 87, n° 4,
p. 928-941, Dec. 1993.
KING, G.; KEOHANE, R.; VERBA, S. Designing Social Inquiry. New Jersey: Princeton University Press, 1994.
LEONI, E.; PEREIRA, C.; RENNÓ, L. “Estratégias para sobreviver politicamente: escolhas de carreiras na Câmara dos Deputados do
Brasil”. Opinião Pública, Campinas, vol. 9, n° 1, p. 44-67, maio 2003.
LIMONGI, F.; CORTEZ, R. “As eleições de 2010 e o quadro partidário”. Novos Estudos CEBRAP, n° 88, p. 21-37, nov. 2010.
MAINWARING, S. “Brazilian Party Underdevelopment in Comparative Perspective”. Political Science Quarterly, vol. 107, n° 4,
p. 677-707, Winter 1992-1993.
PENG, C-Y; LEE, K.; INGERSOLL, G. “An introduction to logistic regression analysis and reporting”. The Journal of Educational Research,
vol. 96, n° 1, p. 1-14, Sept. 2002.
PEREIRA, C.; RENNÓ, L. “Successful re-election strategies in Brazil: the electoral impact of distinct institutional incentives”. Electoral
Studies, vol. 22, n° 3, p. 425-448, set. 2003.
_________. “O que é que o reeleito tem? O retorno: o esboço de uma teoria da reeleição no Brasil". Revista de Economia Política,
São Paulo, vol. 27, n° 4, p. 664-683, out.-dez. 2007.
ROHDE, D. “Propensão ao risco e ambição progressiva: o caso dos deputados federais nos Estados Unidos”. Revista Brasileira de
Ciência Política, Brasília, n° 8, p. 209-236, maio-ago. 2012.
SCHLESINGER, J. Ambition and Politics. Chicago: Rand McNally & Company, 1966.
SPECK, B.; MANCUSO, W. “Financiamento, capital político e gênero: um estudo de determinantes do desempenho eleitoral nas
eleições legislativas brasileiras de 2010". Trabalho apresentado no GT n° 13 – “Financiamento político no Brasil”, no XXXVI
Encontro Anual da ANPOCS, Águas de Lindoia/SP, out. 2012.
Wagner Pralon Mancuso - [email protected]
Carolina Uehara - [email protected]
Anita de Cássia Sbegue - [email protected]
Caroline Miranda Sampaio - [email protected]
Submetido à publicação em junho de 2012.
Versão final aprovada em outubro de 2013.

Mariana Batista
Doutoranda em Ciência Política
Universidade Federal de Pernambuco
Resumo: Qual o papel da Presidência e dos Ministérios na produção legislativa do Poder Executivo? Com base em uma
abordagem transacional sobre a relação entre o Presidente e os ministros, busca-se, a partir da identificação da autoria das
iniciativas legislativas do Executivo, elencar os fatores que influenciam o Presidente a delegar decisões legislativas para os
ministérios ou centralizar as decisões na Presidência. As hipóteses, testadas através de um modelo logístico para eventos raros,
são que o aumento da distância ideológica, do número de ministros envolvidos na decisão e da institucionalização da Presidência
aumenta a chance de centralização, enquanto o aumento na força legislativa dos partidos dos ministros envolvidos diminui a
chance de centralização. Os resultados indicam que tais fatores importam para entender o processo de formulação legislativa
dentro do Executivo e a escolha que o Presidente faz.
Palavras-chave: presidentes; ministros; governo de coalizão; produção legislativa
Abstract: What is the role of the presidency and ministries in the legislative production of the Executive Branch? From a
transactional approach to the relationship between the president and ministers we seek, through the identification of the
authorship of the legislative initiatives of the Executive, evaluate the factors that influence the president to delegate legislative
decisions to the ministries or centralize decisions in the presidency. The hypotheses tested using a logistic model for rare events
is that the increase in ideological distance, the number of ministers involved in the decision and the institutionalization of the
presidency increases the probability of centralization, while the increase in the legislative strength of the parties of the ministers
involved decreases the probability of centralization. The results indicate that these factors matter to understand the process of
legislative formulation within the Executive and the choice that the president does.
Keywords: presidents; ministers; coalition government; legislative production

Introdução1
Muito se argumenta em torno do presidencialismo de coalizão brasileiro e como este
possibilitou a dominância legislativa do Executivo no país. A “combinação difícil” entre presidencialismo
e multipartidarismo (MAINWARING, 1993) não gerou o entrave ou o imobilismo esperado no processo
decisório e grande parte da explicação está na capacidade do Presidente de contornar as dificuldades de
um governo minoritário através da formação de coalizões. O resultado é a aprovação da agenda do
Presidente no Poder Legislativo, que conta com uma base de apoio razoavelmente consistente,
transformando o Executivo no principal legislador de fato no país, sendo a origem de mais de 75% dos
projetos aprovados pelos legisladores (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001).
Apesar de tal foco na dominância legislativa do Poder Executivo e no papel das coalizões para
garantir tal sucesso, pouco se sabe sobre a dinâmica interna desse poder e como as coalizões de fato
funcionam após a formação do governo. Exceções importantes são o argumento inovador desenvolvido
por Amorim Neto (2006) sobre a formação e a importância do gabinete e as ideias pioneiras sobre a
dinâmica interna do Executivo de Inácio (2006). O que a formação de uma coalizão governativa através
da transferência do controle de pastas ministeriais para os partidos da base de fato significa? Da
perspectiva do Poder Legislativo, a incorporação dos partidos da base no governo cimenta a relação
entre o Presidente e a base e fortalece o apoio dos parlamentares à agenda do Presidente (AMORIM NETO,
2006). Contudo, ao apoiar a agenda do Executivo no Congresso, o que os partidos da coalizão recebem?
Dito de outra forma, o que significa para os partidos da base o controle de pastas ministeriais?
O argumento desenvolvido no presente artigo é que, em troca do apoio do seu partido no
Legislativo, o ministro busca influência no governo. Assim, o Presidente e os ministros estão envolvidos
em uma troca: apoio legislativo por influência no governo. Com isto em mente, o ministro não pode ser
visto como um funcionário regular do Presidente. Como representante do partido, o ministro tem uma
ideologia, preferências políticas, projetos eleitorais e seu partido tem uma agenda política própria e isto
pode afetar diretamente as decisões tomadas pelo governo.
O artigo busca exatamente avaliar a influência da coalizão2 no governo, focando no papel dos
ministros na produção legislativa do Poder Executivo. O objetivo é identificar em que medida o poder
dentro do Executivo é compartilhado entre o Presidente e os membros da coalizão. A problemática que
se impõe é, tendo em vista tal dominância do Executivo, compreender o estágio anterior aos resultados
da ação do Executivo. Isto é, para além de argumentar que o Executivo é forte na democracia atual ou
que tem uma alta taxa de sucesso no legislativo, explicar o processo através do qual tais leis são
construídas e propostas ao Congresso Nacional e o papel desempenhado pelas coalizões dentro do
governo.
1 Versões anteriores deste artigo foram apresentadas no Workshop do Ronald Coase Institute, no 8˚ Encontro da Associação
Brasileira de Ciência Política e no 10° Encontro Anual da ReDGob. Agradeço aos comentários recebidos nos referidos espaços a
ao parecerista anônimo de Opinião Pública. Agradecimento fundamental à Magna Inácio pelo incentivo a esta pesquisa, Enivaldo
Rocha pelo apoio metodológico, Lúcio Rennó pelos inúmeros comentários e sugestões e Marcus Melo pela orientação. Menção
especial a Humberto Caetano do Ministério da Justiça pela dedicação e paciência na disponibilização dos dados solicitados e
Argelina Figueiredo e Cesar Zucco pela disponibilização de seus bancos de dados. Qualquer erro remanescente é de minha total
responsabilidade. 2 Sobre a definição de coalizão: “a coalition is made up out of at least two political parties, and a government coalition refers to
the sharing of executive office by different political parties” (MULLER, BERGMAN & STROM, 2010, p. 6). Governos de coalizão são
formados no presidencialismo brasileiro pela inclusão de outros partidos (base de governo) no controle de pastas ministeriais,
além do partido do Presidente.

Para tanto, fortemente baseado no trabalho de Rudalevige (2002), o artigo busca identificar a
autoria dos projetos legislativos dentro do Poder Executivo, se formulados pelos Ministérios ou pela
Presidência. A ideia central é que o Presidente tem duas opções distintas à sua disposição para a
formulação das iniciativas legislativas do Poder Executivo: ele pode delegar as decisões para os
Ministérios ou pode centralizar as decisões na Presidência. Os ministros controlam pastas ministeriais e,
nesse sentido, controlam a informação sobre aquele tema específico. Contudo, por representarem os
diferentes partidos da coalizão, os ministros podem ter interesses diferentes dos interesses do
Presidente3. A Presidência é o órgão de assistência direta que responde aos interesses do presidente.
Porém, é um órgão que não apresenta o grau de especialização dos ministérios.
O objetivo é identificar sob quais condições o Presidente escolhe um curso de ação e não o
outro. Ou seja, identificar sob quais condições o Presidente centraliza as decisões na Presidência,
focando nos custos de transação de cada escolha específica: delegar ou centralizar. O foco está na
distância ideológica entre o Presidente e os ministros envolvidos, o número de atores envolvidos na
decisão, o grau de institucionalização da Presidência e a força dos partidos da coalizão. Espera-se que o
aumento na distância ideológica, do número de ministros envolvidos na decisão e da institucionalização
da Presidência aumente a chance de centralização, enquanto o aumento na força legislativa dos partidos
dos ministros envolvidos diminua a chance de centralização.
O artigo analisa o presidencialismo de coalizão brasileiro com base na ideia geral de um Poder
Executivo complexo que se constitui numa arena de articulação de interesses e de tomada de decisões
sobre matérias legislativas anterior à tramitação no Poder Legislativo. Para tanto, está subdividido em
mais duas seções além desta introdução e da conclusão. A próxima seção apresenta a estrutura analítica
do artigo, tendo por base uma abordagem transacional. Em seguida, os principais resultados com base
na autoria dos projetos legislativos do Executivo são apresentados. Por último, a conclusão.
Uma abordagem transacional para o Poder Executivo
A economia dos custos de transação trouxe três contribuições principais para o estudo das
relações sociais: a transação específica entre os atores como unidade de análise; a identificação de
custos associados a tais transações que não se relacionam com os custos de produção; e a identificação
de modos de governança distintos para lidar com os custos de transação observados (COASE, 1937;
2005; WILLIAMSON, 2002; 2005).
Um modelo analítico central para essa literatura é o que ficou conhecido como o problema de
integração vertical ou “make or buy”, que se constitui na base fundamental para a discussão mercado
versus firma (WILLIAMSON, 2002). O dilema que se impõe é o seguinte: para produzir um bem final, “A”
precisa de um subcomponente produzido por “B”. Neste caso, “A” pode comprar o subcomponente em
uma transação de mercado, ou assumir todo o processo de produção e produzir o subcomponente ele
mesmo. Por que em alguns casos o mercado é usado enquanto em outros há hierarquia? A resposta está
nos custos de transação.
3 Não só os ministros dos demais partidos da coalizão, mas também os ministros do próprio partido do Presidente podem ter
interesses divergentes. Nesse caso, a diferença é de grau, como será discutido adiante.

Um mundo livre de custos de transação é substituído por outro onde as transações são
custosas. Identificar toda a informação necessária, desenhar contratos e lidar com contratos
necessariamente incompletos implicam custos e estes importam para as escolhas que os atores fazem,
especialmente no que concerne a como as transações serão organizadas. De acordo com este
argumento, há maneiras diferentes de organizar as transações e todas as formas são custosas. Então, as
respectivas vantagens só podem ser avaliadas comparativamente. A análise procede como segue:
identificação dos atores relevantes, da transação em questão, dos atributos da transação a fim de
determinar a variação nos seus custos, e a análise comparativa das formas de organizar estas transações
(MÉNARD, 2005).
Nas palavras de Williamson: “the overall object of the exercise essentially comes down to this: for
each abstract transaction, identify the most economical governance structure - where by governance
structure I refer to the institutional framework within which the integrity of a transaction is decided.
Markets and hierarchies are two main alternatives” (WILLIAMSON, 1979, p. 235).
Atores políticos transacionam, e as transações também estão sujeitas a incertezas, riscos,
oportunismo e todos os tipos de custos de transação. Nesse sentido, podemos falar de uma “política dos
custos de transação” (NORTH, 1990). Alguns exemplos de abordagem transacional para trocas políticas
de fundamental importância para o presente artigo são as contribuições de Weingast e Marshall (1988),
Epstein e O’Halloran (1999) e Rudalevige (2002).
Com base no pressuposto de que as instituições são criadas para reduzir os custos de transação,
deriva-se que as várias maneiras que uma legislatura pode ser organizada estão relacionadas com os
custos associados às transações em questão. Com isso em mente, Weingast e Marshall falam de uma
"organização industrial do Congresso" e colocam esta questão: por que Legislaturas, como as firmas, não
estão organizadas como mercados? A análise é baseada nas preferências dos indivíduos, neste caso, os
legisladores que buscam a reeleição, e nos custos de transação associados às trocas específicas entre os
legisladores (WEINGAST e MARSHALL, 1988).
Os legisladores têm objetivos e preferências próprias, mas o Legislativo é uma instituição de
tomada de decisão coletiva, e a regra da maioria obriga os parlamentares a buscarem os ganhos de
troca. Uma troca política é o assunto aqui, então, como essas transações são organizadas e por quê? No
modo de mercado, os votos são trocados livremente. No entanto, formas de troca através do mercado
provavelmente serão ineficazes em capturar os ganhos de troca, já que problemas de observabilidade e
de enfforcement dos acordos são prementes.
A instituição alternativa concebida pelo legislador para lidar com a ineficiência do modo de troca
pelo mercado baseia-se no sistema de comissões. O sistema de comissões diminui o risco de
oportunismo ex post. Ao invés de trocar votos, os legisladores trocam direitos especiais, quanto ao poder
de agenda setting dos membros das comissões. “Because the exchange is institutionalized, it need not
be renegotiated each new legislative session, and it is subject to fewer enforcement problems” (WEINGAST
e MARSHALL, 1988, p. 157). Dessa forma, as diferentes formas que a relação entre os legisladores pode
ser estabelecida têm por base os custos associados às trocas políticas em questão.
Epstein e O'Halloran têm por foco os custos associados às trocas políticas entre os poderes
Executivo e Legislativo. No contexto de um sistema de separação de poderes, significando a

independência entre o Executivo e o Legislativo, “why does Congress delegate broad authority to the
executive in some policy areas but not in others?” (EPSTEIN e O’HALLORAN, 1999, p. 7). Com esta
pergunta, os autores aproximam um problema do tipo “make or buy”: os legisladores podem escrever a
legislação de forma detalhada no Congresso ou amplos poderes discricionários podem ser delegados ao
Executivo. Duas estruturas de governança alternativas estão à disposição dos legisladores e a escolha é
feita considerando os custos de transação:
“Congress examined its expected costs and benefits under alternative policy-making
structures and selected the one that provided the most possible expected net political
benefits, allocating decision-making authority across the branches and constraining it in
such a way as to reap the benefits of delegation while minimizing the associated political
costs” (EPSTEIN e O’HALLORAN, 1999, p. 4)
Na mesma direção, Rudalevige (2002) leva o argumento ainda mais longe, aplicando-o à análise
do processo de tomada de decisão dentro do Poder Executivo. Dialogando com o trabalho seminal de
Moe (1985) sobre a presidência politizada, Rudalevige (2002) analisa a escolha entre a produção
centralizada das iniciativas legislativas do Presidente ou a delegação para os “departamentos”. Em
outras palavras, o presidente tem um problema “make or buy” com a escolha de formular a política
dentro da Presidência ou delegá-la à burocracia. Há custos de transação associados às duas opções e o
Presidente tem que escolher entre duas diferentes estruturas de governança.
Sob quais circunstâncias o Presidente vai escolher um governo centralizado sobre a delegação
à burocracia? Segundo o autor:
“The cost of policy formulation to the president, then is a similar combination of price and
a consideration of reliability. The latter hinges on whether the president trusts the
information he is given, with trust, in turn, seen as an assessment of the expertise of the
giver, weighted by the degree to which she shares presidential preferences. (….) Clearly the
calculation of presidential transaction costs will not translate into dollars and cents or, for
that matter, into any exact unit of measurement. We can instead aim to define shift
parameters - to get a sense of which options are more costly than others under what
circumstances, and thus to make predictions about effects, in direction and intensity, of
different management environments on president’s choices regarding centralization and
policy formulation” (RUDALEVIGE, 2002, p. 31-32).
Tendo em mente este modelo, o autor propõe que uma maior centralização é esperada quando:
a proposta envolver projetos com vários setores ou reorganização do governo, tendo em vista que as
informações fornecidas pelos integrantes de departamentos e da burocracia mais ampla do governo em
tais casos não são confiáveis; o Presidente tiver um forte apoio direto de uma burocracia
institucionalizada, de modo que o custo da informação diminui e é mais confiável; a proposta requerer
urgência, uma vez que a espera de uma resposta da burocracia não é viável; a proposta referir-se a um
tema completamente novo, e não há burocracia especializada dentro do quadro mais amplo do
Executivo. Em contraste, mais delegação é esperada quando: a complexidade da política aumenta, e
conhecimento especializado é necessário, e também quando a maioria no Congresso é ideologicamente

próxima do Presidente, dado que o Legislativo é também um principal para a burocracia (RUDALEVIGE,
2002).
Com estas abordagens em mente, o objetivo deste artigo é compreender o funcionamento de
governos de coalizão em um sistema presidencialista. A estrutura política brasileira consiste em um
presidencialismo multipartidário, o que significa que, apesar da separação e independência entre
Executivo e Legislativo, o Presidente tem incentivos para formar coalizões para aprovar sua agenda
legislativa e isto provou ser uma estratégia bem sucedida, considerando a dominância legislativa do
Executivo no país (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001).
Outro aspecto dos governos de coalizão suficientemente enfatizado na literatura sobre os
governos de coalizão em sistemas parlamentaristas, mas não levado a seu extremo em sistemas
presidencialistas, é que as coalizões representam a participação de outros partidos dentro do governo,
controlando cargos ministeriais, e isso significa muito mais do que apenas um emprego. O Presidente
convida os partidos para se juntarem ao governo em troca de apoio político no Poder Legislativo. Mas
este apoio é em troca de algo mais: o interesse do ministro em controlar um portfólio pode ser maior do
que apenas postos de trabalho, incluindo também o controle do orçamento, a implementação de
projetos em áreas eleitoralmente relevantes e, no caso do superlegislativo Executivo brasileiro, o controle
da legislação. Resumindo, pode-se dizer que, em troca do apoio do seu partido no Legislativo, o ministro
busca influência no governo. Assim, o Presidente e os ministros estão envolvidos em uma troca: apoio
legislativo por influência no governo. Nessa perspectiva, o ministro não pode ser visto como um
funcionário regular do Presidente. Como representante do partido, o ministro tem uma ideologia,
preferências políticas, projetos eleitorais e seu partido tem uma agenda política própria.
O foco deste artigo é a relação entre o Presidente e o gabinete multipartidário no processo de
produção legislativa dentro do Poder Executivo. No caso específico aqui analisado, para governar, o
Presidente precisa de um subcomponente produzido pelos ministros, que é a informação para basear a
produção de leis. Neste sentido, o Presidente tem um problema do tipo “make or buy”: ele pode comprar
esta informação livremente dos ministros setoriais, beneficiando-se da especialização e divisão do
trabalho, ou ele pode integrar o processo de produção e construir as iniciativas legislativas na
Presidência.
Claramente, as duas opções têm custos de transação. A livre negociação com os ministros
setoriais aproxima-se da situação do mercado. A especialização derivada da divisão do trabalho dentro
do governo e o controle da informação por parte dos ministros faz da "compra" uma opção atraente. No
entanto, este controle exclusivo de informações pelos ministros oferece riscos para o controle do
Presidente sobre as decisões do governo. O risco é maior quando o ministro é integrante dos demais
partidos da base, já que podem ter interesses e projetos políticos e eleitorais diametralmente opostos
aos do Presidente. Porém, a delegação irrestrita para ministros do mesmo partido do Presidente
também traz custos, já que estes podem também ter uma agenda própria e conflitos no interior do
mesmo partido são comuns. Dessa forma, a diferença é de grau e as duas opções constituem delegação.
Tendo isto em conta, a centralização pode tornar-se uma opção forte, mas apresenta custos. A
centralização da tomada de decisão no interior da Presidência tem os benefícios do máximo controle
sobre as decisões políticas, mas com a falta de conhecimento específico, a Presidência pode aumentar a

incerteza sobre os resultados e um esforço permanente no aumento da capacidade da Presidência tem
altos custos de oportunidade.
Assim como para Rudalevige (2002), os custos de transação na relação entre o Presidente e os
ministros não podem ser traduzidos em dollars and cents, mas podem ser identificados como
diretamente associados à informação. Os ministros representam a divisão do trabalho e o controle de
informação específica sobre determinado tema. Contudo, eles podem ter interesses próprios que diferem
dos interesses do Presidente. Dessa forma, este tem que escolher a opção que maximize informação
confiável sobre o projeto em questão. Para avaliar a “confiabilidade” da informação, para usar os termos
de Rudalevige (2002), aqui são analisadas quatro características específicas: as preferências dos atores;
o número de atores envolvidos na decisão; a institucionalização do órgão de apoio direto ao Presidente e
a força legislativa dos atores no processo decisório.
Figura 1
Processo de Produção Legislativa no Executivo
Compreendidos os custos associados às duas opções, por que o Presidente escolhe delegar
para os ministros em alguns casos, mas, em outros, é observada a centralização na Presidência? Com
base no argumento clássico, o Presidente escolhe a opção que reduz os custos de transação. Nesse
sentido, é esperado que o Presidente centralize quando a distância de preferências com o ministro seja
maior, indicando a baixa confiabilidade das informações advindas dos ministérios. Quando o número de
atores aumentar é esperada a centralização, tendo em vista que mais partidos numa decisão tendem a
aumentar os custos de obtenção de um acordo que todos eles prefiram ao status quo, sendo necessária
a coordenação. A institucionalização do órgão de apoio direto ao Presidente diminui os custos de
centralização, já que estabelece uma fonte de informações confiáveis independente dos ministérios4. Por
último, com base no argumento de que os ministros representam apoio político ao Presidente no
4 Segundo a definição clássica de Polsby, uma organização pode ser considerada institucionalizada quando: “1) It is relatively
well-bounded, that is to say, differentiated from its environment. Its members are easily identifiable, it is relatively difficult to
become a member, and its leaders are recruited principally from within the organization. 2) The organization is relatively
complex, that is, its functions are internally separated on some regular and explicit basis, its parts are not wholly
interchangeable, and for at least some important purposes, its parts are interdependent. There is a division of labor in which roles
are specified, and there are widely shared expectations about the performance of roles. There are regularized patterns of
recruitment to roles and of movement from role to role. 3) Finally, the organization tends to use universalistic rather than
particularistic criteria, and automatic rather than discretionary methods of conducting its internal business. Precedents and rules
are followed; merit systems replace favoritism and nepotism; and impersonal codes supplant personal preferences as
prescriptions for behavior” (POLSBY, 1968, p. 145).
Fonte: Elaboração própria.

Legislativo, o aumento na força legislativa do partido do ministro diminuiria a centralização, já que,
nesse caso, o Presidente perderia em apoio. A próxima seção dedica-se ao teste empírico de tais
argumentos.
Presidência e Ministérios na produção legislativa do Executivo
Para compreender a escolha do Presidente quanto às duas opções de produção legislativa,
foram analisadas as iniciativas legislativas do Poder Executivo no período de 1995 a 2010,
compreendendo os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva. As
iniciativas legislativas incluídas são as Medidas Provisórias (MPV), os Projetos de Lei Ordinária (PL), os
Projetos de Lei Complementar (PLP) e os Projetos de Emenda Constitucional (PEC). A lista de todas as
iniciativas legislativas submetidas ao Congresso foi disponibilizada pelo Ministério da Justiça.
A análise baseia-se na autoria dos projetos para identificar os casos em que a iniciativa
legislativa é mais ou menos centralizada. Para tanto, foi construído um banco de dados original com
base nas “exposições de motivos”, documento interno ao Executivo que acompanha as iniciativas
legislativas. Em tal documento, são registradas as justificativas dos ministros (sejam dos Ministérios ou
da Presidência) para o projeto em questão e, a partir dele, é possível identificar por quais ministros o
projeto foi construído. As exposições de motivos foram coletadas do sistema da Casa Civil e da Câmara
dos Deputados. Os casos em que a exposição de motivos não estava disponibilizada nos dois sistemas
foram solicitados ao Ministério da Justiça, que mantém um acervo do envio e da tramitação das
propostas de interesse do Executivo no Legislativo.
Um total de 1.715 iniciativas do Executivo foram analisadas, dentre 823 PLs, 784 MPVs, 54
PECs e 54 PLPs. Tais iniciativas incluem projetos submetidos ao Congresso, aprovados, rejeitados ou
ainda em tramitação. As iniciativas legislativas que se referem a créditos adicionais (148 iniciativas)
foram retiradas da amostra por se tratar de um tema específico ao Ministério do Planejamento, que
apenas inflaria a participação desse Ministério na produção legislativa do Poder Executivo. Foram
excluídas ainda as iniciativas de autoria de ministérios “militares”: Marinha, Aeronáutica, Exército e
Estado Maior (43 projetos).
Do total de iniciativas, não foi possível identificar a autoria da iniciativa através da exposição de
motivos em 187 casos. Vale salientar que nenhum aspecto sistemático foi encontrado que pudesse gerar
viés na análise, já que esse número de missing se deve a casos onde o nome do ministro aparece ilegível
ou a exposição não é assinada.
Para um primeiro olhar sobre a autoria dos projetos foi criada uma escala e 0 a 5, na qual 0 é a
opção menos centralizada de formulação legislativa e 5 a opção mais centralizada à disposição do
Presidente: zero (0) é atribuído quando o projeto é construído por ministros vinculados aos demais
partidos da coalizão, 1 quando é realizado conjuntamente por ministros da coalizão e ministros do
partido do Presidente, 2 para projetos construídos por ministros do partido do Presidente, 3 para
projetos construídos por partidos da coalizão em conjunto com a Presidência, 4 para projetos conjuntos
da Presidência e membros do partido do presidente, e, por último, 5 para projetos construídos pela

Presidência5. O Gráfico 1 apresenta os resultados iniciais quanto à autoria dos projetos com base na
média de projetos por ano:
Gráfico 1
Grau de Centralização das Iniciativas Legislativas do Executivo (1995-2010)
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Casa Civil, Câmara dos Deputados e Ministério da Justiça.
O Gráfico 1 compara as médias e o intervalo de confiança para as opções de produção de
iniciativas legislativas no Poder Executivo. Como pode ser visto, a grande maioria dos projetos tem sua
iniciativa nos Ministérios, evidenciando a importância dos ministros no processo de produção legislativa
no Poder Executivo. Adicionalmente, nota-se que a participação dos ministros membros da coalizão é
ainda baixa quando comparada com a participação dos ministros membros do partido do Presidente.
Neste sentido, apesar de haver grande número de ministros e de partidos diferentes integrando o
governo, o Presidente ainda busca mais o apoio do seu próprio partido para a formulação da agenda
legislativa. O papel da Presidência se dá coordenando projetos com membros não só dos demais
partidos da coalizão como também do partido do Presidente. Além disso, a Presidência aparece como
autora de projetos sem a participação de Ministérios, mas, comparando à participação dos Ministérios
na produção legislativa, a atuação da Presidência é ainda bem restrita. É, contudo, uma opção viável
para o Presidente.
5 Os ministros sem filiação partidária foram considerados como membros do partido do Presidente.

Gráfico 2
Grau de Centralização: comparando presidentes (1995-2010)
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Casa Civil, Câmara dos Deputados e Ministério da Justiça.
O Gráfico 2 compara o grau de centralização na produção legislativa nos governos FHC e Lula.
Observando-se as médias de iniciativas por ano, é notável a diminuição na participação dos ministros
membros da coalizão no governo Lula em comparação à participação desses ministros no governo FHC.
Projetos de autoria de membros da coalizão e também em conjunto com Ministros do partido do
Presidente diminuíram, ao passo que a participação dos Ministros do partido do Presidente aumentou no
governo Lula. Adicionalmente, a participação da Presidência na produção legislativa aumentou no
governo Lula, em comparação aos governos FHC. Contudo, a análise dos intervalos de confiança não
permite afirmar uma diferença significativa entre os Presidentes nesse estágio descritivo da análise.
Uma ressalva que pode ser feita à expressiva participação do partido do Presidente é observar
que a distribuição de Ministérios no presidencialismo de coalizão brasileiro tem cada vez mais
beneficiado o partido do Presidente. A taxa de coalescência6 não é alta e a participação do partido do
Presidente varia do mínimo de 32,7% das cadeiras no gabinete no segundo governo de FHC ao máximo
de 64,5% no primeiro governo Lula7. Dessa forma, a maior participação dos Ministros do partido do
Presidente pode ser diretamente vinculada à distribuição de cargos no momento de formação do governo
de coalizão.
Até o momento, a participação dos Ministérios e da Presidência foi apresentada para mostrar o
“grau” de centralização da produção legislativa, evidenciando o papel dos partidos membros da coalizão,
do partido do Presidente e da Presidência da República. Nota-se a forte participação dos ministros
membros do partido do Presidente e a participação menos expressiva dos partidos da coalizão, mesmo
considerando o aumento do número de partidos nas coalizões ao longo do tempo. Adicionalmente, pode-
6 Para maiores detalhes sobre a taxa de coalescência e seus efeitos ver Amorim Neto (2006). 7 Banco de Dados Legislativos do Cebrap.

se notar que a participação da Presidência é relativamente circunstancial quando se compara o número
de projetos com sua participação ao número de projetos dos Ministérios, mesmo não havendo bases
para afirmar se tal participação é baixa ou alta, já que estudos comparados ainda estão em estágio
inicial.
Tendo em vista que o foco do artigo é a transação e o objetivo é entender quando o Presidente
decide centralizar a produção legislativa na Presidência, a codificação da autoria dos projetos foi
transformada de forma a apresentar duas opções: Ministérios ou Presidência. Projetos de ministros da
coalizão, do partido do Presidente ou mistos formam uma categoria e projetos com participação ou de
autoria exclusiva da Presidência outra categoria. O Gráfico 3 apresenta a participação dos Ministérios e
da Presidência na formulação da agenda legislativa do Executivo:
Gráfico 3
Ministérios e Presidência na Produção Legislativa (1995-2010)
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Casa Civil, Câmara dos Deputados e Ministério da Justiça.
O Gráfico 3 compara a participação da Presidência na produção legislativa do Executivo. Como
pode ser visto, a grande maioria dos projetos, cerca de 90%, têm sua origem nos Ministérios,
evidenciando a forte descentralização da produção legislativa no Executivo e o importante papel dos
ministros. Contudo, a Presidência também aparece como ator relevante na produção legislativa do
Executivo. O Gráfico 4 compara os governos FHC e Lula:

Gráfico 4
Governos e Formulação da Agenda Legislativa (1995-2010)
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Casa Civil, Câmara dos Deputados e Ministério da
Justiça.
Comparando-se os governos FHC e Lula na distribuição de iniciativas legislativas entre os
Ministérios e a Presidência, nota-se que a participação dos Ministérios diminuiu e a atuação da
Presidência aumentou no governo Lula. A média de centralização é maior nos governos Lula. Contudo, há
maior variação ao longo dos anos de governo Lula, de modo que a diferença não é significativa.
O Gráfico 5 apresenta a evolução da atuação da Presidência ao longo do período aqui
analisado:

Gráfico 5
Evolução da Centralização na Presidência (1995-2010)
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Casa Civil, Câmara dos Deputados e Ministério
da Justiça.
Com base na autoria de iniciativas legislativas, pode-se notar que a atuação da Presidência era
bastante baixa no início do governo FHC, aumentando ao longo do seu mandato, até atingir o pico
durante o primeiro ano do governo Lula. Após esse aumento inicial, a atuação da Presidência cai até
abaixo da média em 2005, mas depois volta a subir, mantendo-se acima da média durante todo o resto
do governo Lula. Uma tentativa de interpretação para esse padrão interessante do início do governo Lula
pode estar na expectativa no início do governo de estabelecer na Casa Civil forte controle sobre as
decisões do governo, contando com a chefia de José Dirceu. A queda da centralização coincide com a
crise no governo Lula e o escândalo do “mensalão”, quando o chefe da Casa Civil foi diretamente
implicado.
A análise de tais resultados iniciais já mostra o papel predominante dos Ministérios no controle
de informação e na tomada de decisão acerca das iniciativas legislativas do Poder Executivo. Nesse
sentido, para usar os termos da literatura especializada, as trocas de mercado parecem ser mais
vantajosas na maioria dos casos do que a integração da produção. Os ministros controlam informação
especializada no tema em questão, controlam também a burocracia responsável pela área e representam
o apoio do seu partido à agenda legislativa do Executivo no Congresso. Toda uma literatura sobre
governos de coalizão em sistemas parlamentaristas, com base em Laver e Shepsle (1990), indica a
predominância dos Ministérios no controle da produção legislativa da área sob sua responsabilidade.
Contudo, um número não desprezível de iniciativas legislativas teve a sua centralização na
Presidência, o que, como visto na seção anterior, apresenta custos. Perde-se em expertise e em apoio
legislativo. Por que, então, o Presidente decide centralizar a produção de alguns projetos? Quando a

opção pela produção legislativa nos Ministérios deixa de ser viável? Em outras palavras, quais fatores
influenciam a decisão do Presidente de deslocar a tomada de decisão dos Ministérios para a
Presidência?
Apesar de a centralização ser um fenômeno relativamente raro, ele merece devida explicação.
Esse é o objetivo da próxima seção.
Estimando os Fatores Explicativos da Centralização: uma análise exploratória
O que explica a decisão do Presidente de centralizar o processo decisório de produção
legislativa na Presidência?
A natureza exploratória desta análise e o escasso desenvolvimento de pesquisas empíricas
sobre o tema no Brasil não permitem resultados conclusivos sobre o assunto. No entanto, o objetivo
desta seção é avaliar as condições sob as quais o Presidente escolhe centralizar as iniciativas
legislativas, de acordo com as quatro hipóteses derivadas da abordagem da economia dos custos de
transação, como visto na primeira seção.
Na sequência, são apresentadas as variáveis independentes, bem como o método de estimação
para a análise aqui proposta, seguidos pelos resultados e também pelas lacunas na pesquisa aqui
apresentada.
Mensurando a Variável Dependente
O fenômeno de interesse é a centralização da produção legislativa. Dessa forma, a unidade de
análise é a transação e o foco as características de cada iniciativa legislativa especificamente. Focalizar
cada iniciativa separadamente permite descer o nível da análise até cada decisão específica, incluindo
variação entre projetos da mesma coalizão ou do mesmo Ministério. Nesse sentido, trata-se de uma
medida desagregada e a variável dependente é uma variável de resposta qualitativa binária, assumindo o
valor 0 quando o projeto tem a autoria dos ministros e 1 quando tem a participação da Presidência.
Mensurando as Variáveis Independentes
Distância Ideológica
As preferências dos atores são o ponto de partida para entender as escolhas que fazem. Assim,
a distância de preferências entre o Presidente e os ministros busca captar a confiabilidade das
informações advindas do Ministério. Espera-se que essas informações sejam mais confiáveis quando os
Ministérios compartilham dos mesmos interesses do Presidente.
Como proxy para as preferências dos atores, foi usada a posição ideológica do seu partido. No
caso dos ministros, foi usada a posição ideológica do partido ao qual é filiado e, para o Presidente, foi
usada a posição ideológica do seu partido. O uso da ideologia do partido como proxy para preferências
não é o ideal, pois os atores podem ter preferências divergentes de seu partido e também porque a
posição ideológica não permite compreender as preferências dos atores quanto a matérias específicas.
Contudo, permite visualizar, em linhas gerais, os pontos de acordo e conflito entre os atores e por isso a
uso neste artigo.
A mensuração da distância ideológica foi feita com base nos dados de Zucco e Lauderdale
(2011). Esta é uma medida especialmente boa porque usa ideal point estimation com a ajuda de surveys

para identificar uma dimensão ideológica no comportamento dos legisladores8. Além disso, resulta em
uma medida contínua, permitindo a visualização espacial das coalizões formadas no período9. Com base
nesses dados, foi calculada a distância entre a posição do Presidente e a posição do(s) ministro(s)
responsável(eis) pelo projeto. Como, em muitos casos, mais de um ministro é responsável pela área em
questão, foi utilizado o somatório das distâncias com relação à posição do Presidente, como mostrado
pela fórmula:
A distância ideológica entre o Presidente e o ministro é calculada com base na distância
euclidiana para espaços unidimensionais, onde se subtrai a posição ideológica do presidente na
matéria da posição ideológica do ministro na matéria , corrigindo pelo efeito dos números
negativos.
Para os casos em que a Presidência foi o único autor da matéria foi feita uma classificação
quanto ao(s) ministério(s) responsável(eis) com base na ementa das matérias. Um exemplo de tal
classificação é a chamada “Lei Geral das Agências Reguladoras”, projeto da Casa Civil que classifiquei
como ministérios responsáveis o Ministério do Planejamento e os ministérios aos quais as agências
regulatórias são vinculadas (Minas e Energia, Comunicações, Defesa, Cultura, Meio Ambiente, Saúde,
Transportes). Desta forma, é possível identificar a distância ideológica entre o Presidente e os ministros,
mesmo no caso de projeto de autoria da Presidência10.
Dito isto, espera-se que o aumento na distância ideológica entre o Presidente e os ministros
aumente a chance de centralização, devido ao conflito de interesses e baixa confiabilidade das
informações dos ministros. A hipótese correspondente (H1) é que:
H1: quanto maior a distância ideológica entre o Presidente e o ministro, maior a probabilidade de
centralização (+).
Número de Atores
A variável “número de atores” tem por base a literatura sobre custos de transação, que indica
que a maior quantidade de interesses envolvidos tende a aumentar os custos de obtenção de um acordo
que todos prefiram ao status quo, sendo necessária a coordenação. A mensuração foi feita a partir do
número de ministros autores do projeto. Com base nisso, a segunda hipótese (H2) é a seguinte:
H2: quanto maior o número de atores, maior a probabilidade de centralização (+).
8 O estudo também identificou outra dimensão a orientar o comportamento dos legisladores que pode ser chamada de "governo-
oposição". 9 Os dados estão disponíveis em: <http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/dv/zucco>. 10 Usar este tipo de classificação não é o ideal tendo em vista que envolve subjetividade. Contudo, foi a única opção encontrada
para resolver o viés nos resultados se a posição ideológica do ministro da Presidência fosse utilizada, já que a distância entre o
Presidente e a Presidência é sempre 0. Tal classificação foi utilizada em 35 casos e tem por base o trabalho de Rudalevige
(2002).

Institucionalização do Apoio Direto
Espera-se que a institucionalização do órgão de apoio direto ao Presidente diminua os custos
de centralização, já que estabelece uma fonte de informações confiáveis independente dos Ministérios.
Com uma burocracia desenvolvida, leal e responsiva apenas ao Presidente, este tem incentivos para
substituir os Ministérios pela Presidência na produção legislativa, já que teria uma fonte de informações
confiáveis e independente dos Ministérios.
Institucionalização é um conceito amplo que pode envolver aumento de pessoal, da estrutura e
a diferenciação nos órgãos que compõem a Presidência. No presente artigo, incluo apenas a quantidade
de funcionários da Casa Civil, órgão de apoio e assessoramento direto ao Presidente da República na
área legislativa. Os dados foram obtidos através de solicitação à própria Casa Civil. O anexo apresenta a
evolução do número de funcionários da Casa Civil no período analisado. Com relação à
institucionalização do apoio direto, a 3ª hipótese (H3) diz que:
H3: quanto maior o número de funcionários da Casa Civil, maior a probabilidade de centralização (+).
Força Legislativa dos Partidos da Coalizão
Por último, com base no argumento de que o Presidente troca posições no gabinete por apoio
no Legislativo, a força legislativa desses partidos torna-se uma variável relevante. Os ministros
representam apoio político e o aumento na força legislativa do partido do ministro diminuiria a
centralização, já que nesse caso o Presidente perderia em apoio.
A mensuração da força legislativa do ministro foi feita com base na porcentagem de cadeiras do
partido na Câmara dos Deputados. Informações do Banco de dados legislativos do Cebrap e do site da
Câmara dos Deputados foram utilizadas. Para o caso de matérias com mais de um ministro foi utilizada
a média. Para as matérias de origem na Presidência, a mesma classificação das matérias para a variável
distância ideológica foi utilizada, no sentido de calcular a força do partido do ministro responsável pela
área. Assim, a 4ª hipótese (H4) deste artigo é que:
H4: quanto maior a força legislativa do partido do ministro, menor a probabilidade de centralização (–).
Variáveis de Controle
Além destas quatro variáveis de interesse, foram incluídas as seguintes variáveis de controle:
Presidente
Variável dummy para o Presidente Lula. Espera-se que seus projetos apresentem maior
probabilidade de centralização (+).
Ano
Esta variável busca testar o argumento de Moe (1985) acerca da “centralização linear”,
segundo o qual a centralização deveria aumentar linearmente tendo em vista o aumento nas demandas
sobre o governo. Para manter controle do governo o Presidente centralizaria. Tal variável é calculada
como o número de anos entre a proposição da iniciativa legislativa e o ano da redemocratização - 1985.
(+).

Área da Matéria
Variáveis dummy para matérias administrativas, políticas e sociais. Espera-se que matérias
administrativas apresentem maior probabilidade de centralização, já que envolvem reorganização do
governo e as informações específicas dos Ministérios podem ser insuficientes ou enviesadas (RUDALEVIGE,
2002). Foi usada a classificação das matérias do Banco de dados legislativos do Cebrap (+).
Tipo da Matéria
Variáveis dummy para o tipo do projeto: medida provisória, projeto de lei ordinária, projeto de
emenda constitucional e projeto de lei complementar. Espera-se que medidas provisórias apresentem
maior probabilidade de centralização, já que se trata de matérias de urgência (+)11.
Ciclo Eleitoral
Variáveis dummy para o primeiro e o último ano do mandato. Espera-se que o primeiro e o
último anos do mandato aumentem a probabilidade de centralização. O primeiro por se tratar de um
momento de adaptação do governo e o último pela proximidade da eleição, situação na qual alguns
ministros podem estar envolvidos em disputas eleitorais (+).
Método e Resultados
O estudo se propõe a analisar os fatores que explicam a decisão do Presidente de centralizar a
produção legislativa na Presidência. Por se tratar de uma variável binária, um modelo logístico mostra-se
apropriado12. Contudo, como visto anteriormente, a centralização pode ser considerada um “evento
raro”, de modo que o modelo logístico tradicional implica em viés na análise. Isto é, no modelo de
regressão logística onde se observa poucos 1 (evento) e muitos 0 (não-evento), a variável mostra-se difícil
de prever e explicar porque o modelo sistematicamente superestima a probabilidade de 0 e subestima a
probabilidade de 1 (KING e ZENG, 2001).
King e Zeng (2001) propõem um modelo logístico corrigido para esse tipo de variável que
trabalha com fenômenos como guerras ou vetos presidenciais. O logit eventos raros (Relogit) corrige o
viés do modelo logístico tradicional ao diminuir o mean square error e assim aumenta a probabilidade do
evento (KING e ZENG, 2001). Os autores ainda desenvolveram o software para implementação do método
que pode ser usado no Stata13. Os resultados para a centralização da produção legislativa durante o
período de 1995 a 2010 são apresentados na Tabela 1:
11 Agradeço a Carlos Pereira por chamar a atenção para este ponto. 12 Modelos logísticos podem “esconder” informação, já que só permitem duas opções, 0 ou 1, e estimam a probabilidade de
sucesso. No entanto, o modelo logístico é o mais apropriado para responder a questão aqui estabelecida sobre os fatores que
influenciam a decisão específica do Presidente quanto à centralização de iniciativas legislativas. Uma alternativa seria o uso de
modelos de contagem, como o binomial negativo. Contudo, para o uso de tal modelo seria necessária alguma forma de
agregação da variável dependente, o que não se adequaria com a forma que a questão de pesquisa foi aqui estabelecida.
Agradeço ao parecerista anônimo por chamar a atenção para este ponto. 13 Disponível para download em: <http://Gking.Harvard.Edu>.

Tabela 1
Relogit - Centralização da Produção Legislativa na Presidência (1995-2010)
Variável VD = Centralização VD = Centralização CC
Constante -4.16*** (.76) -4.47***(.88)
Distância Ideológica .22*** (.11) .25*** (.08)
Nº Atores .20*** (.07) .19** (.08)
Casa Civil .00** (.00) .00*** (.00)
Força Legislatura .05 (.03) .07* (.04)
Lula 1.35*** (.42) 1.88*** (.50)
Ano -.16*** (.05) -.28*** (.06)
Administrativa .79*** (.27) .84*** (.30)
Política 1.91*** (.54) 2.23*** (.60)
Social .51** (.26) .09 (.31)
MPV .46** (.21) .92*** (.26)
PEC .85 (.72) 1.22 (.77)
PLP .25 (.52) .81 (.53)
1 ano .48** (.23) .45* (.27)
4 ano .47* (.26) .61** (.31)
Planejamento .16 (.21) .32 (.25)
N 1.242 1242
Coeficientes reportados.
Erro-padrão robusto entre parênteses.
*** Significativo no nível 0.01
** Significativo no nível 0.05
* Significativo no nível 0.10
O modelo Relogit não oferece um teste de "goodness of fit" similar ao R² para o modelo de
Mínimos Quadrados Ordinários. Normalmente, calculam-se valores "pseudo-R²" no Logit, mas tal
estratégia é fortemente desaconselhada pelo próprio Gary King (2003). Nesse sentido, a interpretação
dos resultados se dá com base na direção, na magnitude e na significância dos coeficientes.
Como forma de testar a robustez dos resultados, foram estimados dois modelos com uma
modificação na variável dependente. No primeiro, a variável dependente á a centralização medida como
a autoria de todos os órgãos da Presidência da República, incluindo a Casa Civil, as Secretarias Especiais
e os demais órgãos. No segundo modelo, a centralização é medida de forma mais restrita, incluindo
apenas a autoria da Casa Civil. A inclusão dessa modificação na variável dependente tem por justificativa
a centralidade da Casa Civil como órgão de supervisão e monitoramento da produção legislativa do
Poder Executivo, sendo uma de suas funções a avaliação jurídica e de mérito do conteúdo das iniciativas
legislativas do Executivo14. Adicionalmente, considera também a possibilidade da centralização
aumentar durante o governo Lula simplesmente pelo número de órgãos, principalmente o de Secretarias
Especiais, ter aumentado durante esse governo.
14 Ver Lei nº 10.683.

Nos dois modelos, a variável que representa a distância ideológica entre o Presidente e o
ministro apresenta o sinal positivo esperado e é significativa. Isto é, quanto maior a distância de
preferências entre o Presidente e o ministro, maior a probabilidade de centralização. O número de
ministros envolvidos na matéria apresenta o sinal esperado, isto é, aumenta a probabilidade de
centralização, e apresenta forte significância estatística nos dois modelos. Isto mostra que o grande
número de atores envolvidos de fato aumenta os custos para a tomada de decisão e o estabelecimento
de um acordo, sendo necessária a ação da Presidência.
O aumento de pessoal da Casa Civil também está associado positivamente ao aumento da
centralização, resultado fortemente significativo nos dois modelos. Pode-se assim entender que o
fortalecimento do órgão de apoio direto ao Presidente representa uma fonte alternativa de informação
que não o Ministério. Por último, a força legislativa do partido do ministro não apresentou resultados
consistentes, aparecendo com o sinal contrário ao esperado. Contudo, tal resultado não é significativo
estatisticamente. Sua interpretação literal indicaria que o aumento da porcentagem média de cadeiras
dos ministros na Câmara aumentaria a probabilidade de centralização. Não distante, de acordo com o
argumento de que a inclusão como ministros dos representantes dos partidos da coalizão no governo
ocorreria em troca de apoio no Legislativo, o aumento na força de tais partidos deveria diminuir a
probabilidade de centralização. Nesse sentido, a força legislativa do partido do ministro não se traduz
em participação na agenda legislativa do Poder Executivo. Este é um resultado que merece maior
atenção e aprofundamento futuro. Porém, é possível supor que, talvez, a força dos partidos não se
traduza em maior participação na agenda legislativa, seja por decisão do Presidente de controlar as
decisões do governo, seja porque a influência dos partidos seja direcionada a outras decisões que não a
agenda legislativa.
Com relação às variáveis de controle apresentadas no segundo modelo, os principais resultados
são de que as matérias do governo Lula, de fato, apresentam maior probabilidade de centralização.
Nesse sentido, mesmo controlando pelo fortalecimento da Casa Civil, o governo Lula mostrou-se mais
centralizador. Desta forma, para além da institucionalização, estilos de liderança podem de fato afetar os
resultados, como argumenta Neustadt (1961).
O argumento da centralização linear não só não se sustenta como aparece como evidência
contrária. Controlando pelas demais variáveis apresenta um efeito negativo. Nesse sentido, o argumento
de Rudalevige (2002), que aponta a centralização como algo contingente às características da matéria e
não uma evolução estrutural, mostra-se mais adequado. Ainda de acordo com o argumento de
Rudalevige, os resultados mostram que matérias administrativas de fato apresentam maior
probabilidade de centralização, indicando a baixa confiabilidade e relevância das informações dos
Ministérios quando reorganizações governamentais estão em discussão. Adicionalmente, matérias
políticas também apresentam maior probabilidade de centralização. As matérias sociais aumentam a
probabilidade de centralização significativamente apenas no primeiro modelo.
Quanto às variáveis sobre o tipo da matéria, foram incluídas dummies e os projetos de lei são a
categoria de referência. Como esperado, as medidas provisórias apresentam maior probabilidade de
centralização. Contudo, PECs e PLPs não apresentam diferença significativa. O primeiro e o último ano

de mandato também representam aumento na probabilidade de centralização, identificando o efeito da
fase de adaptação no primeiro ano e de partidos envolvidos em eleições no último ano.
Os coeficientes do modelo de regressão logística apresentados na Tabela 1 não possuem
interpretação substantiva, sendo necessário um procedimento adicional para entender a magnitude do
efeito das variáveis explicativas analisadas através de probabilididades15. A Tabela 2 apresenta as
probabilidades preditas e o intervalo de confiança para as variáveis dicotômicas que tiveram significância
nos dois modelos. A quantidade foi calculada mantendo as demais variáveis contínuas na média e as
variáveis dicotômicas em 0.
Tabela 2
Probabilidade de Centralização
Variáveis Dicotômicas Modelo Relogit
Variável Pr(Centralização) I.C. 95%
Lula 0.07 0.03 a 0.12
Administrativa 0.04 0.02 a 0.08
Política 0.11 0.04 a 0.25
MPV 0.03 0.01 a .06
1° Ano 0.03 0.01 a .06
4° Ano 0.03 0.01 a .05
Fonte: elaboração própria.
Na Tabela 2, vemos a probabilidade de centralização quando a variável independente assume o
valor 1 e as demais são mantidas constantes. A probabilidade de centralização é de 0.07 quando a
iniciativa legislativa tem sua formulação durante o governo Lula; é de 0.04 quando a matéria é
administrativa; 0.11 quando envolve assunto político e de 0.03 tanto quando a iniciativa é uma medida
provisória como quando o Presidente está no seu primeiro ou quarto ano de mandato. Os Gráficos 6a, 6b
e 6c apresentam a probabilidade de centralização para as variáveis contínuas:
15 Probabilidades podem ser obtidas para o modelo Relogit no Stata através dos comandos “setx” e “relogitq”.

Gráfico 6
Probabilidade de Centralização - Modelo Relogit
6a) Distância Ideológica
6b) Número de pessoal da Casa Civil
6c) Número de Ministros
Fonte: Elaboração própria.

Os Gráficos 6a, 6b e 6c apresentam a probabilidade predita de centralização com foco em três
das quatro varáveis centrais do modelo: distância ideológica, número de pessoal da Casa Civil e número
de ministros envolvidos na decisão, respectivamente. Força legislativa, a quarta variável principal do
modelo, não foi analisada por não alcançar significância estatística nos modelos apresentados
anteriormente. Como já identificado na Tabela 1, quanto maior a distância ideológica dos ministros
maior a probabilidade de centralização. O Gráfico 6a mostra que a probabilidade de centralização é 0.15
quando a soma das distâncias atinge o valor 10. O aumento do número de pessoal da Casa Civil (Gráfico
6b), medida de institucionalização do órgão de apoio direto do Presidente, aumenta significativamente a
probabilidade de centralização, chegando à probabilidade de 0.40. Por último, o número de ministros
envolvidos na formulação da iniciativa legislativa (Gráfico 6c) também afeta a probabilidade de
centralização, apresentando probabilidade de 0.10 quando 10 ministros participam da elaboração de
uma iniciativa legislativa.
A Tabela 1 e os Gráficos 6a, 6b e 6c permitem a interpretação substantiva dos coeficientes e
também indicar o efeito das variáveis de interesse sobre a probabilidade de centralização. Dito isto,
distância ideológica, número de ministros e institucionalização da Casa Civil parecem ser importantes
para entender a decisão do Presidente quanto à formulação de sua agenda legislativa. Contudo, a
variável força legislativa, uma das principais do modelo teórico, não apresentou o resultado esperado,
indicando que a quantidade de cadeiras no Legislativo não é uma medida adequada para avaliar a
importância dos partidos na formulação da agenda legislativa do Executivo.
Tais resultados, de forma alguma, caracterizam-se como conclusivos para o entendimento da
dinâmica interna do Poder Executivo. Busca-se apenas contribuir para a problematização do Poder
Executivo como ator complexo, arena de decisões na qual a extensão do papel da coalizão ainda merece
ser avaliada. Importante contribuição nesse sentido também vem sendo trabalhada por Rennó e Gaylord
(2012).
Algumas ressalvas merecem ser destacadas. O presente artigo concentra-se em um pequeno
aspecto do processo de formulação da agenda legislativa do Poder Executivo: a autoria dos projetos.
Nesse sentido, muitos aspectos permanecem inexplorados, principalmente o papel da Presidência em
geral e da Casa Civil em particular de controlar a produção legislativa dos Ministérios. Isto porque a
Presidência formular um projeto mostra-se como um caso extremo de centralização. A centralização
pode aparecer como a supervisão ou o controle continuado do processo decisório dos projetos ou ainda
na forma de “veto” a projetos dos ministros, isto é, projetos que nem chegam a ser enviados ao
Congresso. A total extensão do grau de centralização ainda merece devido estudo para a compreensão
do processo de formulação de leis no Brasil.
Conclusão
Governos de coalizão são frequentes no Brasil desde o processo de redemocratização. O
“presidencialismo de coalizão” brasileiro, resultado do sistema presidencialista e do multipartidarismo,
manteve sua estabilidade e gerou altas taxas de sucesso para a agenda legislativa do Presidente. Este
artigo buscou contribuir para o debate trazendo a discussão para dentro do Poder Executivo. Nesse
sentido, qual o papel dos ministros e qual o papel da Presidência na produção legislativa do Executivo?

Analisando a autoria das iniciativas legislativas, foi possível observar que a grande maioria dos
projetos tem sua origem nos ministérios. Desta forma, os benefícios da produção legislativa
descentralizada nos ministérios, como a expertise dos ministros na área específica que chefiam e o
controle de informação privilegiada, sobressaem-se aos seus custos, como a diminuição do controle
sobre as decisões do governo. Contudo, um número não desprezível de projetos foi centralizado na
Presidência. Por quê?
Um modelo de regressão logística para eventos raros foi estimado para entender os fatores
explicativos da centralização. As principais hipóteses foram que o aumento na distância ideológica entre
o Presidente e os ministros, o número de atores envolvidos e o fortalecimento da Casa Civil aumentariam
a probabilidade de centralização, enquanto o aumento na força legislativa do partido do ministro afetaria
negativamente a probabilidade de centralização. Os resultados indicaram que o número de atores, o
fortalecimento da Casa Civil e, em menor grau, a distância ideológica importam para o entendimento da
escolha do Presidente quanto ao processo de produção de leis.
Tais resultados apenas indicam caminhos e ideias para o entendimento do processo decisório
no Executivo. Com muitas limitações, mais do que trazer respostas conclusivas, o presente artigo buscou
contribuir para o crescimento da discussão sobre essa instituição central que é o Poder Executivo,
analisando seus processos internos e problemas de delegação e coordenação, que mostram que o
Executivo não se resume ao Presidente da República.
Referências Bibliográficas
AMORIM NETO, O. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
CHEIBUB, J. A.; PRZEWORSKI, A.; SAIEGH, S. “Governos de Coalizão nas Democracias Presidencialistas e Parlamentaristas”.
DADOS - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 45, nº 2, p. 187-218, 2002.
COASE, R. “The Nature of the Firm”. Economica New Series, Londres, vol. 4, nº. 16, 1937, p. 386-405.
_________. The Institutional Structure of Production. In: MENARD, C. e SHIRLEY, M. (eds.). A Handbook of New Institutional Economics. Netherlands: Springer, 2005.
EDWARDS, G. C.; KESSEL, J.; ROCKMAN, B. Researching the Presidency: vital questions, new approaches. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press, 1993.
EPSTEIN, D.; O’HALLORAN, S. Delegating Powers: a transaction cost politics approach to policy making under separate
powers. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.
_________. “Governments Coalitions in Brazilian Democracies”. Brazilian Journal of Political Science, São Paulo, vol. 1,
nº 2, 2007, p. 182-216.
HOWELL, W. Power Without Persuasion: the politics of direct presidential action. New Jersey: Princeton University Press,
2003.
INÁCIO, M. “Entre Presidir e Coordenar: presidência e gabinetes multipartidários no Brasil”. Paper preparado para
apresentação no 3° Encontro Latino-Americano de Ciência Política. Campinas - Brasil, 2006.
KING, G. “Pseudo R2 on Relogit” [online]. Relogit Mailing List served by Harvard-MIT Data Center, 2003. Disponível em:
<https://lists.gking.harvard.edu/pipermail/relogit/2003-January/000048.html>. Acesso em: 12 jun. 2012.

KING, G.; ZENG, L. Estimating Absolute, Relative, and Attributable Risks in Case-Control Studies [Online]. Department of
Government, Harvard University, 1999, Disponível em: <http://GKing.Harvard.Edu>. Acesso em: 05 jan.2011.
_________. “Logistic Regression in Rare Events Data”. Political Analysis, vol. 9, p. 137-163, 2001.
LAMEIRÃO, C. “A Casa Civil como instituição do Executivo federal”. Desigualdade e Diversidade, Rio de Janeiro, Ed. Especial, p. 143-184, 2011.
LAVER, M.; SHEPSLE, K. “Coalitions and Cabinet Government”. The American Political Science Review, Washington, vol. 84,
nº 3, p. 873-890, 1990.
_________.; _________. Cabinet Ministers and Parliamentary Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
MAINWARING, S. “Presidentialism, multipartism and democracy: the difficult combination”. Comparative political Studies, 26, n°2, July 1993.
MARTINEZ-GALLARDO, C. Inside the Cabinet: the influence of ministers in the policymaking process. In: SCARTASCINI, C.;
STEIN, E.; TOMMASI, M. (eds.). How Democracy Works: Political Institutions, Actors, and Arenas in Latin American
Policymaking, 1. Washington: Inter-American Development Bank, p. 119-45, 2010.
MÉNARD, C. A New Institutional Approach to Organization. In: MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. (eds.). A Handbook of New Institutional Economics. Netherlands: Springer, 2005.
_________.; SHIRLEY, M. Introduction. In: MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. (eds.). A Handbook of New Institutional Economics.
Netherlands: Springer, 2005.
MOE, T. The Politicized Press. In: CHUBB, J.; PETERSON, P. (eds.). The New Directions in American Politics. Washington:
The Bookings Institution, 1985.
MULLER, W.; STROM, K. Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press, 2000.
MULLER, W.; BERGMAN, T.; STROM, K. Coalition theory and cabinet governance: an introduction. In: STROM, K.; MULLER, W.;
BERGMAN, T. (eds.). Cabinets and coalition bargain: the democratic life cycle in Western Europe. Oxford: Oxford
University Press, 2010.
NEUSTADT, R. Presidential Power: the politics of leadership. New York/London: John Wiley & Sons, 1961.
NORTH, D. Institutions, Institutional Change, Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
POLSBY, N. “The Institutionalization of the U.S. House of Representatives”. The American Political Science Review,
Washington, vol. 62, n° 1, p. 144-168, 1968.
PRAÇA, S.; FREITAS, A.; HOEPERS, B. “Political Appointments and Coalition Management in Brazil, 2007-2010”. Journal of Politics in Latin America, Hamburgo, vol. 3, n° 2, p. 141-172, 2011.
RENNÓ, L.; GAYLORD, S. “Behind Closed Doors: Cabinet Authorship of Legislative Proposals in a Multiparty Presidential
System”. Paper prepared for presentation at the XXII World Congress of Political Science, Madrid, 2012.
RUDALEVIGE, A. Managing the President’s Program: presidential leadership and legislative policy formulation. New Jersey:
Princeton University Press, 2002.
TOMZ, M.; KING, G.; ZENG, L. RELOGIT: Rare Events Logistic Regression. Version 1.1 [Online]. Harvard University,
1° Out. 1999. Disponível em: <http://gking.harvard.edu/>. Acesso em: 05 jan. 2011.
WEINGAST, B.; MARSHALL, W. “The Industrial Organization of Congress or Why Legislatures Like Firms Are Not Organized
as Markets”. The Journal of Political Economy, Chicago, vol. 96, n° 1, p. 132-163, 1988.
WILLIAMSON, O. “Transaction-Cost Economics: the governance of contractual relations”. Journal of Law and Economics,
Chicago, vol. 22, n° 2, p. 233-261, 1979.
_________. “Public and Private Bureaucracies: a transaction cost economic perspective”. The Journal of Law, Economics and Organization, Oxford, vol. 15, n° 1, p. 306-342, 1999.
_________. “The New Institutional Economics: taking stock, looking ahead”. Journal of Economic Literature, Pittsburgh,
vol. 38, n° 3, p. 595-613, 2000.

_________. The Theory of the Firm as Governance Structure: from choice to contract, 2002 [Online]. Disponível em:
<web.cenet.org.cn/upfile/19959.pdf>. Acesso em: 05 jan.2011.
_________. Transaction Cost Economics. In: MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. (eds.). A Handbook of New Institutional Economics.
Netherlands: Springer, 2005.
ZUCCO, C.; LAUDERDALE, B. "Ideal Point Estimates of Brazilian Legislators"; 2002 [Online]. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/1902.1/15572 UNF:5:PJwLMB9eeufBTxEGSykKbA== V2 [Version]>. Acesso em: 05 jan.2010.
_________.; _________. “Distinguishing Between Influences on Brazilian Legislative Behavior”. Legislative Studies Quarterly, Londres, vol. 36, n° 3, p. 363-396, 2011.
Anexo
Evolução da Casa Cívil
Mariana Batista - [email protected]
Submetido à publicação em agosto de 2012.
Versão final aprovada em outubro de 2013.

����� ����� ����� ����� ����� cesop
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19, nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485

Este encarte Tendências aborda as manifestações populares que tomaram as grandes cidades brasileiras
em junho de 2013. Iniciadas na cidade de São Paulo a partir de um protesto contra o aumento no preço das
passagens de ônibus, a “...inabilidade das autoridades locais no trato da questão (...), além da violência
policial com a qual foram tratados estudantes e jornalistas que cobriam os primeiros eventos, tornaram
algo que tudo tinha de tópico e passageiro em fenômeno político de grandes proporções”(SANTOS, p.17,
2013)∗.
Para tratar dessas manifestações, TENDÊNCIAS divide-se em duas seções. A primeira delas apresenta as
opiniões dos brasileiros sobre os motivos dos protestos, sobre sua eficácia como modo de ação política e
sobre o otimismo com o futuro do país a partir de tais atos. Os dados mostram a percepção dos brasileiros
de que as manifestações extrapolaram seu mote inicial – contra o aumento das passagens – e tornaram-se,
sobretudo protestos contra os políticos e a corrupção no país. Os entrevistados não acreditam, porém, em
grandes mudanças na atuação dos políticos em resposta à voz das ruas. A primeira seção traz ainda uma
avaliação por parte da população sobre o uso de meios violentos tanto pela polícia como pelos
manifestantes. Os dados mostram que, apesar de apoiarem os protestos populares, mais de 40% dos
entrevistados consideram que não apenas não apenas a polícia, mas também os manifestantes exageraram
no uso da violência.
A segunda seção traça o perfil socioeconômico de manifestantes da cidade de São Paulo – em específico
dos ativistas que ocuparam a Avenida Paulista em 20 de junho, manifestação ocorrida na esteira da
violenta ação policial sobre os primeiros protestos contra o aumento do preço das passagens de ônibus – e
suas percepções da política. Os dados mostram a associação positiva entre a renda e a escolaridade, por
um lado, e a participação nas manifestações, de outro. Também revelam a importância que os
manifestantes atribuem à internet como espaço de mobilização e discussão políticas, ao mesmo tempo em
que rejeitam a representação por partidos políticos e sindicatos. Por outro lado, ainda que se mobilizem
através das redes sociais, os manifestantes consideram realizar manifestações nas ruas um modo mais
eficaz de ação política. Por último, mas não menos importante, há que se registrar que apenas pouco mais
de 30% dos manifestantes entrevistados apoiem a ocupação de prédios públicos, fábricas, terrenos e terras
como forma de ação política.
Editores de OP
∗ SANTOS, F. “Do protesto ao plebiscito: uma avaliação crítica da conjuntura brasileira”. Novos Estudos, 96, jul. 2013.

Protestos Brasil – Junho 2013 Opiniões sobre os protestos
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485 Tendências 477
26,5
47,0
20,7
5,8
19,2
46,4
29,0
5,4
Muitas mudanças
Poucas mudanças
Nenhuma mudança
Não sabe/Não respondeu
Para o país
Na atuação dos políticos
3,9Não sabe/ Não respondeu
21,9Nem mais, nem menos/ Igual
(Esp.)
29,0Menos otimista 45,2
Mais otimista
22,1
18,4
16,4
11,7
10,4
6,3
3,5
3,0
2,1
6,3
Contra o aumento das tarifas de transporte público
Contra os políticos em geral
Contra a corrupção
Contra os governos federal, estadual, municipal
Contra as empresas de ônibus
Contra a Fifa / Copa no Brasil
Contra a inflação
Melhoria dos serviços públicos/ maiores investimentos em saúde, educação, segurança pública
Outras respostas
Não sabe / Não respondeu
Os efeitos das manifestações, segundo a população em geral
As manifestações trarão mudanças para
o país? E na atuação dos políticos?
Otimismo com o
Brasil após as manifestações
Perguntas: Na sua opinião, o(a) sr(a) diria que de um modo geral estas manifestações trarão muitas mudanças, poucas mudanças ou nenhuma mudança para o país?/ E, o(a) sr(a) diria que estas manifestações trarão muitas mudanças, poucas mudanças ou nenhuma mudança na atuação dos governantes e dos políticos no país. Fonte: IBOPE/BRASIL13.JUN-03373.
Motivos das manifestações segundo os brasileiros
Pergunta: E pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, qual é o principal motivo das manifestações? (ESPONTÂNEA e múltipla - 1ª menção). Fonte: IBOPE/BRASIL13.JUN-03373.
Perguntas: Agora levando em conta as manifestações que ocorreram nos últimos dias, e suas possíveis consequências, o(a) sr(a) diria que está mais otimista ou menos otimista em relação ao futuro do Brasil? Fonte: IBOPE/BRASIL13.JUN-03373.
Para a maior parte dos entrevistados, as revoltas de junho tiveram como alvo os políticos em
geral.
Os dados também mostram que 45% estão mais otimistas com o futuro do Brasil após os
protestos, mas em torno do mesmo percentual acredita que haverá apenas poucas mudanças na
atuação dos políticos e para o país.
Para 46%, os protestos
foram contra a corrupção, os
políticos e os governantes.
%

Opiniões sobre os protestos Protestos Brasil – Junho 2013
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485 478 Tendências
77,2
Favoráveis
22,8
Contrários
49,7
50,3
26,3
33,0
40,7
31,0
23,7
28,2
17,2
47,2
37,4
15,4
16,2
23,8
44,0
16,0
31,6
23,7
44,7
Masculino
Feminino
16 a 25 anos
26 a 40 anos
41 anos ou mais
Até Ensino Fundamental incompleto
Até Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Ensino Superior incompleto ou mais
Até 2 salários mínimos
Entre 2 a 5 salários mínimos
Mais de 5 salários mínimos
Norte / Centro-Oeste
Nordeste
Sudeste
Sul
Capital
Periferia
Interior
Sex
oFa
ixa
Etá
ria
Gra
u de
Inst
ruçã
oRen
da
Fam
iliar
Reg
ião
Con
dição
do
Municíp
io
43,2
56,8
15,3
23,4
61,3
57,2
19,4
14,0
9,5
61,7
27,9
10,4
13,1
32,4
41,0
13,5
32,9
25,7
41,4
Perguntas: Nos últimos dias ocorreram várias manifestações populares em diversas cidades do Brasil. O(a) sr(a) é a favor ou contra essas manifestações? / SEXO / IDADE / ESCOLARIDADE / Em qual destas faixas está a renda total de sua família no mês passado, somando as rendas de todas as pessoas que moram com você, inclusive a sua? / REGIÃO / CONDIÇÃO DO MUNICÍPIO. Fonte: IBOPE/BRASIL13.JUN-03373.
%
Favoráveis Contrários
O apoio às manifestações entre a população em geral
Quase 80% dos entrevistados apoiam os protestos que ocorreram em várias cidades
brasileiras.
Entre os contrários às manifestações destacam-se um maior percentual de mulheres, com
mais de 40 anos e os de menores renda e escolaridade (até 2 salários mínimos e Ensino
Fundamental incompleto).

Protestos Brasil – Junho 2013 Opiniões sobre os protestos
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485 Tendências 479
58,6
37,0
4,4
Sim Não, há meios mais
adequados
Não sabe/ Não
respondeu
54,5
63,1
41,0
32,7
4,6
4,1
Feminino
Masculino
63,8
64,2
52,4
33,2
34,2
40,8
3,0
1,6
6,9
16 a 25 anos
26 a 40 anos
41 anos ou
mais
47,7
61,1
71,1
62,5
44,5
36,7
26,0
36,2
7,8
2,2
2,8
1,3
Até Fundamental
incompleto
Até Ensino Médio
incompleto
Ensino Médio
completo
Superior incompleto
ou mais
% A eficácia das manifestações, segundo a população em geral
Perguntas: Na sua opinião, as manifestações que ocorreram nos últimos dias, são a melhor forma que existe ou há outros meios mais adequados para cobrar melhorias nas políticas públicas e na atuação dos governantes e políticos em geral? / IDADE / ESCOLARIDADE. Fonte: IBOPE/BRASIL13.JUN-03373.
Opiniões segundo Faixa Etária
Opiniões segundo Grau de Instrução
As manifestações são a melhor
maneira de cobrar melhoria na
ação dos políticos e governantes?
Opiniões segundo Sexo
Quase 60% dos entrevistados apontam as manifestações como meio mais adequado para
cobrar a melhor atuação dos políticos e a oferta de políticas públicas.
Quando os resultados são estratificados por sexo, faixa etária e grau de instrução, o que se
destaca é que apenas esta última variável distingue mais os entrevistados, com aqueles que
cursaram, no máximo, o Ensino Fundamental incompleto, com percepções divididas sobre a
eficácia das manifestações e outros meios para exigir melhores políticas públicas.

Opiniões sobre os protestos Protestos Brasil – Junho 2013
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485 Tendências 480
43,8...agiram com
muita violência
38,9
...com
violência, mas sem exageros
14,0
...agiram sem
violência
3,3
Não sabe/ Não
respondeu
42,4
...agiu com
muita violência
41,3
...com violência,
mas sem
exageros
12,7
...agiu sem
violência
3,7
Não sabe/ Não
respondeu
42,5
46,5
43,1
38,2
38,7
40,5
14,6
12,6
14,7
4,7
2,3
1,7
41 anos ou mais
26 a 40 anos
16 a 25 anos
41,4
42,6
50,4
38,2
44,2
37,1
15,9
10,0
9,9
4,5
3,2
2,6
41 anos ou mais
26 a 40 anos
16 a 25 anos
41,4
43,1
35,8
50,0
38,8
35,8
48,7
35,2
18,4
18,7
11,9
10,4
1,3
2,4
3,5
4,4
Superior incompleto ou mais
Até Ensino Médio completo
Até Ensino Médio incompleto
Até Fundamental incompleto
43,4
36,2
47,3
43,0
38,8
47,6
38,5
39,8
13,8
13,4
10,6
13,0
3,9
2,8
3,5
4,2
Superior incompleto ou mais
Ensino Médio completo
Até Ensino Médio incompleto
Até Fundamental incompleto
% A percepção da violência nas manifestações segundo a população em geral
Perguntas: Pensando na atuação dos manifestantes durante as manifestações, o(a) sr(a) diria que de modo geral os manifestantes: / IDADE / ESCOLARIDADE. E
pensando na atuação da polícia para conter as manifestações, o(a) sr(a) diria que de modo geral a polícia: / IDADE / ESCOLARIDADE. Fonte: IBOPE/BRASIL13.JUN-03373.
Os manifestantes... A polícia...
Opiniões segundo Grau de Instrução
Opiniões segundo Faixa Etária
Sobre a ação dos manifestantes
Sobre a ação dos manifestantes
Sobre a ação da polícia
Pouco mais de 40% dos entrevistados acreditam que houve violência nas manifestações não apenas por parte da polícia, mas também dos manifestantes.
Os menos escolarizados (até Ensino Fundamental incompleto) são os que mais apontam a violência excessiva dos manifestantes. Com relação à violência policial, são os mais jovens (16 a 25 anos) os que mais apontam que ela foi exagerada.
Sobre a ação da polícia

Protestos no Brasil – Junho 2013 O que pensam os manifestantes
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485 Tendências 481
61,0
39,0
46,5
53,5
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Manifestantes
Pop. Cidade de São
Paulo
50,2
37,2
12,6
22,7
32,9
44,3
16 a 25 anos
26 a 40 anos
41 anos ou mais
16 a 25 anos
26 a 40 anos
41 anos ou mais
Manifestantes
Pop. Cidade de São
Paulo
6,4
15,6
29,8
48,3
41,5
30,9
10,7
16,9
Até Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Superior incompleto
Superior completo / Pós-Graduação
Até Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Superior incompleto
Superior completo / Pós-Graduação
Manifestantes
Pop. Cidade de São
Paulo
34,1
30,9
22,2
12,6
74,1
16,9
5,8
3,1
Até 5 salários mínimos
Entre 5 e 10 salários mínimos
Entre 10 e 20 salários mínimos
Mais de 20 salários mínimos
Até 5 salários mínimos
Entre 5 e 10 salários mínimos
Entre 10 e 20 salários mínimos
Mais de 20 salários mínimos
Manifestantes
Pop. Cidade de São
Paulo
% Quem são os manifestantes da cidade de São Paulo?
Sexo Faixa Etária
Grau de Instrução Renda Familiar
Perguntas: SEXO / Qual a sua idade / Até que ano da escola você estudou? / Somando a sua renda com a renda de todas as pessoas que moram com você, quanto é aproximadamente a renda familiar na sua casa?
Fontes: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03375; DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Manifestantes
da cidade de
São Paulo
As características socioeconômicas dos manifestantes que ocuparam a
Avenida Paulista em junho deste ano mostram não apenas a elevada
concentração de jovens (16 a 25 anos), mas as altas escolaridade e renda dos
manifestantes, quando comparados à população geral da cidade de São Paulo.

O quê pensam os manifestantes Protestos Brasil – Junho 2013
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, Novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485 Tendências 482
39,7Primeira vez
60,3Já participou
80,5
5,1 7,4 6,9
Facebook Twiter / WhatsApp Outras Não se informa pelas redes sociais
18,1
41,3
40,7
5 vezes ou mais
3 ou 4 vezes
1 ou 2 vezes
41,4
5,8
7,7
18,6
22,4
4,1
71,9
3,9
3,4
11,2
7,1
2,6
Contra o aumento da passagem
Contra a violência da polícia
Pela tarifa zero / Passe livre
Contra os políticos / governantes
Contra a corrupção
Por serviços públicos melhores
Manifestantes
Paulistanos em geral
%
Já participou de manifestações na cidade?
Pergunta: Essa é a primeira vez que você participa de protestos contra o reajuste da tarifa de ônibus na cidade?
Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Pergunta: As redes sociais são sua principal fonte de informação sobre essas manifestações? (SE SIM) Qual das redes sociais é sua principal fonte de informação?
Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Mais de 90% dos entrevistados afirmaram terem ido às ruas a partir da mobilização
pelas redes sociais.
A maioria dos manifestantes já havia participado de outros protestos contra o
aumento das passagens na cidade de São Paulo. Quando perguntados sobre o motivo de
estarem nas ruas, os manifestantes mencionaram lutar não apenas contra o aumento das
passagens, mas também contra a corrupção e os políticos.
Manifestantes da cidade de São Paulo
Adesão às manifestações
Informa-se pelas redes sociais sobre as manifestações?
Números de participações
93% dos manifestantes informam-se pelas redes sociais
sobre as manifestações.
Motivos das manifestações segundo os manifestantes da Paulista e segundo os Paulistanos em geral
Perguntas: Por quais motivos você veio participar da manifestação? (espontânea e múltipla - 1ª menção). Ontem aconteceu uma manifestação na cidade de São Paulo que reuniu cerca de 65 mil pessoas. Na sua opinião, por quais motivos essas pessoas participaram dessa manifestação? (espontânea e múltipla - 1ª menção). Fonte:DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03375; DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Pergunta: Quantas vezes você participou das manifestações? Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.

Protestos Brasil – Junho 2013 O quê pensam os manifestantes
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485 Tendências 483
95,4
80,9
77,2
70,6
70,5
55,3
47,5
31,7
20,8
2,2
9,1
9,4
13,7
12,7
12,5
14,4
12,3
12,3
2,4
10
13,3
15,7
16,8
32,2
38,1
56,1
66,9
Realizar manifestações nas ruas
Ler e repassar informações sobre suas posições e opiniões por meio da internet
Assinar e repassar abaixo-assinados, inclusive na internet
Participar de plebiscitos
Fazer greve
Votar nas eleições
Distribuir panfletos nas ruas sobre suas posições e opiniões
Ocupar prédios públicos, fábricas, terrenos e terras
Estar ligado a um partido político
Eficiente Nem eficiente nem ineficiente Ineficiente
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% Eficácia de formas de ação política
Pergunta: Em uma escala que vai de ZERO a DEZ, sendo ZERO uma forma nada eficiente de ação política e DEZ uma forma muito eficiente de ação política, como você avalia cada um desses itens: Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Pelo menos 70% dos manifestantes entrevistados acreditam na eficácia de fazer greves, participar de plebiscitos
e assinar abaixo-assinados. Por outro lado, apenas 20% deles pensam que participar de um partido político é um modo
eficaz de ação política.
Corroborando o alto papel mobilizador das redes sociais apontado pelos manifestantes, é notável que mais de
80% acreditem na eficácia da internet como espaço de discussão política.
Mesmo com quase
70% dos
manifestantes
considerando os
partidos como
ineficientes, mais
de 55%
consideram votar
nas eleições uma
forma eficaz de
ação política.
Manifestantes
da cidade de
São Paulo
Ineficiente Eficiente
Nem ineficiente Nem eficiente

O quê pensam os manifestantes Protestos Brasil – Junho 2013
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19 nº 2, novembro, 2013, Encarte Tendências. p.475-485
Tendências 484
96,9
3,1
75,4
24,6
Não
Sim
Tem preferência partidária
é filiado a partido
34,3...são
importantes para defender os
interesses dos trabalhadores
60,8...servem mais
para fazer política do que defender os
trabalhadores
4,9Não sabe
36,1
30,7
20,7
12,5
Esquerda Centro Direita Não sabe
21,6A favor
75,7Contra
2,7Indiferente / Não sabe
1 2 3 4 5 6 7 esquerda centro direita
% Forma de Representação e Preferências Políticas
Perguntas: Qual é o seu partido político de preferência? / Você é filiado a algum partido político? Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Posição no espectro ideológico
Pergunta: Como você sabe, muita gente, quando pensa em política, utiliza os termos esquerda e direita. No quadro que aparece neste cartão em qual posição política você se colocaria, sendo que a posição ‘um’ é o máximo à esquerda e a posição ‘sete’ é o máximo à direita? Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Opinião sobre o voto obrigatório
Pergunta: No Brasil, o voto é obrigatório por lei. Você é a favor ou contra o voto obrigatório? Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Preferência e filiação partidária
Os sindicatos...
A maioria dos manifestantes de junho de 2013 é contra o voto obrigatório, não tem preferência por
partido político e acredita que os sindicatos servem mais para fazer política do que defender os interesses
dos trabalhadores. Com relação ao autoposicionamento ideológico, os manifestantes dividem-se sobretudo
entre a esquerda e o centro.
Pergunta: Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber com qual você concorda mais. Fonte: DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377.
Manifestantes
da cidade de
São Paulo

Fichas Técnicas
OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 19, nº 2, Novembro, 2013, Encarte p.475-485 Tendências 485
Nº da pesquisa (CESOP) Data
Tamanho da
amostra (nº
de
entrevistas)
Universo Tipo de amostra
DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03375
18/06/2013 805
População com 16 anos ou mais na cidade de São
Paulo
Amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um
nível de confiança de 95%.
DATAFOLHA/SÃOPAULO13.JUN-03377
20/06/2013 551
Manifestantes na Avenida Paulista da cidade de São
Paulo
A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um
nível de confiança de 95%.
IBOPE/BRASIL13.JUN-03373 19 e
20/06/2013 1008
População brasileira com 16 anos ou mais
O modelo de amostragem utilizado é o de conglomerado em 3 estágios.
No primeiro estágio, os municípios são selecionados probabilisticamente através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), com base na população de 16 anos ou mais de cada município.
No segundo estágio, são selecionados os conglomerados: setores censitários, com PPT sistemático. A medida de tamanho é a população de 16 anos ou mais residente nos setores.
Finalmente, no terceiro estágio, é selecionado em cada conglomerado um número fixo de habitantes segundo cotas de variáveis descritas abaixo:
SEXO: Masculino e Feminino. GRUPOS DE IDADE: 16-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 e 65 anos e mais. INSTRUÇÃO - Até 4ª série do fund.; 5ª a 8ª série do fund.; Ens. Médio; Superior. ATIVIDADE: Setor de dependência - agricultura, indústria de transformação, indústria de construção, outras indústrias, comércio, prestação de serviços, transporte e comunicação, atividade social, administração pública, outras atividades, estudantes e inativos.
FONTES DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DA AMOSTRA: Censo 2010.
O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

November 2013 Vol. 19, nº 2
CONTENTS
Pág.
1. Persistence and change in an old party democracy – Uruguay (1910-2010)
2. Jorge Lanzaro
235
The spatial dimension of Brazilian elections
Thiago Marzagão
270
Political sophistication and public opinion in Brazil: revisiting some classical hypotheses
Frederico Batista Pereira
291
The affection of citizens by the ill-famed politicians: identifying profiles associated with the acceptance of the slogan ‘he
steals, but get things done’ in Brazil
Robert Bonifácio
320
The one who knocks the door of a House always disregarded, thinks what? Perceptions and orientations among visitors
to the Brazilian National Congress
Ana Lúcia Henrique
346
Impact of the civic education on political knowledge: the experience of the Young Parliament of Minas Gerais Program
Thiago Sampaio
Marina Siqueira
380
An empirical evaluation of electoral competition in Brazilian proportional elections
Glauco Peres da Silva
403
Determinants of political career patterns among São Paulo’s federal deputies from 49th (1991-1995) through 53rd (2007-
2011) legislatures
Wagner Pralon Marcuso
430
The Power in the Executive Branch: an analysis of the role of the presidency and ministries in Brazilian coalitional
presidentialism (1995-2010)
Mariana Batista
449
TENDÊNCIAS Data Report: Protests in Brazil
Editors of ”Opinião Pública”
475
OPINIÃO PÚBLICA
Campinas
Vol. 19, nº 2 p.235-485
November 2013
ISSN 0104-6276
ISSN 0104-6276

cesop